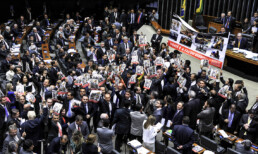Valor Econômico
Ribamar Oliveira: Aumento da isenção do IR vai custar bilhões
Não está claro como a medida será compensada
O programa de governo do candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, prevê a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até cinco salários mínimos por mês, o que, em 2019, corresponderá a algo em torno de R$ 5 mil. O candidato ainda não apresentou a estimativa para o custo fiscal da medida, mas um estudo feito pela área econômica do governo no ano passado mostrou que apenas dobrar o atual limite de isenção do IR (que é de R$ 1.903,98) levaria a uma perda de arrecadação entre R$ 28 bilhões e R$ 73 bilhões, dependendo das regras a serem adotadas para as diversas faixas do IR e para as deduções.
A razão de tamanha perda de renda é explicada pelo fato de que a taxação do IR é progressiva. O aumento da faixa de isenção irá beneficiar todos os contribuintes, até os mais ricos, pois a primeira alíquota de 7,5% incide sobre a renda que ultrapassa o limite não tributado.
O estudo da área econômica, ao qual o Valor teve acesso, conclui que o benefício dado ao grupo de renda mais baixa seria ilusório, pois ele já não paga ou paga quase nada de IRPF. O ganho maior será capturado pelas famílias que recebem dez salários mínimos ou mais.
Os técnicos da área econômica analisaram uma proposta de passar o limite de isenção de R$ 1.903,98 para R$ 3.807,96 - ou seja, dobrar o valor (cerca de quatro salários mínimos do ano passado). No primeiro cenário, além do aumento da isenção, os técnicos consideraram a duplicação das deduções com dependente, do limite anual da despesa com instrução e do limite anual referente ao desconto simplificado.
Esse cenário é o mais alinhado com as alterações realizadas pela Receita Federal nos últimos anos, no qual se alteraram as faixas e as deduções pelo mesmo percentual. Sob essas hipóteses, a renúncia fiscal atingiria o montante de R$ 73 bilhões por ano. Haveria um salto do número de isentos de 8,8 milhões de contribuintes para 20,4 milhões. As simulações do estudo foram realizadas com base nos dados das declarações do IRPF de 2016, ano base 2015.
No segundo cenário, os técnicos consideraram que as faixas de rendimento atuais acompanhariam a duplicação da faixa de isenção, sendo também duplicadas. Mas, neste caso, os limites das deduções permaneceriam nos níveis atuais. Neste caso, a renúncia cairia para R$ 65 bilhões e o número de contribuintes isentos passaria de 8,8 milhões para 19,9 milhões.
No terceiro e último cenário, os técnicos consideraram que as três primeiras faixas da tabela atual seriam consolidadas e não haveria correção dos limites de deduções. Com isso, rendimentos mensais de até R$ 3.751,05 (que atualmente é o limite de renda para a incidência da alíquota de 15%) teriam alíquota zero. Ou seja, os contribuintes que atualmente estão sujeitos às alíquotas de 7,5% e de 15% passariam à alíquota zero.
A alíquota atual de 22,5% incidiria na faixa de renda de R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68, com parcela a deduzir de R$ 843,99; e outra de 27,5%, que incidiria sobre a renda superior a R$ 4.664,68, com parcela a deduzir de R$ 1.077,22. As hipóteses foram consideradas pelos técnicos para reduzir a perda fiscal. Mas este cenário gera uma mudança brusca na aplicação da alíquota do IR. O indivíduo que receba R$ 3.751,05 por mês estaria isento, enquanto outro que receber R$ 4 mil estaria submetido a uma alíquota de 22,5%. Os técnicos dizem que variação brusca de alíquota, de 0% para 22,5%, pode gerar incentivos ruins, principalmente para aqueles que estão acima da faixa de isenção, como evasão fiscal e acordos de trabalho informais.
Em 2015, o Brasil possuía apenas 27,7 milhões de declarantes do IRPF para uma população de aproximadamente 204 milhões de pessoas. Do universo de declarantes, 8,8 milhões eram isentos, ou seja, 32% estavam na faixa da alíquota zero. Assim, somente 18,8 milhões pagavam IRPF, o que corresponde a 20% da população ocupada, de 92 milhões de pessoas.
Os técnicos informaram que 92% de toda a receita do IRPF é paga pelos 10% mais ricos da população. Mais da metade dos declarantes (60%) está nas faixas de renda de até cinco salários mínimos, porém, segundo o estudo, estes representam menos de 2% do total do Imposto de Renda arrecadado.
A conclusão do estudo é que o ganho com o aumento da isenção, dado à população de renda de até quatro salários mínimos, seria ilusório, pois esse grupo ou não paga ou paga muito pouco IRPF. O ganho maior seria capturado pelas famílias que recebem dez salários mínimos ou mais, visto que suas alíquotas efetivas são maiores e crescentes. Os técnicos explicam que o reajuste da tabela com "efeito cascata" e o eventual reajuste dos limites de isenção vão beneficiar justamente as famílias mais ricas.
O custo fiscal da elevação do limite de isenção do IRPF teria que ser compensado para não provocar um desequilíbrio ainda maior nas finanças públicas, que registram déficit primário desde 2014. Ainda não está claro na proposta do candidato do PT como a perda de receita será compensada. Mas, é óbvio, que alguém vai pagar a conta. Provavelmente, as alíquotas do IR para as rendas acima do limite de isenção serão elevadas.
Reforma tributária
Dez entre dez candidatos à Presidência da Republica garantem que farão uma reforma do sistema tributário brasileiro. Eles precisam ficar atentos, no entanto, ao alerta feito pelo economista José Roberto Afonso e pela advogada Lais Khaled Porto, em recente artigo para a revista "Conjuntura Econômica". Eles consideram terrivelmente desafiador redesenhar um sistema frente a mudanças estruturais na economia que ainda estão em curso, de forma rápida e drástica, e muitas ainda nem começaram.
"Ninguém tem a menor certeza hoje de quais serão os impostos mais apropriados para se exigir no futuro, porém, crescem os indícios de que muitos dos atuais tributos se tornarão obsoletos ou impensáveis", advertem.
Afonso e Lais Porto afirmam que se deve buscar a tributação das novas transações, notadamente daquilo que tem crescente valor econômico atualmente, embora de difícil mensuração: o capital intelectual ou intangível - dos frutos do conhecimento aplicado (como a propriedade intelectual) aos softwares e bens virtuais. "E não se vislumbram maneiras eficientes de se fazer isso dentro do atual sistema", afirmam.
Angela Bittencourt: Com "esquerda" na mira, mercado avalia riscos
Volpon alerta para necessária agenda de crescimento
A eleição presidencial ganha complexidade a exatas três semanas do 1º turno de votação. Jair Bolsonaro (PSL) deve ter seu favoritismo confirmado pelas pesquisas de escopo nacional CNT/MDA e Ibope, que serão divulgadas hoje e amanhã, e deixa de ser uma "questão" a ser discutida neste momento. Sua posição está consolidada. Para o 1º turno.
Hospitalizado, mas deixando a UTI ontem, Bolsonaro, apresentado em análises de bancos internacionais a grandes investidores como sendo de "direita" ou "extrema direita", já não se resguarda dos holofotes. Ontem circulava nas redes sociais um vídeo do deputado em sessão de fisioterapia e dando alguns passos. Nesta segunda, as atenções devem se voltar para o seu concorrente imediato. O empate nas intenções de voto de Fernando Haddad (PT) e Ciro Gomes (PDT), revelado pela pesquisa Datafolha na sexta, sugere uma disputa a ser travada no campo da esquerda.
As sondagens MDA e Ibope poderão confirmar quem, entre eles, leva vantagem ou se o empate prossegue. Seja qual for o resultado dessas pesquisas quanto a Haddad e Ciro, os investidores e também os especuladores poderão, mais uma vez, comprar ou vender ativos para ganho rápido.
Reposicionamento mais firme especialmente de bancos será postergado para a última semana do mês, que é quando altos executivos do sistema financeiro esperam ocorrer a transferência e a consolidação para Geraldo Alckmin (PSDB) de votos atualmente destinados a João Amoêdo (Novo) e Alvaro Dias (Pode).
Cresce a expectativa de que as transferências finais de voto assegurem ao tucano a vaga para disputar o 2º turno com Jair Bolsonaro. Se Alckmin não decolar, o voto útil contra a esquerda já tem dono: o capitão do PSL.
Os movimentos no câmbio - idioma universal dos mercados - tendem a ser intensificados portanto. E, dada a interação entre os preços fundamentais da economia, a formação das taxas de juros - sobretudo em prazos mais longos - possivelmente indicará um futuro assustador.
"O mercado procura um preço para o incerto", explica Adeodato Netto, estrategista-chefe da Eleven Financial. "O mercado tem medo do escuro. E o escuro hoje significa entender e avaliar qual é a chance de ocorrer uma ruptura no cenário econômico nacional, no modelo de gestão das contas públicas, na definição de contratos e na funcionalidade do sistema como um todo."
Com propriedade, o executivo descreve, em entrevista à coluna, que ao menos parte da histeria que domina os mercados durante ciclos eleitorais se deve à característica intervencionista presente em discursos populistas de candidatos. "Ainda que apenas sugerido, o intervencionismo é fiador de gestão inconsequente de recursos públicos. E essa percepção realimenta a histeria."
Adeodato faz uma ponderação: "Se as expectativas do mercado são frustradas, não será por que estão erradas? O mercado trabalha com dólar acima de R$ 4,20 e juro de dez anos de 13%, simplesmente o dobro da taxa Selic vigente. Esse cenário é razoável?"
E avalia que tentar perpetuar a realidade de um processo pré-eleitoral é um erro estrutural desmedido. "Por maior que seja a incerteza, não dá para subverter a realidade até porque não há padronização de condições e da capacidade individual dos agentes de absorver riscos. Neste momento, falta racionalidade aos mercados."
Uma leitura do movimento no mercado de câmbio feita pela coluna sugere que há uma distância entre mensagens que podem ser depreendidas da mobilização de investidores e a realidade dos fatos. Uma preocupação pré-eleitoral não necessariamente vai fazer "preço" ao longo de um ano.
Estatísticas oficiais sobre fluxo de capital estrangeiro apontam também que a gestão temerária de um governo pode produzir impacto tão ou mais relevante do que a mera especulação financeira. Repercussões negativas de decisões de governo consideradas duvidosas pelos mercados podem se mostrar persistentes e interferir na taxa de câmbio e na formação de expectativas sobre oferta e demanda de capital que poderia, por exemplo, financiar projetos de investimentos.
Desconsiderando as transações comerciais, o movimento de câmbio no Brasil via conta financeira mostra que a oferta de recursos é sensível ao agravamento de expectativas com cenários políticos, mas também é sensível às perspectivas de crescimento econômico. "Essa é uma das razões pelas quais se espera que o futuro presidente, seja quem for, tenha à mão uma agenda de propostas voltadas ao crescimento", afirma o ex-diretor do Banco Central Tony Volpon, economista-chefe do UBS Brasil.
Volpon, que projeta aumento da Selic nas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) de outubro e dezembro, atribui à sua avaliação sobre a Selic não só um caráter operacional ou de sinalização de que o BC segue comprometido com a meta de inflação. "Nosso call de juro tem um apelo institucional. Passado o segundo turno, o governo estará em transição. O compromisso com o regime de metas é parte de um conjunto de escolhas concretas que deverão ser feitas pelo futuro presidente e sua equipe. Estamos há quatro anos com déficit primário. Questões terão de ser encaminhadas, e os ajustes, numa visão consolidada, deverão sinalizar ao mercado que há horizonte e que não é para o dia seguinte."
Ele explica que a perspectiva de horizonte é necessária, inclusive, porque, ao contrário do que se vê na Argentina, os financiadores da dívida do país são sobretudo brasileiros. "Na Argentina são basicamente estrangeiros que podem mudar muito rapidamente de posição a depender das condições globais. Aqui, se nada for feito, nossos financiadores podem se voltar ao exterior e não há impedimento legal para isso."
Apesar dessa característica de financiamento, o levantamento feito pela coluna mostra que cerca de US$ 120 bilhões deixaram o Brasil pela conta financeira em três anos: US$ 16 bilhões em 2015, US$ 51,5 bilhões em 2016 e US$ 52,3 bilhões em 2017. Neste ano, de janeiro a 6 de setembro, segundo dados do BC, a conta financeira está negativa em US$ 13,3 bilhões. Em média mensal, as saídas líquidas despencaram de US$ 4,3 bilhões em 2017 para US$ 1,7 bilhão em 2018.
André Lara Resende: Do consumismo à civilidade
Neste início de século XXI, já deveria estar claro que crescimento do consumo não pode mais ser principal indicador de sucesso econômico e social
"Os grandes problemas não têm solução definitiva, apenas circunstanciais, requerem a busca permanente de respostas." Alexis de Tocqueville
A questão de como organizar a sociedade e o convívio exige a busca perpétua por novas respostas. Ao mesmo tempo, a obsessão com a conjuntura faz com que as circunstâncias pareçam intransponíveis. A poucos meses das eleições, com o país imerso numa grave crise econômica, política e moral, o debate parece bloqueado, vítima da obsessão conjuntural.
A incapacidade de transcender a conjuntura, de imaginar além das circunstâncias, provoca duas reações opostas. A primeira é a particularização, a tendência a confundir algum aspecto específico da crise com a própria crise. A segunda é a generalização, a tentação de atribuir a crise ao todo. A obsessão fiscalista é exemplo da tendência à particularização. A apatia e a radicalização antidemocrática são exemplos da tendência à generalização.
O desequilíbrio fiscal e o crescimento insustentável da dívida pública são problemas graves. Precisam ser enfrentados o quanto antes, mas é ilusão achar que é possível resolvê-los com uma camisa de força legal ou constitucional, sem desmontar as forças corporativistas que capturaram o Estado. A apropriação de fatias da renda nacional, através de dispositivos legais que direcionam renda para interesses cartoriais ou patrimonialistas, é o verdadeiro problema a ser enfrentado. A solução não virá de mais regras, exige mudança de hábitos e atitudes. Exige olhar além da conjuntura.
A crise da democracia representativa é real e não é exclusividade nossa, mas não pode servir para justificar o sentimento de rejeição generalizada à política e às instituições. É a interpretação desesperada da crise conjuntural como a falência social e institucional que leva à radicalização e acende a tentação populista. A tentação de rejeitar a democracia, acusada de ter sido capturada pelas elites, e de flertar com o autoritarismo.
A reação particularizante é formalista e reformista. Associa a crise a algum aspecto institucional específico e acredita que a sua revisão é condição, necessária e suficiente, para a superação da crise. A incapacidade de ver além das circunstâncias faz com que a mentalidade reformista esteja sempre atrasada em relação à realidade. Incapaz de se antecipar, está sempre em busca de reformas anacrônicas, de revisões legais e institucionais voltadas para o passado. A mentalidade generalizante é redutora e irracional. Vê na crise um sinal de falência sistêmica. Atribui responsabilidade às forças estabelecidas, às elites, à tecnocracia, à tecnologia e à internacionalização. Sua proposta é uma volta simplificadora às origens. Daí a sua identificação populista.
O desafio contemporâneo, o grande problema do país hoje, é entender a razão pela qual chegamos ao século XXI sem ter superado a pobreza e socialmente dividido. Profundamente despreparado para reconciliar os desafios da nova revolução tecnológica, da economia digital, com as necessidades humanas permanentes de uma vida em comum e em segurança.
Durante a segunda metade do século passado, duas correntes de pensamento se contrapunham como forças inspiradoras da formulação de políticas públicas: o nacional desenvolvimentismo e o liberalismo tecnocrático. A discordância, essencialmente sobre o papel do Estado empresário e sobre o grau de abertura comercial, não impedia que o objetivo fosse o mesmo: elevar o padrão de consumo da população, reduzir a desigualdade e recuperar o atraso em relação aos países desenvolvidos.
Neste início de século XXI, já deveria estar claro que crescimento do consumo não pode mais ser considerado o principal indicador de sucesso econômico e social. O padrão de consumo da classe média americana da segunda metade do século XX não pode ser tomado como referência. Não pode ser generalizado para um mundo superpovoado, que ameaça perigosamente o equilíbrio ecológico. O ideal consumista revelou-se uma vitória de Pirro. Como parecem ter se dado conta os brasileiros que foram às ruas protestar em 2013, a vida da classe média urbana de hoje nada tem a ver com a da publicidade consumista da segunda metade do século passado. A realidade é muito diferente: criminalidade, falta de transporte público, saúde e educação de má qualidade, longas horas para se deslocar para o trabalho, falta de tempo para os filhos e a família. Parece ser a fórmula da frustração: deparar-se com o estresse da vida urbana empobrecida, no lugar da qualidade de vida prometida.
Todo momento é de transição, mas alguns o são mais do que os outros. São momentos em que é preciso reorganizar as ideias e rever os objetivos. São momentos onde o apego aos esquemas conhecidos é particularmente perigoso. Este início de século é um desses momentos. Preso a concepções anacrônicas, perplexos diante do impasse, a tentação é de radicalizar e atribuir a incapacidade de resolver os novos problemas ao fato de que as velhas soluções não tenham sido adotadas. É o que leva por um lado, ao clamor por um "laissez-faire" radical na economia e, por outro lado, ao questionamento do liberalismo democrático. As duas vertentes do radicalismo anacrônico se encontram na defesa de um Estado autoritário.
O jovem aristocrata francês Alexis de Tocqueville chegou aos Estados Unidos, na primeira metade do século XIX, oficialmente para fazer uma pesquisa sobre o sistema penitenciário, mas verdadeiramente interessado em entender um país onde a democracia não fora precedida por uma ruptura, como havia acontecido no seu país, mas brotara naturalmente na organização da sociedade. Sua impressão inicial foi de perplexidade diante da aparente instabilidade da sociedade que encontrou. Os americanos lhe pareceram descuidados e impacientes, sem "nenhum senso de continuidade e de durabilidade". A política lhe pareceu instável e os políticos sem qualquer sentido de propósito.
As observações de Tocqueville sobre a sociedade americana, assim como suas reflexões sobre a democracia, revelam um observador arguto e sensível, um filósofo social do mais alto calibre. Quase dois séculos depois, quando a democracia representativa volta a ser questionada, as reflexões de Tocqueville revelam-se impressionantemente oportunas. Sempre muito citado, o seu "A Democracia na América" deveria ser leitura obrigatória.
Para Tocqueville, enquanto os defeitos da democracia saltam aos olhos, suas qualidades só se revelam com o tempo. A balbúrdia das sociedades democráticas ilude. Na superfície, dá impressão de uma sucessão de crises desconectadas, sem rumo definido. Parece extremamente frágil, mas é exatamente a sua flexibilidade, a sua capacidade de adaptação às mudanças, que lhe dá resiliência e uma grande vantagem no longo prazo. A democracia precisa de tempo para consolidar as instituições e os costumes.
Eleições não bastam. A democracia bem-sucedida, entendida como todos iguais em termos de direitos e deveres, não se cria com atos administrativos, leis ou instituições. É fruto dos hábitos e costumes, do sentido de comunidade, da confiança no concidadão desconhecido, que constroem um capital cívico. O capital cívico democrático precede as leis e as instituições. Crer que as leis e as instituições podem dispensar a vida pública, o sentido de comunidade e a civilidade, é um equívoco recorrente, no qual a nossa mentalidade formalista é especialmente dada a incidir.
A sociedade democrática não é a que dá expressão legal a reinvindicações incondicionais, a "direitos" de grupos organizados. É aquela que garante a autonomia individual, inserida numa rede de obrigações recíprocas. Tocqueville viu no desinteresse pela vida pública, na propensão a ceder ao Estado e ao legislador áreas crescentes de influência sobre a vida e liberdade, o grande risco da democracia. Suas observações parecem antever o desinteresse pela vida pública, o Estado patrimonialista e cartorial, capturado por interesses organizados das democracias contemporâneas.
É preciso escapar da armadilha da obsessão pela conjuntura e superar o consumismo anacrônico. É preciso usar o farol alto no debate. A civilidade deve ser o objetivo primordial das políticas públicas, com a revalorização da vida em comum e da política. Revalorização que só poderá ser feita pelo exemplo, pela consciência de que os que ocupam cargos públicos, representantes eleitos ou servidores, não estão acima dos demais, mas a serviço da sociedade. O turbilhão conjuntural não pode obscurecer a busca pela consolidação de uma sociedade verdadeiramente democrática onde, para todos, a vida valha a pena ser vivida.
*André Lara Resende é economista
Rosângela Bittar: A fratura do DEM
Uma vez vitorioso, Ciro vai se jogar nos braços do PT
O DEM voltou à situação emocional de duas eleições passadas, quando o deputado Rodrigo Maia (RJ) cruzou longas distâncias, expondo-se nacionalmente, para exigir, do candidato a presidente José Serra (PSDB), em campanha em São Paulo, uma definição sobre o candidato a vice, sobre os espaços do partido, sobre as relações políticas, angustiados que estavam com os silêncios pré-eleitorais de Serra num momento em que os partidos tinham que definir alianças.
Abalado também estava o DEM por um esfacelamento político, com a saída de muitos e as derrotas eleitorais. E a fúria destrutiva do ex-presidente Lula, que prometeu acabar com o então PFL e conseguiu.
A situação hoje é outra, o DEM se fortaleceu um pouco por obra exatamente da presidência da Câmara exercida por Rodrigo Maia, mas não ao ponto de evitar uma divisão drástica em torno de quem apoiar entre os candidatos a presidente da República.
Há uma variedade de opções, nesses tempos modernos em que não são as afinidades ideológicas que unem as legendas. Onyx Lorenzoni (RS) e Alberto Fraga (DF) escolheram apoiar Jair Bolsonaro; o presidente do partido ACM Neto, o lider no Senado José Agripino Maia, não por acaso políticos com domicílio eleitoral no Nordeste, escolheram Ciro Gomes. A maioria da bancada da Câmara está com Geraldo Alckmin, mas o também nordestino Mendonça Filho, leva o DEM pernambucano para Alckmin.
E há indefinidos em todas as facções.
A situação em Minas Gerais, por exemplo, que estava praticamente resolvida, deu para trás: Rodrigo Pacheco, neo-DEM e ex-MDB, que presidiu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nas denúncias contra Michel Temer, resolveu ser candidato a governador. O partido se encaminhava para uma aliança com Alckmin, mas o candidato a governador do PSDB, em Minas, é Antonio Anastasia. O candidato a presidente de Fernando Pimentel (PT) é Fernando Haddad. Nesses dois partidos não tem lugar para Pacheco. Só está sobrando Ciro Gomes sem um palanque de governador em Minas. Se o DEM de Minas for para Ciro Gomes, será uma mexida de peso no cenário das alianças.
Outros diretórios importantes, como o de São Paulo, ainda podem reforçar essa opção, mas a disputa pela aliança está desequilibrada e o presidente do partido não se sentiu seguro ainda para arbitrar ou definir logo para onde vai o DEM.
O impasse repetido deve-se à falta de liderança, segundo as avaliações internas. Não surgiram novos nomes fortes desde que houve a debandada e o ex-presidente Lula decretou que iria acabar com o então PFL, depois rebatizado de Democratas, impedindo a reeleição de vários políticos tradicionais do Nordeste que lideravam o partido.
Agora o DEM é visto como um partido forte porque tem o presidente da Câmara, sua bancada cresceu, mas apresenta-se com evidentes sinais de fraqueza. Para começar, tem seu destino atrelado a siglas que despertam pouca admiração no Parlamento, como o PP, de Ciro Nogueira, e outros expoentes do Centrão que se reuniram em volta de Rodrigo Maia. A recuperação das bancadas não foi acompanhada pelo surgimento de nomes de comando como os que já teve: Jorge Bornhausen, Marco Maciel, ACM e Luis Eduardo Magalhães, entre outros participantes do grupo que se aliou a Fernando Henrique Cardoso e venceu duas eleições presidenciais, ganhando de Lula, que iniciava seu crescimento, no primeiro turno.
As lideranças de hoje pensam pequeno, na análise das correntes divergentes da cúpula. Só querem tratar do seu mundo político regional. Por exemplo: ACM Neto quer apoiar Ciro Gomes não porque seria o melhor presidente para o Brasil, mas porque tem mais chance de vencer, segundo as pesquisas de hoje. Tendo perdido o governo baiano para o PT, novamente, se vitorioso o atual governador Rui Costa, Neto olharia a derrota por cima do poder federal que ganharia com Ciro.
Os alertas não têm encontrado eco na presidência do partido. E eles são, primeiro, que muitos querem o Ciro pensando em Cid, seu irmão, que poderia lhe dar equilibrio e calma para estabelecer uma aliança política. O problema é que Cid não é candidato e também saiu do governo Dilma, onde ocupava o Ministério da Educação, fazendo muito barulho. O outro é mais arriscado: uma vez eleito, Ciro Gomes se jogaria nos braços do PT e não do DEM. O êxito lhe reduziria a rejeição o que, somada ao seu capital político na vitória e os 30% que o PT tem no eleitorado brasileiro, o tornaria imbatível em disputas posteriores. E o DEM desidrataria novamente.
Quem quer Ciro não aceita discutir apoio a Alckmin, quem quer Bolsonaro - número crescente no partido - também está irredutível. E quem está com Alckmin espera que as coisas se definam para acompanhar a decisão partidária ou sair do partido. A convenção será em 5 de agosto, dentro de 25 dias.
Falha dos astros
O plano dos três deputados advogados filiados ao PT, Wadih Damous (RJ), Paulo Teixeira (SP) e Paulo Pimenta (RS) era mais cinematográfico do que acabou sendo possível, por falha dos astros que protegem a seleção. Se tudo tivesse corrido como queriam, os fatos que movimentaram o fim de semana aconteceriam com o Brasil classificado na Copa, vencendo o jogo contra a Bélgica na sexta-feira, para disputar com a França a semifinal de ontem. Imaginavam que em plena comemoração da vitória, ninguém prestaria atenção a um despacho dado por um plantonista aos dois minutos do recesso do Judiciário.
"Se Lula fosse solto, imagina a dificuldade para frustrar o resultado da operação", diz um especialistas que conhecia os meandros da invenção.
O plano era apresentar escondido o habeas corpus, conseguir escondido a decisão, e o ex-presidente Lula sair escondido da cadeia, dificultando a reação dos opositores diante da situação consumada.
Muitos políticos não estranharam a esperteza dos advogados. Acham que a partir de agora é isso mesmo, o jogo bruto. A maioria da população ainda está sem candidato e nesse lusco-fusco do desconhecido, uma manobra dessas, se tiver êxito, muda completamente a sucessão.
A avaliação no Congresso é que, quanto mais demorar a se definir quem são os candidatos e como se desenvolverá a campanha, mais aparecerão esses artefatos.
Raymundo Costa: A nova aposta do Planalto na sucessão
Na conta de Padilha, Meirelles já tem maioria no MDB
Com 49 deputados e a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados, o PP é a bola da vez na corrida presidencial. O partido é cortejado pelo PSDB de Geraldo Alckmin e pelo PDT de Ciro Gomes, apesar das diferenças ideológicas entre uma e a outra sigla. Agora o MDB do presidenciável Henrique Meirelles também entrou na disputa pelo partido cujas origens remontam à antiga Arena. Meirelles conta com o reforço e o peso do Palácio do Planalto na empreitada.
O pré-candidato Meirelles já teve ao menos uma conversa com o presidente do PP, Ciro Nogueira. Os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Minas e Energia) também entraram no circuito. O PP compõe o núcleo mais conservador do chamado Centrão da Câmara. É o partido mais adaptado ao pacto de governabilidade vigente. Não por acaso sobreviveu - enquanto crescia - a governos tão distintos como foram os do PSDB, PT e MDB.
O PP estava de braços dados com o PT no mensalão, o esquema de compra de votos na Câmara descoberto em 2005. Também é um dos partidos envolvidos mais a fundo no escândalo de desvio de recursos da Petrobras passado a limpo pela Operação Lava-Jato. A sigla já parasitava a estatal quando o deputado Severino Cavalcanti ganhou do PT a presidência da Câmara, em 2005, pouco antes do estouro do mensalão, e pediu a diretoria "que fura poço" para compor com Lula.
No mercado eleitoral, o PP vale os 52 segundos a que tem direito no horário eleitoral gratuito no rádio e televisão. Não é pouco. Apenas o PT, o MDB e o PSDB dispõem de mais tempo no guia eleitoral. PSDB, PSD, PTB, PV e PPS, os partidos que já estão com Alckmin, somam cerca de 2 minutos e 30 segundos de TV; o MDB sozinho tem cerca de 1 minuto e 28 segundos. Meirelles encosta em Alckmin se levar o PP. O PSDB assume uma posição mais confortável, se bater o MDB e o Palácio do Planalto e levar o tempo do PP.
O PP é um partido dividido como os demais. O piauiense Ciro Nogueira é quem dá as cartas, sobretudo no Nordeste, e o contexto regional poderia levá-lo a apoiar o xará do PDT, segundo já confidenciou a mais de um interlocutor. O presidente do PP costuma dizer que Geraldo Alckmin não vence a eleição, por falta de votos, e que Ciro Gomes ficará muito forte na região, se Lula não for candidato. Pelo sim, pelo não, conversa com o MDB. No Sul o partido fica entre o PSDB e uma parte menor com o MDB. Na eleição é provável que cada qual vá para o seu lado. O que importa é com quem ficará o tempo da televisão.
O movimento de Meirelles em direção ao PP não é vazio. A candidatura do ex-ministro avançou e ganhou corpo no MDB. Em vez de esperar pela ação dos caciques que sentam praça em Brasília e mais torciam o nariz do que ajudavam sua candidatura, Meirelles tratou de estabelecer uma ligação direta com os diretórios regionais do partido. O último candidato do MDB foi Orestes Quércia, em 1994. A base do partido sempre quis um nome próprio. A cúpula é que em geral manobrou numa ou outra direção, de acordo com seus interesses.
O pré-candidato do MDB já visitou 15 dos 26 Estados. Em 12 o partido é competitivo nas eleições para governador. No Pará de Jader é favorito a levar no primeiro turno, com Helder Barbalho. Na viagem a Belém, Jader ficou um dia inteiro à disposição do ex-ministro. O ex-presidente José Sarney, que tem um pé no Maranhão e outro no Amapá, telefonou para conversar depois da passagem do ex-ministro pela capital do antigo território.
Difícil assegurar que o ex-ministro está vencendo o descrédito da cúpula. Mas é certo que tirou os figurões do governo da zona de conforto. "Eu aprendo rápido", costuma dizer Meirelles.
Para se tornar o candidato oficial do MDB, o ex-ministro Meirelles precisa passar por convenção nacional, marcada ontem para o dia 4 de agosto pelo presidente do partido, Romero Jucá, um dos dirigentes que costumam cobrar desempenho do candidato. Publicamente. Provavelmente será no fim de julho. Pelos cálculos de Eliseu Padilha, um especialista na contabilidade de votos do MDB, Meirelles já teria confirmados 443 dos 629 votos dos convencionais.
A cereja no bolo de Meirelles pode ser o PP. Além dele próprio, os ministros mais próximos do presidente Michel Temer entraram na campanha e passaram a ser vistos com mais frequência na Fundação Ulysses Guimarães, o QG provisório da candidatura de Henrique Meirelles. O governo pode não aparecer à frente, mas estará na retaguarda de Meirelles, quando e se ele for confirmado como candidato do MDB.
Um convescote no Palácio do Jaburu que reuniu João Doria e o pré-candidato do MDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf, aparentemente foi a última tentativa de setores do Planalto para tentar trocar Geraldo Alckmin por João Doria como candidato do PSDB. Ao menos por enquanto. Doria foi à reunião atendendo convite de Skaf. Para ser educado e para não fechar uma porta para o segundo turno. O ex-prefeito já não tem o Planalto como referência.
A investida de Meirelles sobre o PP atrapalha sobretudo os planos de Geraldo Alckmin, que esperava levar o DEM, o PP e o Solidariedade num balaio só para sua coligação presidencial. Se Alckmin conseguir mais os três partidos para sua aliança, o candidato a vice-presidente na chapa será o ex-ministro Aldo Rebelo. Atualmente o PSDB conta com o apoio de quatro partidos e tem algo em torno de 20% do horário na TV, segundo cálculos do próprio Alckmin. O objetivo é chegar a pelo menos 35% do guia eleitoral. O DEM cozinha o PSDB para tirar o máximo de Alckmin: a vaga de vice na chapa, a presidência da Câmara dos Deputados e ministérios importantes no eventual retorno dos tucanos à Presidência.
O PP também não se contenta só com a vice de João Doria em São Paulo, mas tem sido um partido mais reservado ideologicamente, enquanto o DEM acena publicamente e ao mesmo tempo para agendas tão distintas como a de Ciro Gomes e o PDT e a de Geraldo Alckmin e o PSDB. Se fizer um acordo com o MDB, o PP realiza um antigo sonho do Planalto de constituir uma coligação capaz de competir pelos votos da direita com Jair Bolsonaro (PSL) na sucessão.
Rosângela Bittar: Super nicho verde-oliva
A cabeça do eleitor de Bolsonaro, segundo a XP
Os números não mentem. Do eleitorado do deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato do PSL à Presidência da República, precisamente 63% defendem uma intervenção militar no governo. Logo atrás de Bolsonaro, com 38%, estão os brasileiros em geral. Não é pouca coisa, basta ver o número de indecisos que somam o mesmo percentual: 38%. Bem abaixo vêm os eleitores dos demais candidatos que também desejam manifestação de força para conquistar o Palácio do Planalto: Geraldo Alckmin (37%), Marina Silva (35%), Álvaro Dias (32%), Lula (27%) e Ciro Gomes (24%). Ou seja, o ponto fora da média é mesmo o candidato-capitão, como mostra a última pesquisa semanal da XP, feita pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) que, pela primeira vez, introduziu grandes temas polêmicos, de interesse da sociedade e cruzou as respostas com os candidatos preferidos de cada eleitor.
Dessa vez foram feitas mil entrevistas, por telefone, no período de 18 a 20 de junho, com margem de erro de três pontos e, pela primeira vez entre as cinco rodadas já realizadas, abordando assuntos tabus para candidatos. A pesquisa reune opiniões dentro do conjunto do eleitorado e entre os eleitores de cada um dos candidatos.
É claro que, por introduzir a opinião do eleitorado sobre temas controvertidos, a pesquisa apresenta não apenas essa, da intervenção militar, mas outras revelações importantes. Um exemplo é a pena de morte: nada menos do que 66% do eleitorado de Jair Bolsonaro são favoráveis ao carrasco. No que diz respeito ao direito de ter e portar armas, 74% do eleitor de Bolsonaro se declara também a favor. Mais de dois terços, portanto. No caso da união civil entre pessoas do mesmo sexo o percentual de aprovação é menor, mas igualmente alto: 57% do eleitorado. A redução da idade penal para 16 anos conta com o apoio de 95% do eleitorado de Bolsonaro.
Os demais ficam na média nacional, mas há temas em que Marina Silva e Ciro Gomes estão na frente, como: Legalização da maconha (39% do eleitorado de Ciro e 24% do eleitorado da Marina estão a favor, são os dois índices mais altos); ou casamento entre pessoas do mesmo sexo (63% do eleitorado de Ciro estão a favor e 53% do eleitorado da Marina também, tema tabu para a religião dela, mas aqui se inicia outra história, que não vem agora ao caso, voltemos a Bolsonaro). Seus eleitores defendem as privatizações (49%); a intervenção do governo na economia (52%); a reforma da Previdência (49%). Embora abaixo dos 50%, esses percentuais são mais altos que o dos eleitores que são contrários aos temas.
Mas o que chama a atenção, realmente, é a defesa da intervenção militar, em um momento delicado, quando ninguém ainda entendeu as sucessivas reuniões do general Villas Bôas, comandante do Exército, com os candidatos a Presidente, convidados a ir ao seu encontro o que, em se tratando de quem é, tem o tom de intimação. O candidato visto como um representante dos militares já anunciou, também, que seu governo será majoritariamente formado por profissionais das Forças Armadas. E, um terceiro sinal, as candidaturas de militares a mandatos do legislativo se multiplicam pelo Brasil.
É um nicho do candidato Jair Bolsonaro. Um super nicho verde-oliva.
Os militares tentaram, algumas vezes, desconversar. Há poucos meses, integrantes do Alto Comando, para tranquilizar seus interlocutores preocupados com a escalada de Bolsonaro e sua ligação fraterna com a caserna, disseram que não se devia temê-lo, o certo era considerá-lo uma caricatura. De lá para cá, a caricatura se aprumou e começou-se a vislumbrar, com ele, uma chance de volta dos militares ao poder político.
O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, também candidato a presidente da República pelo SD, recomenda que se esqueça essa hipótese, a da volta dos militares, ou de estar ocorrendo no país uma conspiração em torno da candidatura de Jair Bolsonaro. Também não vê nada de estranho no convite do general Villas Boas aos candidatos para uma conversa no QG do Exército. "O que ele quer é apenas que não esqueçam a agenda dos militares". Qual é essa agenda? O ex-ministro explica: "é a agenda do orçamento das Forças Armadas, a agenda da presença deles na vida do país".
Qualquer outra coisa não teria ressonância. "Alguém está ouvindo a OAB pedir um golpe? Ou a CNBB pedir um golpe? A Fiesp está pedindo golpe? Esqueça".
A pesquisa XP confirma pesquisas Datafolha, de setembro do ano passado e de abril deste ano, que vinham apontando o crescimento do número de brasileiros que acham boa a ditadura militar (17%) e os que acham que tanto faz ditadura como democracia (21%). Eram, portanto, 38% os que pensavam dessa forma. Na pesquisa XP, a análise dos números globais mostra que também são 38% os que se manifestam a favor de uma intervenção militar. Serão os mesmos?
Na conclusão do sociólogo e cientista político Antonio Lavareda, os números revelam o seguinte: "38 % é um tamanho francamente insuficiente para ganhar o segundo turno, mas mais que o necessário para ir ao segundo turno". Ou seja, Bolsonaro estaria no segundo turno, resta saber com quem.
Ele, provavelmente, deve preferir um candidato de esquerda, identificado, se possível com o PT, para jogar com o contraponto e a rejeição de 60% ao partido e a Lula.
Com uma maioria anti-petista, a vitória poderia ir mais facilmente ao encontro de Bolsonaro. Se não for, a luta de Bolsonaro ficará mais difícil, pois a pesquisa semanal mostra que, no segundo turno, os candidatos competitivos disputam voto a voto com Bolsonaro, qualquer campanha bem sucedida pode ultrapassá-lo.
Essa pesquisa apresenta três cenários possíveis mas apenas um provável. O mais realista é o que considera Fernando Haddad como indicado de Lula. (Os outros dois, irreais, são Lula candidato ou Haddad por ele mesmo, sem Lula).
No cenário realista, os que não votam em ninguém somam o maior índice da disputa, 24%; em seguida vem Jair Bolsonaro com 19%, Haddad apoiado por Lula com 12%. Marina com 11%, Ciro e Alckmin com 8% cada. Desconhecido, Fernando Haddad tende a crescer à medida em que for aparecendo na TV, em propaganda eleitoral gratuita.
Rosângela Bittar: Toffoli governará com o colegiado
Existem várias divisões no STF, se olhar além da Lava-Jato
É como implicar com a modelagem feita por especialistas no cabelo do Neymar: aquelas ondas descoloridas na ponta não lhe tiram um pingo da força do chute, ao contrário, não se pode negar que ficou bonito, além do fato de que os brasileiros gostam de parecer os louros europeus do "football". Não se deve valorizar em demasia o currículo do ministro Antonio Dias Toffoli, o que se faz para depreciá-lo, enfatizando, como se tem feito desde que assumiu uma cadeira do Supremo Tribunal Federal, à exaustão, o fato de ter sido reprovado em dois concursos públicos.
Isso é o passado. O presente é que o ministro está no lugar certo na hora certa: em setembro assumirá a presidência do STF, para onde foi indicado pelo governo, sabatinado pelo Senado e nomeado por Lula. Seu direito de presidir um Poder da República está intacto e, como tal, pode ser o terceiro na linha sucessória do presidente da República.
Toffoli tem se abrigado muito bem no silêncio. Não quer sentar-se na cadeira de presidente do STF antes da hora pois, apesar de ser sua por convenção e estatuto, a liderança da Corte tem que passar por alguns formalismos, como uma eleição com votos dos ministros.
Faltam menos de três meses para assumir o cargo que lhe cabe por rodízio, sendo vice-presidente, mas se recusa a antecipar planos, opiniões, considerações ou mudanças que imprimirá ao funcionamento da Corte. "Vice não fala, vice não opina, vice tem apenas que ter juízo", diz, para recusar entrevista. Discrição que vem administrando há mais de um ano, e bem pois não se ouvem controvérsias em torno de suas opiniões mundanas, fora dos artigos e incisos.
É difícil, mas não foi impossível, reunir fragmentos de conversas prospectivas com colegas e auxiliares em que já deixou antever um pouco mais do que pensa sobre o funcionamento do Supremo.
Assim, se sabe que Toffoli prepara uma mudança de mecanismos e procedimentos que, sendo aparentemente superficiais e meramente administrativos, podem se revelar inovadores.
Gostaria, por exemplo, que o STF funcionasse como um colegiado mesmo, abolindo decisões de cima para baixo, de seu presidente, para tomar caminhos que todos achem adequados.
Isso significa, por exemplo, que não terão mais lugar na Corte os pitos que o ministro Luís Roberto Barroso tem dado aos seus pares, como acabou de fazer no caso de seu voto vencido na questão da condução coercitiva. A pretexto de defender a Lava-Jato, Barroso explicou a decisão da Corte como sendo uma "manifestação simbólica daqueles que são contra o aprofundamento das investigações". Para, em seguida, acrescentar o oposto sobre a mesma decisão: "A condução coercitiva era uma nota de pé de página nesse contexto, portanto não acho que essa mudança seja relevante Acho que foi mais uma manifestação simbólica daqueles que são contra o aprofundamento das investigações", disse durante o seminário "E agora, Brasil?", realizado por "O Globo". E a alfinetada, conclusiva, segundo reportagem de Marcos Grillo e Miguel Caballero: "Essa votação teve só um papel simbólico que, por seis votos a cinco, de certa forma, se enviou uma mensagem de menos apoio a esse processo de transformação do Brasil".
Ou seja, em minoria, desta vez, uma raridade nos últimos tempos, Barroso inconformou-se e desancou a maioria, a seu ver, conservadora.
Com tão notória divisão será um pandemônio a administração da Corte pelo sistema colegiado. O futuro presidente Dias Toffoli, quando precisou definir-se sobre o desequilíbrio entre as duas forças do STF, recusou a existência do racha. Ao responder dias desses sobre de que lado se colocava entre os dois times o ministro driblou a casca de banana. Disse que a divisão não existe.
Isso é culpa da especulação de quem? Da imprensa! A tese de Toffoli é que há quatro anos a imprensa só tem olhos para a Lava-Jato, e só reporta a convicção dos ministros nas decisões sobre a operação de combate à corrupção. Mas existem muitas outras questões, sociais, econômicas, tributárias, em que os grupos se recompõem de forma diferente do que ocorre nos processo da Lava-Jato. Portanto, não existiriam dois blocos monolíticos, mas vários, agregados de uma forma a depender dos processos. Se a análise for do ponto de vista tributário e econômico, então, aí mesmo é que cada votação é diferente da outra. Nesses casos daria para notar não o sal e o açúcar do julgamento politizado, mas decisões com filosofias jurídicas diferentes nos aspectos penal, tributário, econômico.
Há pouco tempo, é o exemplo que vem sendo dado contra a existência da divisão, houve uma votação sobre reforma trabalhista e os aliados incondicionais na Lava-Jato, Edson Fachin e Roberto Barroso, foram cada um para um lado.
Isso quer dizer que é possível a presidência colegiada, uma espécie de Supremo Coletivo. Que seria o modelo adequado para fazer as tarefas básicas que é preciso vencer: decidir a pauta, crucial no STF, dar maior eficiência aos julgamentos e reduzir os estoques de processos.
Caricatura
Todo mundo pode tudo quando resolve, em determinado momento da vida, jogar as convenções para o alto. Mas há sempre um limite para não ficar mal falado, o do bom-senso. A pretexto de transmitir reivindicações da tropa, o general Villas Boas, Comandante do Exército, chamou os candidatos a presidente da República ao seu gabinete para uma entrevista, um lobby ou seja lá o que pretendia dos encontros com os políticos que para lá correram. Representar a corporação e entregar os desejos da soldadesca é a melhor das hipóteses para explicar tal iniciativa. Para doutrinar ou para qualquer outra coisa, é um desses tipos de comportamento que extrapolam esses limites. Se quer camuflar uma reunião com Bolsonaro, que os militares consideravam uma "caricatura" até há pouco tempo e agora estão vendo que é para valer, tendo viabilidade eleitoral, é melhor não procurar desculpa.
Valor Econômico: 'Espero que voto de Huck migre para Alckmin', diz Arminio Fraga
Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central e sócio da Gávea Investimentos, defendeu, em entrevista ao Valor, uma ampla reforma tributária com a criação do Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) e mudanças no Imposto de Renda (IR) para tributar mais a renda dos serviços que, com a "pejotização", é muito pouco taxada.
Por Claudia Safatle, do Valor Econômico
Mesmo que a proposta de emenda constitucional da Previdência ainda seja aprovada por este governo, ele acredita que será preciso uma nova rodada de reformas nessa área e sugere que os economistas do atual governo, que mergulharam no assunto, deixem um amplo projeto pronto para a próxima gestão. O financiamento da seguridade social não deve ser feito primordialmente pela tributação da folha de salários. "Acho que se deveria descarregar a necessidade de arrecadação em outros impostos, sobre um IVA bem feito e também no Imposto de Renda, onde há espaço, dado que rico, no Brasil, não paga imposto", disse.
Segundo Arminio, há vários grupos de economistas discutindo o Brasil. O resultado desses debates deverá ser prático, com propostas concretas e as respectivas medidas legais colocadas no papel. Se tiver que ser projeto de lei ou medida provisória, eles já estarão prontos. Ele próprio está se dedicando à elaboração de propostas para uma ampla e profunda reforma do Estado, junto com a economista Ana Carla Abrão.
Reformas do Estado, tributária e da Previdência são algumas das medidas que poderão servir a um eventual governo reformista. Elas compreendem outras iniciativas importantes, como a desvinculação geral do Orçamento, mecanismos de avaliação dos programas, fim da estabilidade do funcionalismo. Esses grupos não estão necessariamente ligados a um candidato à Presidência da República. Com a desistência de Luciano Huck, Armínio espera que Geraldo Alckmin (PSDB), governador de São Paulo, seja o herdeiro desses votos.
A seguir os principais trechos da entrevista:
Valor: O presidente Michel Temer disse que vão sobrar poucas reformas para serem feitas pelo próximo governo. Na sua avaliação, sobram poucas ou muitas?
Arminio Fraga: Falta muita coisa. Sem nenhum demérito da reforma trabalhista, do que foi feito no setor de petróleo, no setor elétrico, nas estatais, no BNDES, isso é um início. O teto que foi aprovado não funciona sozinho, tem que ter uma boa reforma da Previdência - ou duas, talvez - e muito mais. Tem o lado tributário, que é um prato cheio para reformas, tanto o lado indireto quanto do Imposto de Renda. Temos o país da 'pejotização', do fundo fechado, tudo o mais, que precisa ser repensado.
Valor: Teria que rever as deduções do IR também?
Arminio: Também. Toda a discussão sobre terceirização, que foi boa, deixou de lado o fato de que muito do que se vê tem motivação tributária, o que está errado. No lado fiscal, da gestão pública, há também um enorme caminho pela frente. Para isso é preciso uma reforma muito completa e profunda do Estado. E não é só uma questão fiscal - embora o 'só' seja entre aspas porque é uma questão enorme. É muito mais. É criar condições para se ter um Estado mais eficaz. Essa é uma agenda importantíssima. Com certeza, na infraestrutura tem muito a se fazer. Acho que a agenda [do governo] é boa, não estou reclamando, mas está longe de estar concluída. Muito longe.
Valor: Quando o senhor fala da reforma do Estado, está falando de um Estado menos empresário, mais voltado para as questões sociais?
Arminio: Com foco na segurança, saúde, educação e Previdência até um nível básico. Um Estado que consiga entregar nessas áreas. Nos últimos anos houve algum progresso, mas estamos muito longe de ter um sistema público de educação e de saúde como o que gostaríamos. As crianças estão na escola, mas as avaliações qualitativas são muito ruins. Temos saúde universal com um desenho bom, mas também cheio de problemas. E segurança nem se fala, é um assunto emergencial.
Valor: A intervenção federal no Rio, recém anunciada, é parte de uma ação emergencial?
Arminio: Sim, pois de fato é uma emergência. Mas depois será necessário algo permanente.
Valor: Voltando à questão fiscal, onde além do teto houve medidas importantes, como a devolução do 'funding' do BNDES. Mas isso não resolve o cumprimento do teto para o gasto público...
Arminio: Não, não resolve.
Valor: A reforma da Previdência, se ainda for aprovada, vai ser modesta, o que leva a crer que o próximo governo terá que continuar nesse tema, não?
Arminio: Tenho certeza. Os especialistas dizem que a primeira reforma resolvia 70% - um número aproximado - da questão; a que está aí hoje resolve metade. Então, tem que ter outra.
Valor: Dado o engessamento do Orçamento, não seria preciso fazer algo mais drástico como um orçamento base-zero?
Arminio: Tem que fazer orçamento base-zero, repensar a estabilidade, desvincular o Orçamento todo.
Valor: Para fazer essa revolução não teria que haver um governo...
Arminio: O governo tem que querer. E aí, se descobrir que falta ferramenta, tem que propor. Eu estou até envolvido em umas discussões para preparar projetos e propostas nessa área com um teor mais prático.
Valor: Como é isso?
Arminio: Há vários grupos discutindo o Brasil, sem necessariamente ter ligações diretas com eventuais candidaturas. Acho necessário ir além de preparar textos sobre duas dezenas de assuntos e avançar em alguns dos temas, principalmente sobre os que exijam mudanças em lei, e que se pense na execução das medidas. Se precisar de um projeto de lei, que tenha ele preparado.
Valor: Quais as medidas que esses grupos devem propor?
Arminio: As mais óbvias são a reforma tributária - a consolidação dos vários tributos indiretos e a criação de um IVA moderno. Há muita gente pensando nisso. Precisa ter um grupo de pessoas para deixar isso pronto. Outro tema é o da Previdência. Nesse, o próprio governo poderia preparar um projeto, nem que seja para ficar na prateleira, incluindo tudo. A proposta que está aí merece ser aprovada, é necessária. Mas é preciso ir além e fazer "a" reforma que traz pendurados outros assuntos, como a tributação da folha. Será que é necessário financiar a transição para um sistema mais atuarialmente equilibrado cobrando da folha [de salário das empresas]?
Valor: Qual a resposta?
Arminio: Acho que não. Pode ter alguma, mas deveria descarregar a necessidade de arrecadação em outros impostos, sobre um IVA bem feito e, também, no Imposto de Renda, onde há espaço dado que rico, no Brasil, não paga imposto. Aliás, é estranho que depois de tantos anos de governo do PT não se tenha avançado nesse tema [taxar os ricos]. Esse é um assunto adormecido.
Valor: Imposto sobre herança? Patrimônio?
Arminio: Sobre herança, pode ter também. Mas acho que o imposto sobre patrimônio não funciona. O único patrimônio onde se cobra imposto no mundo inteiro é o imobiliário. Sobre herança é razoável, as alíquotas no país vêm subindo. Pode-se tributar mais a renda sobre setor de serviços, que com a 'pejotização' é pouquíssimo tributada. Então, trata-se de deixar como projeto um grande redesenho da área previdenciária, mercado de trabalho e da tributária.
Valor: Qual a proposta para a reforma do Estado?
Arminio: É dar uma geral no Estado para que seja mais eficaz. Na área de recursos humanos, ter uma avaliação das pessoas, repensar o tema maior da estabilidade e, por outros ângulos, avaliar programas de governo, que é crucial para que se saiba o que está dando certo e o que não está dando certo. É preciso um processo de avaliação permanente. A Ana Carla Abraão [economista] está trabalhando nisso e vamos incluir outras pessoas, como advogados que entendam do tema. Desse eu estou mais próximo. Sem tudo isso e, particularmente, a parte do Estado, acho difícil o país chegar aonde pode chegar.
Valor: Quais os programas mal avaliados?
Arminio: O que existe hoje no mundo da educação, da saúde e da segurança não dá para dizer que está dando certo. Progressos ocorreram, o SUS é bem avaliado, mas precisa de ser aperfeiçoado e tem problemas enormes de gestão. Idem para educação; e segurança nem se fala. É coisa grande, estamos falando das coisas de maior peso na vida de uma nação. Em função disso, é preciso pensar na desvinculação do Orçamento, que é totalmente amarrado. As prioridades mudam com o tempo. É irônico que o que o [José] Serra [exministro da Saúde] - encarava, lá atrás, como piso no orçamento da Saúde hoje virou teto.
Valor: Num país que envelhece esse é um gasto que deveria aumentar, não?
Arminio: Exato. Essa é uma área onde, por razões demográficas e tecnológicas, se espera mais gastos com o tempo.
Valor: Na educação é o contrário?
Arminio: É o contrário, apesar de o Plano Nacional de Educação demandar mais cinco pontos percentuais do PIB que eu não sei de onde sairia a essa altura, com o país quebrado. O Orçamento não deveria ser um negócio engessado. Tinha que ser uma coisa viva. É uma ferramenta que vai se avaliando: está dando certo, vai em frente, faz mais; está dando errado, corrige.
Valor: Os bancos públicos estão em processo de reversão do agigantamento que tiveram na gestão do PT. O BNDES volta a ser um banco de R$ 90 bilhões em desembolsos; a Caixa está sob restrições. O sr. acha que eles deveriam voltar ao tamanho que tinham antes de 2008/2009?
Arminio: Não tem por que, na minha opinião, ter um setor financeiro público agigantado. Não tem razão. Muita gente que discorda e diz que 'os bancos públicos deveriam prestar um papel anticíclico'. Eu tenho muita dificuldade em ver isso.
Valor: Por quê?
Arminio: Aqui sempre tem política anticíclica quando as coisas vão mal, e quando vão bem ela é pró-cíclica. Ou seja, é pé na tábua sempre. Aí não é saudável. Além do mais o Banco Central tem muito espaço para fazer política anticíclica. Na hora da recessão os bancos ficam conservadores demais. Será que o Banco Central não poderia compensar isso reduzindo mais agressivamente os juros?
Valor: O custo do capital é alto no Brasil. Com a taxa de juros em um patamar mais normal, isso se resolve pelo mercado? Como fica?
Arminio: Do lado do juro básico, o Brasil viu, nas últimas décadas, uma boa queda. Mas os juros aqui seguem altos, 5% reais na ponta longa. No Chile, hoje, deve ser 1% real para 25 anos. No México é um pouco mais. Acho que a nossa situação ainda é um tanto precária, porque temos um ajuste fiscal relevante a fazer sob pena disso não durar. No momento, [os juros], tem mais a ver com a recessão e com a sensação de que a gestãotemerária que nós tivemos não está mais presente.
Valor: Mas os juros para o tomador final continuam elevados.
Arminio: Aí resta a questão do prêmio de risco de crédito. Esse é um desafio antigo, o Banco Central tem se dedicado bastante a isso ao longo dos anos. Eu acho que esse projeto tem princípio, meio e fim. Tem a ver com insegurança jurídica, com tributação... Tem todo um diagnóstico que fizemos lá atrás. O Banco Central de vez em quando refaz, isso também não é uma coisa gravada em pedra.
Valor: Falta concorrência? Há quatro ou cinco grandes bancos.
Arminio: Em algumas áreas isso parece mais claro do que em outras... que estão merecendo a atenção das autoridades, cartão de crédito, cheque especial. A qualidade das garantias - que parecia uma grande promessa, hoje está sendo questionada. A própria alienação fiduciária para financiamento de automóvel e de imóveis parecia funcionar melhor do que anda funcionando hoje.
Valor: O sr. escreveu artigo em defesa da privatização do Banco do Brasil e da Petrobras...
Arminio: É o que eu acho. Acho que o Estado não devia ter empresa, assim, como primeira aproximação. Isso não quer dizer que não se possa transformar algumas empresas em corporações com boa governança. Mas ter empresa na mão do Estado, com objetivos políticos, não transparentes, que não transitam pelo Orçamento, é um prato cheio para problemas.
Valor: Um convite à corrupção?
Arminio: Não só à corrupção como ao desperdício. Acho que a gente devia cair na real e desistir. Não funciona, esquece. Se o governo quiser subsidiar a pesquisa básica, que o faça; se quiser ter programas para os mais pobres, com certeza deve fazer. Mas põe no Orçamento e cobra a execução. A execução tem que ser profissional, transparente, bem incentivada, com concorrência. Desses todos, têm os que estão avançando. O BB vem avançando há anos; a Petrobras avançou muito nesse período recente; a Eletrobras . Mas tem uns casos incríveis, que já existem há muito tempo, que têm avançado pouco. O exemplo que me vem à cabeça é a Caixa e, no Rio, a Cedae.
Valor: Se falta equilíbrio fiscal, falta sustentação para a política monetária. Há o risco de aumento dos juros no horizonte?
Arminio: Não, no momento isso não está no horizonte. Mas não há política monetária de excelência sem uma política fiscal robusta.
Valor: Algum candidato sairá das eleições com legitimidade para fazer um ajuste dessa dimensão?
Arminio: Acho difícil. O governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) deu uma entrevista excepcional tocando nesse assunto. Tocou em todos os pontos, e isso inaugura um debate eleitoral com o pé direito. Eu espero que as pessoas não sejam bobas de achar que ele está pedindo um sacrifício desnecessário. No governo passado houve uma deterioração fiscal de cerca de seis pontos percentuais do PIB. Um quarto por perda de receita na recessão, o resto por aumento de gastos e desonerações. Essa correção de rumo é necessária para estancar o crescimento exponencial da dívida pública e para consolidar um patamar de taxa de juros bem mais baixo do que aquele que temos tido há décadas.
Valor: Isso seria ser feito em um ano?
Arminio: Se o governo tiver uma agenda bem estruturada e crível, e as ferramentas forem sendo desenvolvidas com as reformas do Estado, da Previdência - não seria necessário nem recomendável fazer o ajuste todo em um só ano. Poderia ser ao longo de três anos. Tem muita área onde dá pra mexer. O relatório recente do Banco Mundial tem uma lista bem-feita.
Valor: Fala-se muito que o Brasil se desindustrializou. É o caso de se reindustrializar?
Arminio: O mundo inteiro se desindustrializou. A China, que é o polo industrial do planeta, também está vivendo um movimento onde o setor de serviços já é maior do que a indústria. O que temos de negativo em relação à indústria no Brasil é que ela foi desenvolvida debaixo de um regime de proteção bastante radical, que no início era tido como sendo proteção à indústria nascente, que já dura décadas.
Valor: Tornou-se uma proteção danosa?
Arminio: E isso não ajudou, porque hoje as coisas estão muito integradas e as necessidades tecnológicas são crescentes. Se você não está integrado fica mais difícil. E mais: o Brasil vive essa situação esdrúxula onde a indústria é muito mais tributada do que o setor de serviços e a agricultura. Não há por que ser assim. Isso está errado. Para compensar o fato de se ter regras trabalhistas complicadas, uma tributação complicada e cheia de distorções, uma infraestrutura ruim, o custo do capital alto etc... o governo, na outra ponta, começou a dar muito subsídio. Aí fica uma economia toda engatilhada, exposta a grupos de interesse e acaba como um monstrengo que não é produtivo.
Valor: O sr. estava trabalhando na candidatura do Luciano Huck à Presidência. Com a desistência dele quem pode herdar seus eventuais eleitores?
Arminio: Olha, eu não estava trabalhando na candidatura, mas eu tive a oportunidade de conversar com ele muitas vezes no último ano. Nós moramos no Rio, acho que descobrimos interesses comuns, de tentar melhorar as coisas.
Valor: Ele desistiu ou adiou por quatro anos?
Arminio: Eu não tenho dúvida de que ele vai para vida pública em algum momento. Poderia ter ido agora, o que seria um movimento muito ousado; e poderia deixar para se preparar um pouco mais e ir mais adiante. Para uma pessoa com os talentos que ele tem, é uma ideia bastante boa também.
Valor: O sr. já sabia da decisão dele?
Arminio:Acho que nem ele sabia! Deve ter sido uma decisão impossível.
Valor: Quem o sr. acha que herda os votos que ele teria?
Arminio: Espero que o Geraldo Alckmin.
Valor Econômico: Evangélicos querem eleger 150 deputados e 15 senadores este ano
Valor Econômico: governo é favorável à parceria entre Embraer e Boeing, diz Raul Jungmann
Em entrevista ao Valor Econômico, ministro da Defesa comenta negociação da parceria
Murillo Camarotto e Daniel Rittner, do Valor Econômico
As negociações para uma parceria entre a Boeing e a Embraer chegaram aos ouvidos do governo cerca de duas semanas antes de a notícia vir a público. A receptividade – positiva em um primeiro momento – gerou certo desconforto dias depois, diante da possibilidade de que as conversas tivessem tratado de uma eventual venda do controle acionário da empresa brasileira.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, soube das negociações pelo brigadeiro Nivaldo Rossato, comandante da Força Aérea Brasileira (FAB). Até aquele momento, a percepção era de que havia sido retomado um namoro que, segundo ele, já acontece há mais de dez anos entre as duas fabricantes de aeronaves.
Com publicação da notícia pelo “Wall Street Journal”, Jungmann e Rossato foram ao gabinete do presidente Michel Temer e o alertaram sobre a iminência de um “tsunami”. O presidente foi rápido em declarar que qualquer negociação envolvendo o controle acionário da Embraer estava completamente descartada.
“Nosso entendimento é de que tínhamos que ressalvar que a Embraer é uma empresa privatizada, mas que em 1994, na privatização, ao manter a ação especial, o governo sinalizou que havia interesse nacional”, disse o ministro em entrevista ao Valor.
Os motivos para descartar a venda do controle, segundo o ministro, são tão variados quanto estratégicos. Jungmann cita, por exemplo, a propriedade da Embraer de todo aparato utilizado no controle do tráfego aéreo no Brasil. A fabricante de jatos também lidera o processo de fabricação de combustível nuclear, atua no gerenciamento de fronteiras e lançamento de satélites.
“Por isso tudo, a Embraer é algo que tem relação direta com projeto nacional autônomo. Está no centro de um cluster de inovação, tecnologia e conhecimento e tem centenas de empresas articuladas a ela. Ela é o coração. Não bastasse isso, se transferirmos o controle acionário da Embraer, você estará condicionando decisões estratégicas na área de defesa ao congresso de outro país”, argumentou o ministro.
O estatuto da Embraer determina que qualquer negociação envolvendo o controle acionário tem que ser previamente comunicada ao detentor das ações de classe especial – no caso, o governo. Como as notícias sobre as intenções da Boeing chegaram à Brasília por meio informal, o governo quer saber agora até que ponto as conversas evoluíram.
“Se chegou-se a contratar bancos ou escritórios de advocacia, nós deveríamos antes ter sido avisados. Mas isso será objeto de análise, vamos checar se de fato aconteceu. Supondo que aconteceu, evidentemente não poderia ter ocorrido”, disse o ministro. “O brigadeiro (José Magno) Araújo, membro do conselho, não tem nenhuma notificação formal. O que chegou é que começou a conversa”, afirmou Jungmann.
De acordo com ele, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já solicitou esclarecimentos sobre o fluxo das informações relacionadas à negociação. “Esperamos que isso não tenha acontecido. Se aconteceu, evidentemente cruzou-se uma linha vermelha sem que o acionista especial soubesse previamente”, reforça o ministro.
O Valor revelou em setembro uma consulta enviada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao Tribunal de Contas da União (TCU), sobre a viabilidade de extinção das ações de classe especial, também conhecidas como “golden shares”. Além da Embraer, a Vale e o Instituto Brasileiro de Resseguros (IRB) contam com essa categoria de ativo.
O secretário de Produtos de Defesa, Flávio Corrêa Basílio, informou que, apesar da consulta, o governo jamais cogitou acabar com todas as golden shares da Embraer. Pela proposta de Meirelles, as regras referentes a questões de segurança nacional seriam preservadas. “Conversamos com eles na época. [A consulta] era para algumas áreas específicas, que não diziam respeito à defesa nacional”, disse Basílio.
Jungmann fez questão de ressaltar que o governo brasileiro é favorável à parceria entre as duas empresas e que não vai atuar para influenciar as negociações. O ministro lembra que o setor aeronáutico passa por um período de transformações e que a Embraer deve estar preparada para as novas facetas desse mercado.
“O movimento que deflagrou essa percepção [de mudanças no setor] foi a associação Airbus – Bombardier. Ao mesmo tempo, se tem notícias de que os chineses pretendem explorar esse nicho, associados aos russos. Fala-se também nos japoneses, com a Mitsubishi. Diante disso, vemos com bons olhos essa associação. Segue a balsa”, disse Jungmann.
Há, no entanto, clareza no governo de que uma dissociação das área militar e comercial da Embraer seria impossível, hipótese que chegou a ser cogitada por analistas de mercado. “Há uma simbiose entre essas duas áreas que as torna indissociáveis”, afirma Raul Jungmann.
Ele explica que boa parte das inovações apresentadas pelo setor comercial são iniciadas na área de defesa. Como os investimentos em defesa não estão sujeitos a normas da Organização Mundial do Comércio (OMC), é essa área quem transfere a tecnologia para o setor comercial. “A segregação, por essas razões, não funcionaria”, disse o ministro.
O governo também optou por não manifestar preferência sobre o tipo de parceria que Embraer e Boeing pretendem fazer. Segundo Jungmann, mantidas as prerrogativas estratégicas da União, o restante é questão 100% empresarial. “Não vamos dizer nada. A única coisa que nos pronunciamos é no que diz respeito aos interesses nacionais. Fusão? Joint venture? Parceria? Comercialização? Não nos diz respeito.”
Maria Cristina Fernandes: Velório sem cachaça
Decano do PSDB diz que vitória de Aécio matará o partido. Euclides Scalco é um tucano atípico. Não faz rodeios naquilo que é incontornável. Por telefone, de Curitiba, decreta: "Se Aécio derrotar o Tasso nessa disputa o PSDB acaba". Acompanha pelos jornais e em esparsas conversas com correligionários a crise por que passa o partido, mas a quilometragem acumulada no tucanato lhe franqueia a afirmação categórica de que se trata da mais grave crise na sua história.
Às vésperas de completar 85 anos, Scalco forma, junto com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a dupla de decanos do PSDB. Gaúcho, fez política no Paraná. Foi deputado constituinte do grupo pemedebista que se rebelou contra o rumos do governo José Sarney e assinou a Carta sob nova filiação partidária.
Coordenador das duas campanhas presidenciais de Fernando Henrique, diretor-geral de Itaipu e secretário-geral da Presidência, Scalco sempre integrou, no partido, a ala, cada vez mais escassa, dos intransigentes defensores de um PSDB vacinado contra as benesses do poder.
Não faz, por exemplo, uma única ressalva ao mea culpa que o partido levou ao ar na semana passada em horário nobre. Aprovou forma e conteúdo, inclusive a ausência de tucanos na tela. Atribui a reação interna à carapuça que alguns de seus correligionários vestiram. "Tava na hora de o partido ter alguém que desse um murro na mesa e pusesse ordem na tropa", diz, em respaldo ao senador Tasso Jereissati.
É avesso a cerimônias de panos quentes. Não hesitou em se afastar politicamente do atual governador do Paraná, filho do tucano com quem cultivou suas relações mais estreitas na política, José Richa. Padrinho de crisma e de casamento de Beto Richa, além de coordenador de suas campanhas, Scalco tomou distância de suas gestões há oito anos, quando o afilhado ainda ocupava a prefeitura da capital. Ao se afastar, declarou que não compactuava com a mistura entre negócios privados e o bem público. Nas últimas eleições, apoiou o ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, que trocou o PSDB pelo PDT depois de desentendimentos com Richa.
Não transige nem mesmo em relação à retomada da bandeira do parlamentarismo. Descrê que a mudança no sistema de governo sirva de atalho para tirar o país da crise. Esta história não precisa de repetição. Já embute uma tragédia na origem.
Scalco relembra a pactuação com os militares que condicionarm a posse de João Goulart à instituição do parlamentarismo, depois derrotado em plebiscito, para referendar sua crítica. "Se somos parlamentaristas teríamos que ter insistido na mudança desde o princípio. Agora é inoportuna."
Vê uma clara crise de liderança com a indisposição de Fernando Henrique para assumir funções executivas no partido e faz um chamado à responsabilidade dos fundadores do PSDB que hoje se mantêm indiferentes à perspectiva de piora daquilo que parece estar no limite da deterioração. Não lhe falem do prefeito de São Paulo, João Doria, ou de sua alegada herança covista. "[Geraldo] Alckmin bancou Doria e agora ele está percorrendo o país em campanha. Essas coisas não podem acontecer. Ele [o prefeito] não tem nada de Covas".
A rapidez com a qual o PSDB decidiu entrar no governo Michel Temer abre uma fenda entre o partido de hoje e aquele que ajudou a criar. Diz que os tucanos, desta vez, tinham alternativa à participação no governo. Não equipara a responsabilidade do PSDB, decorrente do impeachment, àquela dos pré-tucanos na transição que desembocou no governo José Sarney.
Advoga que hoje o PSDB poderia ter ficado de fora com apoio pontual a agendas convergentes, como a privatização da Eletrobras. Com a adesão a Temer, produziu-se o inverso. Os tucanos estão aboletados no poder e, graças ao apego da bancada aecista a Furnas, colhem divergências em temas que deveriam estar pacificados no partido como a privatização.
Vê na sucessão de 2018 o rubicão do PSDB e teme que a disputa interna impeça a travessia. Mede a distância que separa a luta fratricida de hoje pela candidatura ao Planalto à resistência de Mário Covas em 1989. O então senador paulista queria passar pelo governo estadual antes de partir para uma eleição nacional, mas foi convencido pelos pares a encabeçar a primeira disputa presidencial do partido.
Atribui os descaminhos do PSDB, em grande parte, à falta de discussão interna, a começar de suas instâncias locais. Reconhece que o partido ainda é prisioneiro da dicotomia do Real. Como se tratasse de uma guerra contra a hiperinflação, talvez não tivesse como ser diferente, mas o fato é que o plano responsável pela projeção política do partido foi fruto da tecnocracia e não de suas bases.
A situação fiscal do país o pressiona a outra virada de mesa. O que está em jogo é a liderança, no campo liberal, desse movimento. É este o jogo em que o presidente da República se movimenta para tentar manter o PSDB como satélite de seu poder. Por que Temer, em 1988, não seguiu com os pemedebistas paulistas para o novo partido? Seus aliados costumam dizer que Franco Montoro, seu patrono, o aconselhou a ficar no PMDB para servir de ponte entre os novos tucanos e o quercismo. Scalco tem outra explicação, mais curta: "Porque não foi convidado".
Em meados dos anos 1980, quando fervilhava a vida partidária da abertura, a Fundação Pedroso Horta editava uma publicação chamada 'Revista do PMDB'. Fernando Henrique e Serra compunham o conselho editorial. No número de julho de 1987, às vésperas dos trabalhos da Constituinte, quando os pemedebistas já não escondiam o desconforto com a gestão Sarney, o partido lamentava não ter podido se preservar, a exemplo dos socialistas espanhóis, para o governo pós-transição. A instabilidade e o precário equilíbrio de forças, reconheciam os futuros tucanos, impunham desgaste ao partido.
Passaram-se 30 anos desde que a revista do PMDB fez aquelas reflexões. Tempo suficiente para os tucanos delas tirarem lições, mas quem parece tê-lo feito com mais competência foi o pemedebista outrora rejeitado. O presidente Michel Temer atraiu o PSDB, dá corda ora a um, ora a outro e se vale privatizações e TLPs para testar o credo liberal dos seus aliados e mantê-los permanentemente divididos. Vale-se ainda da lambança tucana na Lava-Jato para lhes vender proteção. Se for bem sucedido, cravará no partido de seus antigos correligionários o carimbo de satélite do PMDB. Um movimento de volta às origens que, no Paraná de Scalco, dá-se o nome de velório sem cachaça.
* Maria Cristina Fernandes é jornalista do Valor Econômico
Maria Cristina Fernandes: O pacto paulista
Guerra bandeirante tem cimento e finança de munição. Michel Temer ainda exercia seu primeiro mandato como vice-presidente quando acumulou créditos na balança de suas relações com o prefeito de São Paulo, João Doria. No terceiro ano do mandato, em viagem de volta da China, parou em Abu Dhabi. Resistiu ao roteiro, por cansativo, mas foi convencido à escala por um amigo comum. Temer era o principal convidado da cerimônia de pedra fundamental da fábrica de derivados de carne da BR Foods.
A promoção era da empresa de eventos de Doria em benefício da fabricante de alimentos que tem como conselheiro o substituto do prefeito de São Paulo nos seus negócios, Luiz Fernando Furlan. Doria já havia deixado claro seu interesse em estreitar relações políticas com o grupo do presidente ao procurar dois de seus amigos naquele ano para comunicar seu interesse em se candidatar a prefeito de São Paulo dali a três anos.
O anúncio, por pretensioso, foi recebido com reservas, o que não o impediu de ser convidado a se filiar ao PMDB. Ao preferir se manter no PSDB, Doria reproduziu, com sinais trocados, a trajetória de Temer. Na revoada tucana de 1988, o atual presidente foi aconselhado por Franco Montoro a permanecer para fazer a ponte entre os ex-pemedebistas e o antigo partido.
Esses vínculos se provariam determinantes para o pacto de não agressão firmado na disputa de 2016. Numa reunião em Brasília da qual participou toda a cúpula de comunicação pemedebista, Antonio Lavareda fez um frio diagnóstico da campanha. Se a candidata do PMDB, Marta Suplicy, e Doria continuassem a se estapear acabariam por eleger Celso Russomano prefeito.
As pretensões presidenciais de Doria cresceram na mesma medida em que decaíram as chances de Temer ser reeleito. O presidente, na definição de um integrante de seu próprio grupo político, corre o risco de sair da Presidência menor do que entrou. A ascensão de Doria passou a ser o atalho para aquele que se tornou o plano A do grupo de Temer: a eleição do presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Skaf, ao governo estadual.
Por isso o presidente da República está disposto a se empenhar por uma aliança que reúna PMDB, PSDB e DEM em torno de Doria. Está mais bem posicionado do que ninguém para recompor, por exemplo, as relações entre o prefeito e o senador tucano Aécio Neves, cujo afastamento definitivo da direção do PSDB foi abertamente pedido por Doria. Outros tucanos aproximaram-se do prefeito nos últimos tempos (Beto Richa, Cássio Cunha Lima e Marconi Perillo), mas Aécio é o único em condições de obstruir a pretensão de Alckmin de antecipar as prévias do partido para dezembro, data que inviabilizaria a participação de um prefeito que nem sequer teria completado um ano no cargo.
A chegada de Doria ao Palácio do Planalto seria a maneira mais segura de o atual presidente evitar uma caça às bruxas. Mas este não é o principal cimento da aliança Temer-Doria. O presidente pode se convencer da necessidade de se candidatar pelo menos a deputado para manter o foro.
O prefeito é visto como um político mais maleável a demandas empresariais, do que o governador de São Paulo. Um pemedebista enumera as empreiteiras paulistas que estão à míngua porque Geraldo Alckmin, na sua definição, governa São Paulo como se fosse um banco - "Ele deixa sangrar até a morte, não ajuda ninguém".
No grupo de Temer, a percepção é de que Alckmin é aquele vendedor de carro usado com quem se pode negociar sem nem mesmo virar a chave. E desde que o cunhado não aja como atravessador. O prefeito de São Paulo, por outro lado, é mais bem visto por cultivar o "sentimento de reciprocidade" do qual o governador é desprovido.
A percepção é referendada pelas últimas licitações feitas pelo Palácio dos Bandeirantes, abertas a empreiteiras estrangeiras e amarradas a financiamentos e garantias que inibem aditivos. A frieza do governador é atestada também por investidores que, na disputa interna do PSDB, já se colocaram a seu lado.
Num encontro recente com meia dúzia de dirigentes do mercado financeiro, Alckmin não fez rodeios na avaliação de que a política de juros "só beneficia banqueiros". Contestado, seguiu adiante: "Vocês teriam quebrado o país em 2002 se Lula não tivesse nomeado Meirelles".
Convergem na avaliação de que sua franqueza desabrida se acentuou com a morte precoce do caçula. Alckmin perseguiria suas metas como quem já não tem muito a perder. É o que explica declarações inimagináveis tempos atrás ("Meu pai sempre me disse que política é dedicação, coragem moral e vida pessoal modesta. Ficou rico é ladrão") ou reações cotidianas como aquela que teve diante de especialista que tentava lhe convencer da viabilidade eleitoral de seus planos: "Você me explica o projeto, de voto entendo eu".
Esses investidores engolem Alckmin a seco porque aprovam sua política fiscal e também pelo desencanto com Doria, atribuído a dois traços que descobriram no prefeito: é apegado a firulas e não ouve. Não faltariam exemplos, como exigências em relação a vestimentas, de garis a secretários, que são convidados a retirar a gravata em reuniões que o prefeito não as usa.
A esta fixação se contrapõe um comportamento definido como superficial. Há secretários que passaram a se guiar pelo que Doria diz na imprensa para conduzir suas pastas dada a dificuldade de falar - e ser ouvido - com o prefeito que não para de viajar pelo país. "Não são as doações de empresários que vão resolver os problemas do Brasil", resume um investidor.
A fatia bandeirante do pacto em gestação é outro ponto de insatisfação. Skaf é identificado ao mar de subsídios, isenções e refis que inunda o governo Temer. Ao presidente da Fiesp contrapõem nomes como Luiz Felipe D'Ávila, dirigente do Centro de Liderança Pública, celeiro de liberais simpáticos à abertura de oligopólios, como o da infraestrutura.
Este é apenas um dos mercados pelos quais guerreiam. A disputa só chegou a esse ponto porque não há ameaças à esquerda no Estado. A corda ainda vai ficar muito mais esticada antes de se prestar à costura. Se Doria não se viabilizar como presidenciável, o grupo de Temer trabalhará por um acordo com Alckmin. Não se espera que o PSDB abra mão de lançar um candidato em São Paulo, mas é um pacto de não agressão que se busca - uma conquista, para o padrão bandeirante.
* Maria Cristina Fernandes é jornalista do Valor Econômico