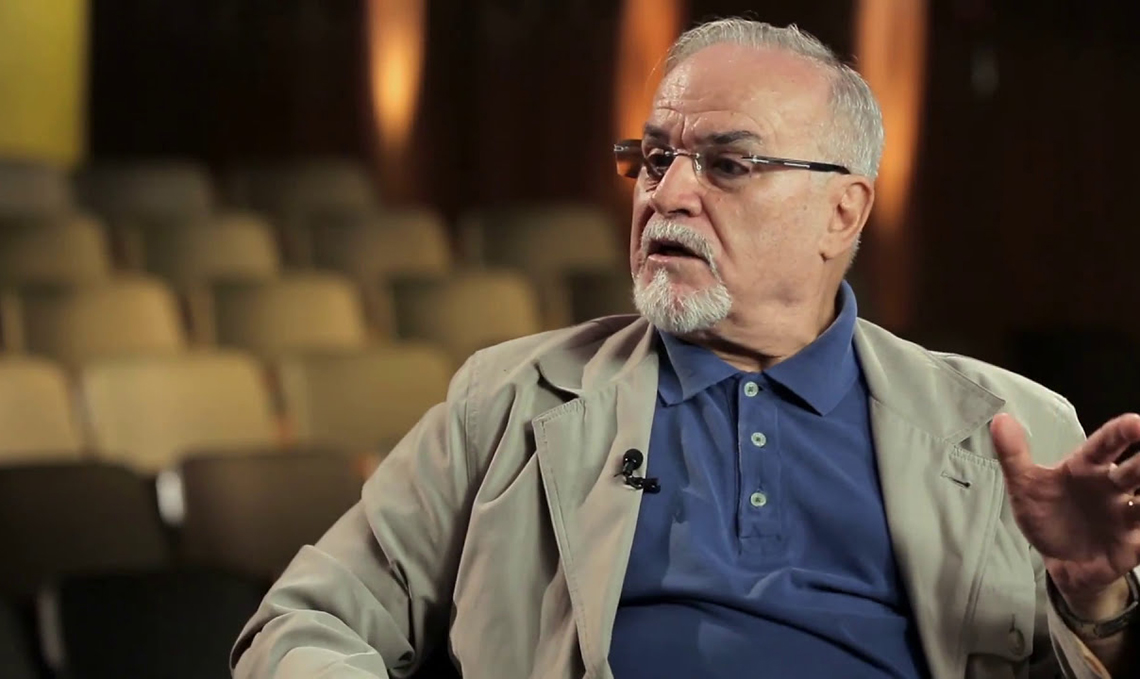Trump
Alon Feuerwerker: O atraente bidenismo
A política econômica do governo Joe Biden vem atraindo certo entusiasmo nas correntes políticas da oposição, pela esquerda, ao governo Jair Bolsonaro. É compreensível. Após muitos anos de difusão do chamado Consenso de Washington, eis que na capital do mesmo nome surge uma administração a propor, entre outras coisas, emitir moeda, reforçar o papel do investimento estatal e taxar quem tem mais, para distribuir a quem tem menos.
A mudança ali, com as ondas de influência irradiadas mundo afora, soma-se vetorialmente por aqui a uma certa frustração com a colheita das políticas aplicadas desde pelo menos a Ponte para o Futuro de Michel Temer. Na sequência veio a dupla Bolsonaro-Paulo Guedes. É razoável admitir que existe alguma continuidade nas orientações definidas para a economia pelos governos que mandam no Planalto desde a ruptura de 2016.
Claro que a análise objetiva exige levar em conta as circunstâncias. Cada um de nós é ele mesmo e suas circunstâncias. Uma foi o governo Temer ter entrado em modo de sobrevivência por razões da área policial, e depois a pandemia da Covid-19 pegou pela proa a administração Bolsonaro. Mas aí enveredamos pelo terreno das explicações e justificativas. E na política, a exemplo de outras esferas da vida, quem começa a se explicar e justificar já está perdendo.
Os ventos bidenistas e a crônica pasmaceira econômica acenderam no Brasil o desejo de uma guinada. Mas qual a viabilidade dela? Que candidato com chances vai pegar a estrada em 2022 dizendo que irá fazer dívida pública pesada para ampliar o investimento estatal e prometendo tomar o dinheiro dos “ricos” (que no Brasil, na prática, incluem uma gorda fatia da classe média) para redistribuir renda pela mão do Estado?
Políticas econômicas precisam ter, antes de tudo, viabilidade política. Há sim teóricos respeitáveis que garantem: fazer dívida em moeda nacional não produz inflação. Mas qual presidente vai arriscar, no sempre instável cenário institucional brasileiro, colocar todas as fichas numa teoria contraintuitiva? Se der errado, seus autores no máximo farão autocrítica. Já o político provavelmente terá ido para o cadafalso, talvez metafórico.
Há uma diferença importante entre o Brasil e os Estados Unidos. Eles podem legalmente imprimir dólares sem lastro e nós podemos imprimir reais sem lastro, mas não parece que as consequências venham a ser as mesmas. Isso e outros fatores devem impelir os candidatos competitivos a buscar soluções mais convencionais. Uma em especial: a atração maciça de capitais externos para fazer subir a taxa de investimento privado.
Eis por que no próximo governo, pois entramos na etapa conclusiva deste, talvez um ministério de importância renovada será o das Relações Exteriores. E quem sabe não deveríamos voltar nossos olhos também para o Oriente, em vez de apenas para o Norte? É pouco razoável imaginar que a economia brasileira vai se erguer puxando os próprios cabelos para cima. Ou colocando todas as fichas de política exterior numa única casa.
*Alon Feuerwerker é jornalista e analista político/FSB Comunicação
====================
Publicado na revista Veja de 28 de abril de 2021, edição nº 2.737
Fonte:
Análise Política
http://www.alon.jor.br/2021/05/o-atraente-bidenismo.html
Veja
https://veja.abril.com.br/blog/alon-feuerwerker/o-atraente-bidenismo/
Roberto DaMatta: Somos todos pacientes
Para José Paulo Cavalcanti, Merval Pereira, Carlos Alberto Sardenberg e Joaquim Falcão
O dicionário “Aurélio” revela o amplo significado da palavra “paciente”. Uma palavra fundamental por sua capacidade de desmontar bate-bocas, inibir impaciências em filas, adiar vinganças e apaziguar minha angústia diante deste claro endoidecimento do Brasil.
Somos todos pacientes porque haja paciência para suportar o hospício desta psicose jurídico-política. De um lado, um enorme ressentimento porque o “povo”, que já foi puro e sagrado, teve motivos para eleger um presidente querelante, sabotador e autoritário; do outro, um surto suicida incapaz de apaziguar um sistema obsessivamente legalista em que a forma pode valer mais que o “objeto” ou substância (falando francamente: que o crime).
A palavra paciente é parte do linguajar jurídico, mas creio que seria absurdo ou despropositado chamar assassinos, genocidas e ladrões — gente como Capone, Eichmann, Goebbels, Stálin, os torturadores do regime militar, os assassinos do menino Henry, os larápios confessos da Operação Lava-Jato e Derek Chauvin, o policial que matou com óbvio viés racista George Floyd — de “pacientes”.
Uma palavra que invoca neutralidade não deveria ser usada como sinônimo de quadrilheiros. Sobretudo de gente que traiu o seu voto. Mas cabe perguntar: quando um réu vira paciente? A resposta é clara: quando ele é importante!
Aliás, se ele é o dono da grande fazenda, nem poderia ser julgado. Chamá-lo, pois, de paciente fatalmente revela a parcialidade e a lealdade do tribunal às convenções estruturais do “sistema brasileiro”, ancoradas na cautela dos compadrios, dos favores e do “você sabe com quem está falando?”, ou julgando... Essa “medida cautelar da paciência” explicita como o que conta não é o crime, mas quem o cometeu.
Trata-se de mais uma jabuticaba expressiva do jeitinho brasileiro.
Uma amiga americana compara com brilho Trump e Bolsonaro. Mas é provável que Donald seja mais facilmente explicável que Jair.
A palavra-chave nessa comparação é o compromisso e a lealdade a uma tradição democrática e republicana. É a fidelidade com a liberdade e com a igualdade como valores. Biden e Harris fazem parte dessa lista, que tem desacordos, mas não tem dúvida relativamente às complexas e duras exigências deste regime inacabado por definição chamado democracia.
Aqui no Brasil, ainda não concordamos se não seria melhor continuar mais ou menos numa realeza ibérica (franquista ou salazarista), mais ou menos populista-socialista e mais ou menos liberal-aristocrática, mas sempre autoritária, ou se vamos continuar como frustrados republicanos, arcando com o difícil compromisso de fazer valer a lei para todos — sobretudo, para nós mesmos!
E, por último, mas não por fim: se vamos cobrar coerência da instituição guardiã da Constituição, o STF.
As diferenças culturais entre Brasil e Estados Unidos são grandes, mas nada no campo do humano é impossível. Os americanos têm uma Constituição pioneira, pequena e inteligível; aqui, um oceano de leis complementares e de privilégios impede a clareza. Eles começaram republicanos, e nós fomos um pouco de tudo. Lá, trata-se de manter continuidade; aqui, de liquidar antigos privilégios; lá, quanto mais privilegiado, mais se é responsável perante a lei; aqui, o justo oposto. Lá, um federalismo localista obriga a julgamentos com início, meio e fim; aqui, há o recurso que engaveta os processos, tirando a confiança na maior das igualdades: a equidade perante a lei.
A melhor prova é o caso Floyd. Lá, está resolvido! Aqui, o STF anula sentenças e suspeita de um movimento anticrime fundamental para corrigir as trapaças do populismo, as sobrevivências do fidalguismo e o retorno do filhotismo. Lá, o trabalho é um chamado; aqui, foi e ainda é estigma e cicatriz da escravaria.
Aqui, o ministro Gilmar Mendes afirma, com maestria sociológica, que o governo do PT engendrou um “plano perfeito” de poder. Num texto magistral, esse paladino da coerência continua: “Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, e está sendo revelado na Lava-Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece o nome, claro, de Cleptocracia”. Onde foi parar esse juiz? Será que ele foi canibalizado por sua imparcialidade?
Para concluir, lembro uma outra pérola do mesmo magistrado em sua resposta a um colega: “O moralismo é a pátria da imoralidade”.
Como um velho acadêmico metido a cronista em pleno processo de cancelamento, digo apenas que a incoerência como um valor é, sejamos modestos, a terra da injustiça.
Luiz Carlos Azedo: Ajoelhou, tem que rezar
Bolsonaro precisa dar demonstrações práticas de que mudou a política ambiental. A mais aguardada é a demissão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles
A narrativa ambiental do presidente Jair Bolsonaro mudou da água para o vinho, ontem, na Cúpula do Clima convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que não assistiu a seu discurso, mas mandou o porta-voz americano para o Clima, John Kerry, dizer que gostou do pronunciamento. Bolsonaro prometeu adotar medidas que reduzam as emissões de gases e pediu “justa remuneração” por “serviços ambientais” prestados pelos biomas brasileiros ao planeta.
De certa forma, surpreendeu o próprio Biden. Bolsonaro disse que “não poderia estar mais de acordo” com o apelo dos EUA sobre metas mais ambiciosas para o clima. Não mencionou o Plano Amazônia apresentado na semana passada, mas voltou a mencionar a eliminação do desmatamento ilegal, por meio do Código Florestal, reiterando a promessa da carta que enviara a Biden na semana passada. Anunciou, também, que o Brasil reduzirá emissões em 37%, em 2025, e 40%, até 2030, alcançando a neutralidade climática em 2050, ou seja, 10 anos antes da meta prevista pelo Brasil. São objetivos ambiciosos, porém ficarão por conta dos futuros governos. O problema é o agora.
Não faltaram referências à inclusão dos povos indígenas e comunidades tradicionais em questões de bioeconomia, bem como à melhoria nas condições de vida da população da Amazônia. Bolsonaro disse que os mercados de carbono são essenciais para impulsionar investimentos climáticos e anunciou a participação do Brasil na Convenção sobre Diversidade Biológica, na China, em outubro. Aproveitou para pedir ajuda financeira, ao falar da necessidade de pagamentos justos por serviços ambientais.
O problema do Brasil é que o discurso de Bolsonaro não corresponde aos fatos até agora. Mesmo que a intenção seja mudar de rumo, não é possível reconstruir da noite para o dia o que foi destruído, desestruturado ou desorganizado em termos de política ambiental nos últimos dois anos e quase meio. Bolsonaro precisa dar demonstrações práticas de que realmente mudou a política ambiental. Politicamente, a ação mais aguardada é a demissão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o homem que estava “passando a boiada” na Amazônia.
Questão de prática
Dificilmente, com Salles à frente do ministério, até por causa dos desgastes que sofreu com os interlocutores internacionais, ambientalistas e cientistas da área, o Brasil conseguirá ter acesso expressivo ao fundo de US$ 1 bilhão criado por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia para preservação ambiental. Por causa da extinção do conselho que dirigia o Fundo da Amazônia, anunciada no início da gestão do ministro Salles, Alemanha e Noruega interromperam as doações do fundo, que tem uma reserva de R$ 2,9 bilhões para combater o desmatamento das florestas, congelada por causa da mudança do modelo de gestão dos recursos feita por Salles.
Presidente do Conselho Nacional da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão não participou do encontro. Foi uma sinalização negativa de empoderamento do ministro Salles, que está na mesma situação em que já ficaram o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o ex-chanceler Ernesto Araújo: “se ferraram” cumprindo cegamente as ordens negacionistas do presidente da República. E acabaram com a cabeça entregue numa bandeja para seus críticos.
Bolsonaro subordinou as ações do governo aos interesses de setores radicais de sua base eleitoral, como pecuaristas, madeireiros, garimpeiros e grileiros. O impacto do desmonte da política ambiental no desmatamento, na invasão de terras indígenas e nos indicadores de violência no campo escandalizou o mundo. O pecado original foi a aposta de Bolsonaro no negacionismo e poder do ex-presidente Donald Trump, seu aliado principal. Com a eleição do democrata Joe Biden, que reposicionou os Estados Unidos na cena mundial, se tornou mesmo um “pária” internacional. Os Estados Unidos voltaram a ser protagonistas na luta contra o aquecimento global. O isolamento do governo brasileiro exigiu uma mudança de rumo.
Pedro Fernando Nery: Após a queda de Trump, quem será o 'Biden brasileiro'?
Caberá ao Biden nacional combater a desigualdade de renda e abrir um futuro de maior produtividade para a economia
Pela ocasião da alta votação de Joe Biden em 2020, que reuniu um amplo espectro de apoio para derrotar Trump, muito se especulou sobre quem seria “o Biden brasileiro”. Perto da marca dos 100 primeiros dias do novo presidente americano, já é possível vislumbrar quais temas quer transformar. Um que destoa é o da infância, com uma espécie de renda universal infantil. Quem será o Biden brasileiro?
Biden já conseguiu sancionar uma de suas propostas de campanha: o pagamento de US$ 250 mensais para a maior parte das crianças e adolescentes americanos, com valor ampliado para US$ 300 no caso das crianças de até seis anos (1.ª infância). Não se exige que pais não tenham emprego.
Os valores passam a ser decrescentes para famílias com maior renda. Para outro limite de renda, não há direito ao pagamento (uma renda equivalente à do décimo mais rico dos americanos). Como poucas crianças estão em famílias no topo da distribuição de renda, o benefício é semiuniversal.
É uma grande mudança: os EUA estão entre poucos países desenvolvidos a não possuir esse benefício. Uma renda universal para crianças, ou semiuniversal, é praticada em boa parte da OCDE e é parte integrante do modelo de Estado de bem-estar social europeu – só parcialmente importado por essas bandas. Mesmo países de tradição anglo-saxônica pagam o benefício, como Austrália e Canadá.
Como seria se o Brasil replicasse a iniciativa americana? Evidentemente os valores de US$ 300 mensais estão distantes de nossa realidade. Mas comparando com a renda per capita dos dois países, o plano de Biden equivaleria no Brasil a dobrar o benefício variável do Bolsa Família – hoje de R$ 41 por criança.
Significaria também estendê-lo para milhões que não recebem benefício algum, por não serem de famílias pobres o suficiente para receber o Bolsa nem ricas o suficiente para declarar imposto de renda (que gera um benefício indireto: a dedução por dependente).
Sempre cabe ressaltar que 4 a cada 10 crianças brasileiras viviam na pobreza mesmo antes da pandemia, com número piores para as que vivem somente com a mãe, as negras, as na 1.ª infância. Entre estas, no cálculo de Naercio Menezes, metade continua abaixo da linha da pobreza mesmo recebendo o Bolsa Família – tamanha a insuficiência de renda. Nos EUA, estima-se que a taxa de pobreza infantil caia agora à metade.
Da Universidade de Columbia em Nova York, o Centro de Pobreza e Política Social estima que o retorno da nova política de proteção social americana será de oito vezes o seu custo para o contribuinte, pelos seus efeitos poderosos sobre o desenvolvimento infantil. O retorno vem no futuro de mais impostos arrecadados (porque o benefício amplia as possibilidades de o adulto de amanhã conseguir emprego, e emprego com melhores salários) e menos gastos (inclusive com saúde e até segurança pública e justiça, dada a triste vulnerabilidade do público beneficiado).
Propostas responsáveis de uma renda universal infantil foram feitas no Brasil em anos recentes por pesquisadores associados ao Ipea. Versões tramitam no Congresso. Em 2019, especulou-se que o governo Bolsonaro apresentaria uma proposta. Nicholas Kristof, articulista do The New York Times, resumiu a dificuldade que esse tipo de proposta tem em angariar apoio da sociedade: crianças não escrevem colunas, não votam e não contratam lobistas.
Rosa DeLauro, deputada americana que autorou o projeto da Lei da Família Americana – base do programa de Biden, acredita que a pandemia expôs a vulnerabilidade desse grupo da população e permitiu a aprovação da proposta. Ela advogou pelo benefício por 18 anos. DeLauro, como Biden e Nancy Pelosi (presidente da Câmara), integram o grupo de democratas católicos – influenciados pela doutrina social.
Mas lá, ao contrário daqui, conservadores também aderiram à pauta. Mitt Romney, o republicano vencido por Obama nas eleições presidenciais de 2012, apresentou proposta de renda universal infantil permanente, ainda mais ousada que a de Biden (que é por ora apenas temporária). Justificou o projeto da Lei de Segurança das Famílias tanto pela redução da pobreza como pela promoção dos casamentos.
Outros conservadores americanos interessados nesse tipo de benefício argumentam pela diminuição de divórcios, aumento da natalidade, redução de abortos e maior estabilidade nos lares. Pauta que deveria ser abraçada pelos defensores da família.
Com a solução apenas temporária para o auxílio emergencial de 2021, o debate sobre proteção social segue aberto no Brasil. Caberá ao Biden brasileiro liderar uma transformação do Orçamento, combatendo desigualdade de renda geracional e abrindo um futuro de maior produtividade para a economia.
*Doutor em economia
Judith Butler: 'Trump e Bolsonaro são sádicos desavergonhados'
'Bolsonaro e Trump são os rostos da crueldade do nosso tempo, e cada um é responsável por incontáveis mortes', afirma Judith Butler
Filósofa americana, que participa nesta quarta (24) de seminário virtual sobre feminismo, fala sobre as perdas da pandemia agravadas pela desigualdade e o novo livro que chegará ao Brasil, em julho, pela Boitempo
Renata Izaal, O Globo
Na última vez em que esteve no Brasil, em 2017, Judith Butler foi alvo de petições on-line e ações judiciais de grupos conservadores que tentaram impedir sua vinda ao país para um seminário sobre democracia. Ela veio, cumpriu sua agenda, mas, na volta para casa, foi agredida no Aeroporto de Congonhas por quem acredita que a filósofa americana é a fundadora da “ideologia de gênero”.
Mas Butler não fundou coisa nenhuma. O que ela fez, de modo muito resumido, foi teorizar sobre o gênero como algo socialmente construído, uma performance. Sua obra, na verdade, é muito mais extensa e avança sobre política e democracia; violência de Estado; luto; poder, discurso e sexualidade; sionismo e a questão palestina.
Hoje, às 14h, Butler voltará a se encontrar com o Brasil, mesmo que remotamente. Ela vai discutir feminismo, corpo e território com a cantora, compositora e ativista Preta Ferreira, dentro da programação do ciclo de debates on-line “Feminismo para os 99%”, realizado pela Boitempo. O encontro será transmitido no canal no YouTube da editora, que publicará, em julho, o livro mais recente de Butler. Em “A força da não violência”, ela critica o individualismo na ética e na política e defende a “igualdade radical” para que se possa construir algo bom juntos.
Em uma breve entrevista, Judith Butler, que leciona na Universidade da Califórnia, Berkeley, reflete sobre pandemia e luto, o negacionismo de Bolsonaro e de Trump e vibra com o feminismo latino-americano: “Movimentos como o Ni Una Menos e o Las Tesis me tocam e inspiram muito”, afirma.
Seu novo livro defende uma igualdade radical, mas a pandemia tem aprofundado as desigualdades em todo o mundo. Como analisa a crise atual e suas possíveis consequências?
Acho que estamos vendo com mais clareza do que nunca as desigualdades econômicas e raciais que foram geradas pelo capitalismo global, além da situação terrível imposta a mulheres, pessoas trans e não binárias, que foram confinadas nas casas onde sofrem violência e degradação. É ainda mais doloroso ver os lucros das farmacêuticas. Mas, mesmo assim, também vivemos num tempo em que a ação contra as mudanças climáticas é imperativa, em que a luta pelas vidas negras soa mais alto e é mais persuasiva, e em que as várias formas de feminismo conquistam apoio. Não está claro em qual direção o mundo irá, mas a sensação de que as lutas estão entrelaçadas me dá esperança.
O luto é um tema importante em sua obra e tem sido debatido na pandemia, que trancou as relações nos meios digitais e impediu tantas despedidas. Qual o impacto disso?
Tem sido devastador para tantas pessoas não poderem se aproximar dos que estão morrendo, terem apenas o Zoom como um meio para o luto e, ao final, serem deixadas com um isolamento que é insuportável e debilitante. Precisamos uns dos outros para vivermos o luto. É importante estar perto fisicamente e regenerar o sentido de uma vida conjunta a partir dessa perda devastadora e, agora, rápida. A arte pública que marca as nossas perdas vai continuar sendo importante, assim como as pequenas reuniões e, eventualmente, as grandes.
Manifestações, como as do movimento Black Lives Matter, foram ao mesmo tempo atos públicos de luto e protesto. Sabemos que tantas pessoas não precisavam ter morrido, que elas sofreram da perda de cuidado adequado com a saúde e que as razões para isso foram a marginalização social, o racismo e a desigualdade econômica. Então teremos que refletir sobre a morte que poderia ser evitada: quem ou o que deixou tantas pessoas morrerem?
O governo dos Estados Unidos levou muito tempo para organizar sua resposta à pandemia, já o brasileiro ainda não o fez adequadamente. Isso é uma forma de violência?
Talvez tenhamos que revisar o nosso entendimento de assassinato, ou que aceitar que há muitas maneiras de lidar com a morte. Esta última está distribuída por toda a sociedade, e os trabalhadores só têm valor quando são produtivos. É o momento para uma renovação das ideias socialistas, começando com uma renda nacional garantida. Trump e Bolsonaro são sádicos desavergonhados. Com isto, quero dizer: se, em algum momento, eles sentem vergonha, a superam por meio do sadismo. São os rostos da crueldade do nosso tempo, e cada um é responsável por incontáveis mortes.
Trump não se encerra com a eleição de Biden e Kamala.
É ótimo que Trump tenha saído. Mas o que seu governo deixou claro é que a supremacia branca, o masculinismo (ideologia que prega a superioridade dos homens e a exclusão das mulheres), a transfobia, a homofobia e o antifeminismo têm raízes profundas na cultura americana. Nossa luta será longa.
Depois da agressão que sofreu no Brasil em 2017, você ainda acompanha o que se passa no país?
Sim, acompanho a situação política no Brasil e as operações do movimento contra a ideologia de gênero. O incidente comigo foi pequeno se comparado com o que aconteceu com feministas e pessoas LGBTQIA+ que perderam suas vidas para a violência, o abuso sexual, o racismo e a transfobia. A questão é: por que é permitido que essas violências aconteçam? Temos que perguntar sobre polícia e complacência do Estado e sobre as notícias falsas e fomentadoras de ódio geradas on-line.
A América Latina tem sido apontada como o epicentro do feminismo hoje. Você concorda?
Movimentos como o Ni Una Menos (que, desde 2015, organiza manifestações contra a violência de gênero na Argentina) e o Las Tesis (coletivo chileno que criou performance contra a cultura do estupro reproduzida em diversos países) me tocam e inspiram muito. São corajosas, enfurecidas e alegres, e o feminismo precisa envolver todo esse arco afetivo para conseguir apoio e exemplificar a nova forma de vida que substituirá a violência, a exclusão e a desigualdade.
Demétrio Magnoli: O maior erro de Biden
Joe Biden imagina-se, com boas razões, na posição ocupada por Franklin Roosevelt em 1933. Seu pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão aquecerá uma economia que já retomou a expansão, direcionando-a para tecnologias transformadoras. Seus primeiros gestos diplomáticos revitalizam as alianças transatlântica e transpacífica que sustentam a influência global dos EUA. Mas nada disso minimizará as consequências de um pecado capital: seu governo segue o roteiro do nacionalismo vacinal de Donald Trump.
O nacionalismo vacinal é a regra entre os países ricos. O Canadá comprou vacinas para imunizar cinco vezes sua população, mas enfrenta dificuldades com o lento fornecimento de doses. A União Europeia adquiriu vacinas em abundância, mas o fez tarde demais e enfrenta carência de imunizantes. Por isso, em desespero, ameaça invocar o Artigo 122 do Tratado da UE, uma lei extraordinária, para impedir a exportação de doses da Oxford/AstraZeneca produzidas em seu território ao Reino Unido. O governo britânico, que aplicou rapidamente a primeira dose em dois quintos da população, impôs um controle oculto à exportação de vacinas.
“As vacinas são para braços americanos primeiro”, declarou Biden, alinhando-se ao nacionalismo vacinal de Trump. Os EUA utilizam a Lei de Produção de Defesa, instrumento criado durante a Guerra da Coreia (1950-53), para impedir exportações de imunizantes sem autorização federal. O America First não terminou com a troca de comando na Casa Branca, mas retraiu-se à esfera da vacinação.
Há exceções pontuais dignas de nota. O Quad, articulação de segurança patrocinada pelos EUA que abrange Japão, Índia e Austrália, prometeu fornecer um bilhão de doses aos países do Sudeste Asiático, num gesto de contenção da influência regional da China. Há pouco, Washington concordou em remeter suas doses estocadas da Oxford/AstraZeneca ao Canadá e ao México. Nesse caso, a “generosidade” é apenas uma extensão do nacionalismo vacinal: a reabertura da fronteira norte depende da imunização no Canadá, e a pandemia só poderá ser declarada extinta nos EUA quando o México vacinar a maior parte de sua população.
A vacinação em massa nos EUA, além de medida sanitária urgente, é parte da estratégia geopolítica de Biden, que depende de uma pujante retomada do crescimento econômico. Mas o nacionalismo vacinal implica renúncia à projeção de influência americana em vastas áreas do mundo em desenvolvimento. China e Rússia agem, agressivamente, para preencher o vácuo.
Três vacinas de origem chinesa (Sinopharm, Sinovac e Cansino) são os principais imunizantes aplicados em parte do Sudeste Asiático, no Paquistão, na Turquia e em países da África do Norte. A Sputnik V, de origem russa, também difundiu-se por países da Ásia Central e do Oriente Médio, da África e mesmo da Europa Central (Hungria e Sérvia).
Pior para os EUA, do ponto de vista geopolítico, é o sucesso da diplomacia vacinal chinesa e russa na América do Sul. O Brasil vacina essencialmente com o imunizante da Sinovac, algo que obrigou o governo Bolsonaro a desistir da aventura insana de barrar a chinesa Huawei do leilão de 5G. No Chile, único país que imuniza velozmente na região, mais de 90% das doses aplicadas são da vacina da Sinovac, sobrando à da Pfizer/BioNTech cerca de 8%. A Argentina, por sua vez, depende principalmente da Sputnik V.
A vacina da Pfizer/BioNTech é quase exclusivamente aplicada em países ricos. A vacina da Moderna não foi nem sequer oferecida a países em desenvolvimento. A África do Sul adquire o imunizante da Oxford/AstraZeneca por mais de duas vezes o preço pago pela União Europeia. A África inteira, com população de 1,3 bilhão, só garantiu 300 milhões de doses para os próximos meses.
Tedhros Adhanom, da OMS, descreveu o cenário como um “fracasso moral catastrófico”. Na hora decisiva da pandemia, o abandono do mundo em desenvolvimento pelos EUA e por seus aliados europeus tende a provocar, ao lado do “fracasso moral”, uma marcante redução da influência global das potências ocidentais. A sombra destrutiva de Trump ainda pesa sobre a Casa Branca.
Christophe Cloutier-Roy: 'Joe Biden apresentou o programa mais progressista dos últimos tempos'
Por ocasião da posse de Joe Biden, Alternatives Économiques decifra as orientações do novo inquilino da Casa Branca. Para implementar seu programa, ele contará com maioria nas duas casas do Congresso, mas uma maioria muito pequena. E se ele ganhou 7 milhões de votos a mais que Donald Trump, o grosso dessa vantagem (5 milhões de votos) está concentrado apenas na Califórnia, o que confirma a profundidade das divisões que atravessam a sociedade americana, que só aumentaram durante o mandato do republicano.
Christophe Cloutier-Roy, pesquisador residente do Observatório sobre os Estados Unidos da Universidade de Québec em Montreal (UQAM) e autor de um artigo recente intitulado Le Parti démocrate en 2020: Joe Biden et l’hydre à quatre têtes (O Partido Democrata em 2020: Joe Biden e a hidra de quatro cabeças), analisa as razões dessas divisões e as opções que o novo presidente tem para tentar reduzi-las.
A entrevista é de Yann Mens, publicada por Alternatives Économiques, 20-01-2021. A tradução é de André Langer.
Eis a entrevista.
São as divisões que cindem a sociedade americana e que Joe Biden terá que tentar superar antes de tudo socioeconômicas ou sobretudo identitárias e culturais, raciais entre outras?
A sociedade americana é palco daquilo que nos Estados Unidos se chama de “guerra cultural”. Este não é um fenômeno recente, embora tenha se intensificado durante o mandato de Donald Trump.
Do que se trata? Desde o final da década de 1960 e a ascensão dos movimentos conservadores, as questões em torno das quais se dão os principais conflitos na sociedade têm sido amplamente ligadas à identidade, à moral, aos valores... São duas visões, duas representações do que deveria ser a sociedade americana, que se confrontam e se materializam através dos dois grandes partidos, o Democrata e o Republicano.
Certamente há um pano de fundo econômico nessas visões, mas ele se combina com outras dimensões. Por um lado, entre os democratas, encontramos os partidários da nova economia implantada nas regiões costeiras, mas mais amplamente as populações das grandes cidades e as minorias étnicas em grande maioria. Por outro lado, os operários vítimas do declínio das indústrias tradicionais no Centro-Oeste e na região dos Grandes Lagos, mas de maneira mais geral as populações das áreas rurais e das pequenas cidades, populações principalmente brancas.
Além daqueles que às vezes são chamados de perdedores da globalização e que conseguiu trazer para o rebanho republicano, Donald Trump conseguiu capitalizar sobre a idealização do passado e a necessidade de o país reconquistar sua supremacia (“Make America Great Again”).
Qual é o papel do racismo nesta visão?
A visão retrógrada dos partidários de Donald Trump tem sido frequentemente interpretada como um desejo de fazer da “brancura” (“whiteness”) um elemento central da identidade americana. Esse racismo ideológico, inspirado na tradição escravista do sul do país, permeia algumas delas. Ao invés, entre os trabalhadores brancos decaídos em termos econômicos, é mais um racismo de ressentimento que se expressa. Eles têm o sentimento de que o Estado, as elites políticas e especialmente os democratas, que durante muito tempo foram os defensores do mundo operário, abandonaram-nos em favor dos afro-americanos e latinos.
Nessa visão altamente estereotipada, os primeiros se beneficiam das ajudas sociais, embora não trabalhem ou mesmo sejam criminosos, e os últimos imigram em massa para viver nas garras dos trabalhadores americanos. Esses trabalhadores brancos têm o sentimento de que são os perdedores em uma competição entre grupos sociais.
Como as divisões cada vez mais intensas na sociedade americana se refletem no cotidiano?
Por uma polarização preocupante de toda a sociedade. Até a década de 2000, a polarização afetava principalmente as elites dos dois principais partidos e a mídia. Hoje, nas pesquisas de opinião, os cidadãos de um campo político descrevem os do outro não apenas como adversários, mas como ameaças à segurança nacional e até mesmo traidores da nação.
Canais de notícias e redes sociais republicanas costumam se referir aos democratas como comunistas, e a mídia democrata retruca chamando os republicanos de nazistas. Todos vivem cada vez mais em uma bolha ideológica que alimenta seus preconceitos. Isso favorece o ativismo das minorias mais radicais dentro de cada partido e muitas vezes permite que obtenham a vantagem durante as primárias.
Essa desconfiança na opinião pública é tanto mais forte quanto na vida cotidiana os eleitores dos dois partidos têm cada vez menos oportunidades de se confrontar, mesmo porque vivem em diferentes áreas geográficas: litoral versus interior, metrópoles versus áreas rurais e pequenas cidades... Porém, quanto menos as pessoas têm a oportunidade de se conhecerem, mais os estereótipos se radicalizam e se solidificam.
Em um contexto onde as divisões são sensíveis, o que Joe Biden pode fazer para reconciliar a sociedade e, em particular, para apaziguar a raiva dos trabalhadores brancos decaídos economicamente?
Joe Biden se apresentou nas eleições de novembro com a plataforma mais progressista da história moderna do Partido Democrata. Muito mais progressista do que as de Bill Clinton e até mesmo de Barack Obama.
Claro, a esquerda de seu partido, liderada especialmente por Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, julga-o muito tímido. E é verdade que ele não aceitou explicitamente algumas de suas propostas, como o seguro-saúde público obrigatório ou o Green New Deal. No entanto, na primeira área (saúde), prevê que todo americano tenha a possibilidade de ter acesso a seguro saúde público, se não puder pagar um privado. E no segundo campo, seu plano para o meio ambiente prevê grandes investimentos em energias renováveis, a reconversão de empregos de indústrias poluentes para os setores verdes...
Não acredito, entretanto, que Joe Biden deva enfrentar frontalmente a questão das divisões culturais e identitárias. Certamente, ele deve combater a discriminação racial, mas seus poderes são relativamente limitados porque, nessa área, muitas políticas públicas (polícia, educação, habitação, etc.) são principalmente de responsabilidade dos Estados federais e dos municípios. Penso que seria perigoso para o novo presidente americano reabrir o debate sobre assuntos como a ação afirmativa porque, por definição, tais políticas beneficiam exclusivamente as minorias étnicas e, portanto, correm o risco de alimentar o ressentimento dos brancos economicamente decaídos.
Por outro lado, pode combater esse ressentimento ao implementar programas econômicos e sociais universais, como no caso do seguro saúde. Se tais programas cobrirem brancos, afro-americanos ou latinos desfavorecidos da mesma maneira, os primeiros não sentirão que os outros dois grupos são favorecidos.
Deve-se notar também que os trabalhadores brancos estão muito mais apegados aos programas sociais do que à redução dos déficits públicos ou à redução dos impostos, dois grandes eixos de luta das elites tradicionais do Partido Republicano.
Joe Biden escolheu como futuros ministros, que ainda não foram confirmados pelo Senado, vários membros de minorias étnicas. Essas personalidades pertencem à esquerda do partido?
Não, a maioria dessas figuras é centrista, como o próprio Joe Biden. O Partido Democrata é formado por uma aliança circunstancial entre as minorias étnicas, sensíveis ao seu discurso sobre os direitos civis, e a esquerda progressista, voltada para as questões sociais e ambientais. No entanto, as minorias étnicas, e em particular os afro-americanos, costumam ser muito conservadoras no nível moral, especialmente por causa de sua forte religiosidade. Elas não têm automaticamente as mesmas prioridades que a esquerda do partido.
Muitos progressistas sonhavam em ver Bernie Sanders nomeado para o Ministério do Trabalho, mas a confirmação pelo Senado teria sido impossível. Eles continuam insatisfeitos porque sua corrente não tem representantes no governo. No entanto, isso não é surpreendente. Joe Biden certamente inclinou seu programa à esquerda depois das primárias, nas quais os progressistas tiveram bom resultado, mas ele acredita que, para superar as divisões na sociedade americana agravadas pela presidência de Trump, deve agora fazer um governo de centro.
Graças à vitória dos candidatos democratas na eleição parcial na Geórgia em 06 de janeiro, Joe Biden tem apoio da maioria, embora muito apertada, em ambas as casas. Mas os republicanos têm os meios institucionais para atrapalhar seus projetos?
Em teoria, sim, na maioria das áreas legislativas em que a aprovação do Senado é necessária. Nesta Casa, os parlamentares podem de fato recorrer ao que se chama de técnica de “filibuster” (obstrução parlamentar): um parlamentar ou um grupo parlamentar toma a palavra e a mantém o tempo que quiser para impedir a aprovação de um texto. Esse obstáculo só pode ser superado com o voto de 60 senadores entre 100 da casa. Hoje, porém, os democratas têm apenas 50 eleitos para o Senado, aos quais se somará a voz da vice-presidente Kamala Harris, caso houver empate.
Deve-se acrescentar, no entanto, que o uso de “filibuster” pode ter um custo político para o partido que a utiliza com demasiada frequência, porque a opinião pública pode ter uma visão muito obscura de uma obstrução sistemática do processo legislativo.
Eu acrescentaria que também na Câmara dos Representantes a atual maioria democrata é muito apertada, sendo apenas quatro votos a mais do que a maioria necessária, que é de 218 votos. Joe Biden, portanto, teria de estabelecer vínculos com republicanos moderados para ter certeza de que poderia aprovar suas reformas. Ao mesmo tempo, essas reaproximações correm o risco de alienar a esquerda de seu próprio partido.
Quando a decisão é bloqueada na esfera federal, é mais fácil atuar na esfera local (Estados federados, condados, municípios...) para superar as divisões da sociedade?
Em algumas partes do país, a polarização da sociedade e das elites políticas é pelo menos tão forte quanto no nível nacional, e é muito difícil superá-la. Especialmente em Estados como Pensilvânia, Flórida, Ohio, Illinois ou Maryland, a divisão das circunscrições eleitorais é da competência do Congresso local. O partido que o controla pode, portanto, traçar um mapa que lhe assegure futuras vitórias, dificultando alternâncias políticas em nível estadual, mas também em nível federal. Porque esses Estados, na maioria dos casos republicanos, têm um grande número de representantes no Congresso Nacional.
Em uma minoria de Estados (Washington, Califórnia, Havaí, Arizona, Idaho, Colorado, Michigan, Nova Jersey), por outro lado, os regulamentos locais atribuem a divisão das circunscrições a uma comissão independente, o que permite um melhor equilíbrio na distribuição dos eleitores.
Além das questões de divisão eleitoral, notamos que em Vermont, Massachusetts, Maine ou New Hampshire, as divisões partidárias são menos rígidas do que na Flórida ou em Ohio. Como resultado, mesmo que o Congresso local seja repetidamente dominado por um partido, os eleitores às vezes escolhem um representante do outro lado para o cargo de governador, ou seja, o chefe do executivo local. Dito isso, trata-se geralmente de um moderado em seu próprio campo.
Há um ditado político que diz que os Estados são o laboratório da democracia americana. É verdade que muitas vezes é no nível local que as reformas são experimentadas, as quais são então adotadas por outros Estados e, depois, possivelmente estendidas ao nível federal.
Por exemplo, foi em Massachusetts, sob o governador republicano Mitt Romney (2003-2007), que foi implementada uma reforma do seguro saúde que serviu de modelo para o Obamacare. Da mesma forma, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, autorizado em vários Estados a partir de 2003, acabou sendo generalizado em 2015 por decisão da Corte Suprema. E a legalização da maconha recreativa, em vigor desde 2014 no Colorado, agora está se espalhando para muitos outros Estados, embora ainda não seja o caso no nível federal.
Apesar do ataque ao Capitólio que chocou muitos americanos, o Partido Republicano pode se distanciar de Donald Trump se a base permanecer leal ao presidente em fim de mandato?
O sucesso de Donald Trump ao ser eleito em 2016 foi atrair às urnas muitos cidadãos que antes não participavam ou participavam raramente das urnas, mas que votaram nele nas primárias e depois nas eleições presidenciais. Se ele não participar das próximas eleições, não é certo que esses cidadãos voltem a votar.
Nas “midterms” [eleições de meio de mandato] de 2018 e durante o segundo turno da recente eleição para o Senado na Geórgia, vimos que, quando Donald Trump não está nas cédulas, a taxa de participação cai entre os republicanos.
A retirada dos eleitores mais leais a Donald Trump daria uma chance a figuras mais moderadas dentro do partido. Claro, Donald Trump pode permanecer ativo na vida política e assim influenciar o partido. Muita gente pensa que ele voltará a concorrer em 2024 – pelo menos se o processo de impeachment lançado nos últimos dias pela Câmara dos Deputados, que deve levar a um processo no Senado, não o impedir. Mas mesmo se ele tiver a oportunidade, o cenário político pode mudar muito em quatro anos.
A única certeza hoje é que em breve uma grande batalha será travada dentro do Partido Republicano. Em teoria, uma divisão não pode ser descartada, mas os dois grandes partidos são muito resilientes. Seu domínio sobre a vida política remonta a meados do século XIX.
As próximas eleições legislativas ocorrerão em 2022. Os líderes republicanos não têm interesse em bajular a base trumpista para vencê-las?
Nas eleições legislativas presidenciais de meio de mandato (“midterms”), os eleitores republicanos tradicionalmente votam mais do que os democratas, o que, a priori, dá uma vantagem ao Grand Old Party (apelido do Partido Republicano) para 2022.
Por outro lado, os “midterms” são vistos sobretudo como uma espécie de referendo sobre a ação do presidente, uma oportunidade para sancioná-lo. Para vencê-las, os republicanos têm mais interesse em criticar Joe Biden do que em defender Donald Trump e seu histórico polêmico. Seu objetivo será forçar Joe Biden a coexistir com um congresso de maioria republicana, como fizeram em 2010 com Barack Obama.
É concebível suprimir o Colégio Eleitoral que elege o presidente, na medida em que este método de votação indireta confere uma vantagem eleitoral indevida ao Partido Republicano, que regularmente tem uma minoria na população, mas maioria nesta instância?
Para suprimir ou reformar o Colégio Eleitoral, a Constituição teria que ser alterada. Isso pressupõe que a emenda seja aprovada por maioria de dois terços em cada uma das duas câmaras do Congresso Nacional e, em seguida, seja ratificada pelas legislaturas locais de pelo menos três quartos dos Estados federados. Essas maiorias supõem o apoio do Partido Republicano. No entanto, a supressão do Colégio Eleitoral seria um suicídio garantido para esse partido, pois os democratas são claramente maioria em toda a população, especialmente nas áreas urbanas mais populosas.
De fato, desde 1992, os republicanos conquistaram o sufrágio popular apenas uma vez, em 2004, em uma eleição presidencial. Dificilmente podemos contar com seu apoio para uma supressão ou uma reforma profunda deste sistema.
Leia mais
- América Latina não é prioridade para Biden, aponta cientista político americano
- O gabinete católico de Joe Biden
- “Biden na Casa Branca significa a derrota dos soberanistas católicos.” Entrevista com Maria Antonietta Calabrò“
- Joe Biden segue uma lógica socialdemocrata”. Entrevista com Anton Brender
- EUA. Biden escolhe um católico negro para liderar o Pentágono. Uma escolha histórica – e que viola normas civis-militares
- Biden, um católico da Casa Branca entre os venenos da igreja estadunidense. O “Social Gospel” e a sintonia com o Papa Francisco. Diálogo sobre religião, política e democracia
- O que Joe Biden (e todos os católicos estadunidenses) devem ao jesuíta John Courtney Murray. Artigo de Massimo Faggioli
- Joe Biden, presidente eleito dos EUA, falou com o papa Francisco
- Biden e a Amazônia: manutenção da agenda de Salles ou nova forma de intervenção?
- Biden e os EUA dos opostos extremismos. A palavra de Massimo Faggioli
- Os planos de Biden para a Saúde
- Biden precisa expandir o mais longe possível as políticas econômicas progressistas
- Saudações a Joe Biden, o segundo presidente católico dos EUA. Editorial do National Catholic Reporter
- Duas Américas também na Igreja: a cautela sobre o presidente católico. Artigo de Massimo Franco
- Uma satisfação que também revela aquela do Papa Francisco: “Congratulações, Biden”
- Biden, católico adulto, libertará o Papa da pressão de Viganò e dos conservadores
- Biden, o discurso termina com uma canção bíblica: “Um novo amanhecer”
- Poderiam Francisco e Biden encontrar um ao outro como João Paulo II e Reagan?
- Maravilha e limites da derrocada de Trump
- O fim do “cativeiro trumpiano” da Igreja estadunidense. Artigo de Massimo Faggioli
- As bases do trumpismo. Artigo de Richard Sennett
- Você piscou e Donald Trump fez exatamente o que Bernie Sanders disse que ele faria
- Kamala Harris é mais do que gênero e raça: é também o futuro da religião nos EUA
- EUA. Resultado das eleições revelam nação dividida pela raça e religião, dizem comentaristas políticos
Marcos Sorrilha: Relatos do mundo atual
Marc Bloch, um dos mais famosos historiadores do século XX, dizia que “os homens se parecem mais com o seu tempo do que com seus pais”. O mesmo serve para os produtos culturais. Elaborações humanas, tais criações trazem impressas as inquietações dos sujeitos que as concebem, bem como a influência do tempo que os move. Relatos do Mundo, filme lançado no final de 2020 e protagonizado por Tom Hanks é um exemplo disso.

Neste western, vemos Jefferson Kyle Kidd, um ex-capitão na Guerra Civil, em sua tentativa de reconstruir sua vida arrasada pelo conflito entre o Norte e o Sul. Diante da impossibilidade de seguir com sua antiga profissão de tipógrafo, o veterano assume um novo papel na sociedade: o de levar as notícias de jornais aos rincões do Texas, por meio de leituras feitas a um público formado majoritariamente por fazendeiros analfabetos.
Em suas andanças pelo interior do estado da estrela solitária, Jefferson Kidd encontra Johanna, uma menina órfã, filha de alemães, mas criada por indígenas da etnia Kiowa. A tragédia marca a história da pequena que, além de ter seus pais mortos pelos nativos, também viu sua família adotiva ser dizimada. Neste encontro, Kidd toma para si o desafio de reconduzi-la a um novo lar, fato que rapidamente se converte no gatilho para o desenrolar da trama do filme.
Ambientado no ano de 1870, o filme tem todos os elementos de um western e dialoga com noções clássicas de uma tradição de produções do gênero, como bem observou Luiz Gonzaga Marchezan em sua crítica ao longa-metragem. Porém, Relatos do Mundo não é um bang-bang qualquer. Ainda que, à sua maneira, todos os elementos estejam lá – seja pelo ambiente social hostil, na paisagem árida ou no conflito entre civilização e barbárie – , o filme tem mais a falar sobre 2020 do que sobre o passado narrado em seu roteiro. Trata-se de uma leitura sobre o desafio de unir uma América cindida pelo recrudescimento da polarização política das últimas décadas e que teve seu ápice durante os anos em que Donald Trump foi presidente dos EUA.
Os primeiros quinze minutos de tela são cruciais para entendermos essa questão. Neles, somos apresentados ao contexto histórico em que o filme se passa: a Reconstrução do Sul (1865 – 1877). Em uma cena repleta de tensão, Jefferson Kidd transmitia notícias do Governo Federal quando menciona o nome de Ulysses Grant. Imediatamente, o ex-General do Exército da União e então presidente dos EUA é chamado de “facínora” pelo público que assistia ao “noticiário”. O tumulto torna-se inevitável quando o personagem de Tom Hanks menciona que, para que o retorno do Texas aos EUA fosse concretizado, o estado deveria aderir integralmente às novas emendas da Constituição que previam o fim da escravidão e a extensão da cidadania aos afro-americanos, incluindo o direito ao voto a todos os homens maiores de vinte e um anos.

O público, então, aos gritos, volta-se contra um grupo de soldados federais que acompanhava a reunião, questionando não apenas a sua presença no recinto, mas em suas terras. Afinal, o trabalho do exército não era o de protegê-los dos índios e dos mexicanos ao invés de tratá-los como inimigos? Qual o papel do governo federal senão o de explorá-los e roubar suas liberdades? Em boa medida, a cena ecoa o discurso de uma classe média branca e que se sentiu preterida pelo Estado durante o processo de globalização nos tempos atuais.
Porém, é preciso que se diga que, para muitos historiadores estadunidenses, o período da reconstrução é essencial para se entender a divisão política que se tornou ainda mais evidente na última década. Uma espécie de ressurgimento de um orgulho branco, seja na defesa pelos monumentos da Guerra Civil ou da bandeira confederada demonstra que o ressentimento apresentado nas primeiras cenas do filme ainda encontra respaldo na atualidade. Ao contrário de sua proposta inicial, a Reconstrução não conseguiu cumprir seus objetivos: não garantiu a extensão de direitos aos afro-americanos, tampouco garantiu uma reintegração pacífica do Sul à União.
Naquela oportunidade, exibida no western, Jefferson Kidd interveio dissipando a confusão. Sem deixar de demonstrar compaixão por sua audiência, ele discursou sobre os tempos difíceis pelo qual passava o país e da necessidade de que todos fizessem sua parte para a sua superação. E tal superação passa pelo acerto de contas com o passado. Não em forma de vingança, mas na reconciliação de um povo com seus traumas, suas feridas.

De maneira geral, essa é a mensagem do filme trazida a nós pelo diálogo dos principais protagonistas: Kidd e Johanna. Em dado momento, ao lembrar-se da morte dos pais, a menina se entristece. Para poupá-la da dor, seu companheiro de jornada sugere que ela esqueça o que aconteceu e siga adiante, pois assim, afastar-se-ia mais rápido do sofrimento. No entanto, ela se recusa a aceitar a proposta e devolve dizendo: “para seguir em frente é preciso se lembrar”, aceitar a dor e torná-la parte da narrativa. Eis o desafio da América pós-Trump.
Finalmente, existe ainda uma última passagem na qual o presente salta às telas misturada à paisagem rude do século XIX. É quando Kidd se levanta contra a disseminação de notícias falsas em nome da democracia e do livre arbítrio. Ao se negar a ser o locutor de uma “verdade alternativa” – completamente distante da verdade factual – , Jefferson Kidd confronta o potentado local narrando os fatos do mundo real. E, naquele momento, ele se dirige a todos nós: são relatos de um mundo extremamente atual.
(Uma versão ampliada do argumento do artigo está disponível em formato de vídeo no canal do Professor Marcos Sorrilha no YouTube. Confira:
https://youtu.be/RtxVWH569-w )
Caetano Araújo: Duas Américas
Com exceção dos enclaves francófonos e holandeses, nosso continente é culturalmente bipartido e as metades ibérica e anglófona se encontram na fronteira entre México e Estados Unidos. Daí a importância simbólica do primeiro encontro entre os presidentes Biden e Lopez Obrador, por meio de videoconferência, em primeiro de março passado.
Ficou claro, de início, a diferença da posição americana em relação ao governo anterior. A retórica agressiva, bem como a abordagem do problema migratório como caso de polícia, foi descartada pelo governo democrata que se inicia e substituída pela intenção declarada de construir e acumular consensos em todos os pontos de divergência e conflito da agenda bilateral.
Mas as mudanças percebidas foram além do tom e da linguagem empregada no diálogo. O conteúdo da agenda é novo também. Três foram os grandes temas assinalados: mudança climática, ou seja, proteção ao meio ambiente e transição para fontes de energia limpa; o combate à pandemia; e a cooperação no trabalho de regularizar o movimento de migrantes em direção ao norte, com a prevenção consequente da migração ilegal.
Claro que essa agenda não se restringe, na perspectiva americana, às relações com o México, mas devem ser replicados no diálogo a ser travado com todos os países da região, contempladas as especificidades de cada caso. Ou seja, é possível antever o tamanho das dificuldades que se avizinham para países descuidados com a questão ambiental e omissos no combate à pandemia.
Importa também tentar discernir os desdobramentos possíveis dessa agenda, no caso de um diálogo continuado e produtivo em torno dessas questões. No caso da mudança climática, ações coordenadas de contenção e, num enfoque otimista, reversão do processo, demandarão a construção de um conjunto de regras e objetivos comuns, a valer no âmbito do continente.
O mesmo ocorre no caso do combate à pandemia. Parece claro que a fábrica de doenças, por mudanças ambientais e da sociabilidade humana, está funcionando a pleno vapor, de modo que o simples controle da ameaça atual não é bastante. Precisamos transitar para uma política de segurança sanitária continental, na qual a Organização Panamericana de Saúde deve ganhar novas atribuições.
Finalmente, a questão da migração exige o equacionamento comum de questões espinhosas como uma nova estratégia de controle e prevenção do consumo de narcóticos; a restrição progressiva da produção e circulação de armas de fogo; o combate ao crime organizado; e a reconstrução econômica dos países da América Central, origem hoje das principais caravanas de migrantes em direção ao norte.
Augusto de Franco: Sinais de envenenamento da democracia
Uma das descobertas mais importantes dos estudos (de pesquisadores do V-Dem, da Universidade de Gotemburgo) sobre a terceira onda de autocratização em curso é que 70% dos esforços de autocratização são feitos por meios legais (1).
Desde que a terceira onda de autocratização começou em 1994, 75 episódios de aumento de governos autocráticos – períodos de declínio democrático substancial – ocorreram em todo o mundo. A maioria não envolveu violência física. Ou seja, em mais de 52 países os processos de autocratização (ou de assassinato lento da democracia) não rasgaram as constituições (e, pode-se acrescentar, deixaram as instituições funcionando).
As democracias agora são mortas lentamente, como por envenenamento (por arsênico, por exemplo). Isso pode ser feito sem violar as leis, rasgar a Constituição, fechar as instituições (e empastelar a imprensa).
Tanques nas ruas? Nem pensar. Direitos políticos e liberdades civis formais podem permanecer vigendo. Além disso, eleições multipartidárias podem continuar ocorrendo normalmente.
Ah!… mas se tudo isso está funcionando, por que se diz então que as democracias estão sendo mortas? Pois é. Para dar uma resposta a esta pergunta é preciso entender o que é a democracia. Pela visão minimalista de democracia – como troca (eleitoral) de governo sem derramamento de sangue – a democracia não está ameaçada nesta terceira onda de autocratização. O que, por si só, revela que essa visão – que reduz a democracia ao processo eleitoral – é absurda. E é absurda, antes de qualquer coisa, porque não percebe que as principais ameaças atuais à democracia vêm dos populismos – que amam de paixão as eleições (2).
Todavia, mais de 80% dos nossos representantes políticos e uma parte considerável de nossos analistas, também não conseguem entender como a democracia pode estar sendo derruída sem violação das leis. É a isso que nos referimos quando falamos do nosso déficit de democratas.
Para onde devemos olhar para perceber os sinais de envenenamento que estão matando as democracias lentamente? E que sinais são esses?
Recolocando a questão. Onde estão os sinais de envenenamento (da democracia) quando o corpo (as instituições) ainda acha que está sadio? Ou seja, nos estágios iniciais da “doença”, as instituições não percebem que estão sendo envenenadas.
O Estado de direito não dá conta de identificar os ataques contemporâneos à democracia e de se defender desses ataques. Como eles (esses ataques, que são contínuos ou intermitentes – e não se parecem nada com um putsch de cervejaria) não violam abertamente as leis, então são considerados parte da dinâmica normal da democracia. É como colocar o vigia noturno de uma manufatura para cuidar da segurança da Microsoft.
É por isso que não existem leis contra a falsificação da opinião pública via manipulação das mídias sociais. E não é porque isso seja uma novidade contemporânea (do século 21). Bem antes, já não existiam leis contra o discurso inverídico, contra o uso da democracia (notadamente das eleições) contra a própria democracia e nem contra a destruição das normas não escritas que estão abaixo do sistema legal-institucional e lhe dão suporte.
É justamente nessas falhas estruturais da democracia que devemos procurar os sinais de envenenamento (ou de desconsolidação) da democracia (3).
Apenas com os indicadores atuais de direitos políticos e liberdades civis (usados, por exemplo, pela Freedom House, pela The Economist Intelligence Unit ou mesmo pelo V-Dem) não se consegue captar esses sinais. Até porque eles são fracos nos estágios iniciais do envenenamento. E além de fracos, eles não são visíveis diretamente. As mudanças que vão matar lentamente a democracia são subterrâneas (4).
Alguns sinais de envenenamento da democracia
Se houvesse um número suficiente de democratas, alguns sinais de avanço do autoritarismo e de desconsolidação da democracia teriam sido percebidos por uma parcela maior de pessoas e teriam alertado a sociedade sobre os perigos que está correndo.
Quais seriam esses sinais? Vão abaixo alguns exemplos. O primeiro deles – o marco zero de qualquer processo de desconsolidação da democracia – é o crescimento de uma retórica autoritária por parte de líderes emergentes que conseguem infectar a esfera pública; e o último, que resume tudo, é a dilapidação progressiva do estoque de capital social.
Tirando os itens mais óbvios, como os ataques à imprensa profissional, o surgimento de propostas de armamentismo da população (não apenas para defesa pessoal ou como política de segurança pública e sim como preparação para combater algum inimigo interno) e o florescimento de seitas fundamentalistas que misturam religião com política, cabe examinar aqui o que é menos óbvio ou menos percebido pelas análises políticas.
Registre-se que o caso brasileiro tem uma singularidade em relação a outros processos de autocratização da democracia que estão ocorrendo no mundo atual. Aqui há, historicamente, a permanência da tutela militar sobre o poder civil e a presença de forças armadas (ou policiais) possuídas pela ideologia do “inimigo interno”. É alto o grau de aparelhamento do governo por oficiais das forças armadas (sendo altíssima a porcentagem de militares da ativa ou da reserva que ocupam cargos de primeiro, segundo e terceiro escalões). Além disso, oficiais das forças armadas, da ativa ou da reserva, emitem declarações políticas tentando intimidar ou pressionar as instituições civis (como os tribunais superiores e o parlamento). Não vamos tratar agora, porém, dessa particularidade.
Mas estes – ataques à imprensa, armas e munições para abastecer milícias, tutela militar e militarização – não são sinais de envenenamento lento da democracia. Já são ofensivas abertas e declaradas à democracia. Vamos examinar aqui apenas sete sinais, portanto:
1 – O crescimento de uma retórica autoritária, inicialmente antissistema e, em seguida, anti-democracia.
2 – O aumento da relevância de forças políticas populistas (i-liberais e majoritaristas, ditas “de direita” ou “de esquerda”) e o recrudescimento da polarização (“nós” contra “eles”) com a consequente degeneração da política como guerra.
3 – A subversão da democracia por meios democráticos (ou o uso da democracia – notadamente das eleições – contra a própria democracia).
4 – A replicação do discurso antipolítico (associado – mas nem sempre – ao combate à corrupção) e a ascensão de movimentos de opinião que pregam a realização de cruzadas de limpeza (étnica, ética, religiosa ou nacional).
5 – A proliferação de milícias digitais que falsificam a opinião pública por meio da manipulação das mídias sociais.
6 – A violação das normas não-escritas que estão abaixo do sistema legal-institucional e lhe dão sustentação.
7 – Para resumir (ou sintetizar) tudo, a dilapidação do estoque (ou a interrupção do fluxo) de capital social.
Vamos examinar a seguir cada um desses sinais.
1 – O crescimento de uma retórica autoritária, inicialmente antissistema e, em seguida, anti-democracia
Como já foi dito, tudo começa com a retórica. É sempre o primeiro sinal. Se candidatos, governantes ou representantes das forças políticas que o apoiam, têm a coragem de vir à esfera pública proferir ideias autoritárias (ainda que sejam só ideias), então isso – se não for um ato isolado, episódico, marginal, mas uma prática sistemática – é um indício de que um processo de autocratização está em curso.
“Ah! Mas é pura retórica” – argumentam as pollyannas que sempre pontificam nessas horas. Nada disso. Retórica é política. Se há a presença de uma retórica autoritária é porque já há uma política autoritária (às vezes em embrião).
O discurso intolerante é um sintoma de que uma guerra (contra a democracia: e a guerra, qualquer guerra, até mesmo a política praticada como continuação da guerra por outros meios, já é contra a democracia) está chegando. Quando as palavras começam a ser usadas como armas para atingir as instituições e os procedimentos democráticos, alguma coisa muito ruim está vindo. Tudo começa com a fala.
Se Jair Bolsonaro, quando era deputado, ao fazer apologia da ditadura e da tortura e falar em matar adversários políticos – tudo “pura retórica” – tivesse sido punido, talvez hoje não estivesse capitaneando, como presidente da República, a depredação da democracia no Brasil. Isso nos remete diretamente ao Paradoxo da Tolerância, de Karl Popper (1945): “A tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada até àqueles que são intolerantes; se não estivermos preparados para defender uma sociedade tolerante contra os ataques dos intolerantes, o resultado será a destruição dos tolerantes e, com eles, da tolerância” (5).
Diz-se que a democracia é o tipo de regime onde é lícito discordar publicamente do próprio regime. E que atos ilícitos em uma democracia são aqueles que levem a ações concretas que ponham a democracia em risco real e iminente. Este é um erro muito comum, sobretudo sob a terceira onda de autocratização em que vivemos. Pois como definir “risco real e iminente” numa época em que as democracias não caem mais por golpes armados, mas são derruídas lentamente, em alguns casos até sem violar explicitamente as leis e rasgar as constituições. Numa época como esta, quando os regimes democráticos são vítimas de um envenenamento diário, baseado – antes de qualquer coisa – em retórica autoritária e propaganda da intolerância, não vale mais o velho argumento principista de que vale tudo “se for só retórica”.
Argumentar, em termos teóricos, contra a democracia, é lícito, por certo, em democracias. Mas não fazer propaganda da ditadura, do fechamento do parlamento, da prisão dos membros dos tribunais, da volta de leis de exceção. Isso não é liberdade de opinião e sim apologia da ditadura. Apologia de ditadura não é liberdade de opinião: é crime. Pergunte-se a qualquer um na Alemanha se fazer apologia do nazismo é liberdade de opinião. Apologia do fim da liberdade de opinião não pode ser encarada como liberdade de opinião. Por isso a pregação da intolerância não pode ser tolerada.
O discurso intolerante pode ser detectado por perguntas simples. No caso brasileiro atual elas chegam a ser óbvias (6). Não é por falta delas que não se detecta precocemente a autocratização do regime e sim porque não há uma visão clara das condições para que uma democracia não se desconsolide. E não há, entre muitas outras razões, porque os populismos tomaram de assalto a esfera pública de opiniões.
O fato é que todos os populismos, digam-se “de esquerda” ou “de direita”, usam e abusam da retórica antissistema. Querem jogar o povo (quer dizer, seus seguidores) contra o sistema (o establishment, representado pelas elites). O problema é quando o sistema que denunciam é o sistema democrático. Aí é necessário acender o alerta amarelo no nosso sistema de detecção precoce de desconsolidação da democracia.
2 – O aumento da relevância de forças políticas populistas (i-liberais e majoritaristas, ditas “de direita” ou “de esquerda”) e o recrudescimento da polarização (“nós” contra “eles”) com a consequente degeneração da política como guerra.
Antes de qualquer coisa é necessário entender o que são os populismos contemporâneos. Não é a velha demagogia, que raramente ameaça de morte à democracia. Se a democracia não pudesse metabolizar os demagogos, fisiológicos e corruptos que sempre aparecem, então nunca teria havido democracia. O que a democracia não consegue metabolizar é um grande aumento de populistas antidemocratas, i-liberais e majoritaristas – que são uma forma contemporânea e maligna de populismo.
Populistas contemporâneos caracterizam-se por esposar as seguintes crenças: 1 – A sociedade está dividida por uma única clivagem, separando a vasta maioria (o povo) do establishment (as elites); 2 – A polarização (elites x povo) deve ser encorajada. Os representantes do povo (que são os atores legítimos ou mais legítimos) não devem fazer acordos (a não ser táticos) ou construir consensos (idem) com os representantes das elites (posto que estes são ilegítimos ou menos legítimos) e sim buscar sempre suplantá-los, fazendo maioria em todo lugar (majoritarismo); 3 – As minorias políticas (antipopulares) não devem ser toleradas (e devem ser deslegitimadas) quando impedem a realização das políticas populares e a legalidade institucional (erigida para servir às elites) não deve ser respeitada quando se contrapõe aos interesses do povo.
Definitivamente, daí sai não política, mas guerra. Ora, a guerra é o contrário da democracia (que é um modo pazeante, ou não-guerreiro, de regulação de conflitos): seja a guerra quente, seja a guerra fria, seja a política como continuação da guerra por outros meios (na fórmule-inverse de Clausewitz-Lenin). A predominância ou a incidência relevante de uma política como guerra do “nós” contra “eles” é um sinal de desconsolidação da democracia.
Quando uma força política populista (dita de esquerda, de direita ou de extrema-direita) consegue alcançar, digamos, uns 20% de adesão, já é sinal de que a democracia foi envenenada (e pode vir a se desconsolidar).
Mas se houver dois populismos (ditos “de esquerda” x “de direita”) polarizando o cenário político, então é sinal de que a democracia foi seriamente comprometida. Porque a polarização tende a marginalizar quem não está em um dos polos. Ela deforma o campo de tal maneira que uma partícula qualquer não pode ter uma trajetória livre nesse campo: escorrerá por creodos, por sulcos já cavados, indo parar em um dos polos, excluindo os democratas e, no limite, defenestrando-os da cena pública.
Quando um conjunto de forças democráticas não funciona mais como centro de gravidade da política, é sinal de que a democracia já começou a se desconsolidar. Cabe registrar que o conceito de ‘centro’, aqui mencionado, não é o geométrico, evocando uma equidistância entre esquerda e direita. Centro é o centro de gravidade da política. Então, repetindo, é possível afirmar que quando um conjunto de forças democráticas não funciona mais como centro de gravidade da política, é sinal de que a democracia já começou a se desconsolidar.
Não raro, populismos ditos “de esquerda” preparam o terreno para o surgimento de populismos ditos “de direita”. No Brasil deste século, o neopopulismo lulopetista começou a envenenar a democracia com a insistência no “nós” contra “eles” e a degeneração da política como guerra. Isso tornou o ambiente propício à reação extremada e surgiu então um populismo-autoritário bolsonarista, muito pior do que o anterior. Mas o inverso também pode acontecer. Ou re-acontecer.
Uma vez a esfera pública esteja vincada pela polarização entre dois populismos, dificilmente a democracia conseguirá se recuperar. Alerta vermelho, portanto, no nosso sistema de detecção precoce de desconsolidação da democracia.
3 – A subversão da democracia por meios democráticos (ou o uso da democracia – notadamente das eleições – contra a própria democracia).
Esta é uma falha genética da democracia dos modernos. Na democracia representativa, um dos critérios da legitimidade democrática (a eletividade) acabou se sobrepondo aos outros cinco critérios (a liberdade, a publicidade ou transparência, a rotatividade ou alternância, a legalidade e a institucionalidade). Os populistas então encontraram uma falha no arranjo representativo (e resolveram explorá-la): descobriram que é possível usar as eleições contra a democracia.
Para falar a verdade, os oligarcas atenienses – membros da aristocracia fundiária que se contrapunham à democracia, já haviam descoberto que é possível ganhar votações (7).
O fato é que a democracia virou, para todos os efeitos práticos, sinônimo de regime eleitoral. Surgiram até visões teóricas minimalistas da democracia como troca (eleitoral) de governo sem derramamento de sangue. Se essa é a visão de democracia então pode-se fazer qualquer coisa para desconstituí-la, desde que se mantenha o processo eleitoral.
Ocorre que os regimes não-eleitorais, na atualidade, são muito poucos e estão em extinção. Os adversários atuais da democracia, salvo um outro caso exótico (como Myanmar), não querem acabar com a democracia para instaurar ditaduras de manual como a Coréia do Norte ou Cuba. Os processos de desconstituição de democracia avançam hoje para transformar democracias liberais em democracias (apenas) eleitorais e para transformar democracias eleitorais em autocracias eleitorais.
As ditaduras clássicas ou autocracias fechadas (não-eleitorais), até muito recentemente, estavam presentes em apenas 27 países. Pela classificação do V-Dem (Varieties of Democracy da Universidade de Gotemburgo), em dados de 2017 (que não se alteraram significativamente), tínhamos apenas 39 democracias liberais, 55 democracias eleitorais e 56 autocracias eleitorais (que tendem, estas últimas, a crescer).
Quer dizer, a tendência aponta para o surgimento de regimes autoritários (autocracias) com a manutenção – não mais com a abolição – do processo eleitoral. Para lá caminharam Rússia e Turquia. Para lá caminham Hungria e Polônia. E para lá se tentou levar os Estados Unidos e ainda se tenta levar o Brasil.
O maior perigo hoje para os regimes democráticos é o uso da democracia contra a democracia. A subversão da democracia por meios legais, com a manutenção dos processos eleitorais. Quando populistas são eleitos é bom acender o alerta amarelo. Se eles são reeleitos, é caso para alerta vermelho no nosso sistema de detecção precoce de desconsolidação da democracia.
4 – A replicação do discurso antipolítico (associado – mas nem sempre – ao combate à corrupção) e a ascensão de movimentos de opinião que pregam a realização de cruzadas de limpeza (étnica, ética, religiosa ou nacional).
Este é outro indicador de depredação da política (democrática). É um ataque insidioso, uma vez que ninguém pode, em sã consciência, ser a favor da corrupção ou colocar-se contrário à luta para coibi-la.
Cruzadas de limpeza nunca resultam em mais-democracia. Cruzadas de limpeza da política – animadas por conclamações do tipo: “vamos caçar os corruptos” – nunca conferem à política a tarefa de consertar os erros da própria política. Querem reparar as mazelas da política por cima da política (e por fora da democracia) – muitas vezes a partir de estamentos corporativos do Estado. São, assim, antipolíticas.
Em geral as cruzadas de limpeza ética da política são tentativas de reeditar o jacobinismo, o terra-arrasadismo e o restauracionismo robespierriano. Exploram e instrumentalizam o moralismo da população, vendendo a ideia de que as pessoas estão nas péssimas condições de vida em que estão porque alguém está desviando e embolsando o dinheiro da saúde, da educação e de outros serviços sociais prestados pelo Estado. Investem no punitivismo, apoiando-se no ressentimento social, no desejo de vingança e na vontade de revanche (para “dar o troco”). Quando parte do público que acompanha a obra de limpeza entra em transe punitivista – vê uma cabeça rolar e só se satisfaz quando mais uma cabeça rola, e mais uma, e mais uma… – então é sinal de que a espiral da vingança já está instalada.
A grande inspiração para essas cruzadas – o jacobinismo da revolução francesa – não tinha qualquer compromisso com a democracia. Queria arrasar a terra para restaurar o mundo a partir do zero, de modo autocrático. O famoso discurso parlamentar de Robespierre, de 28 de dezembro de 1792, proferido na Convenção, dominada pelos jacobinos, deixa claro que se trata de instaurar processos de exceção, abrindo mão dos ritos jurídicos e do contraditório, apressando a condenação e a execução de Luís XVI: “Fundadores da República, segundo estes princípios, vocês podiam julgar, há muito tempo, na alma e na consciência, o tirano do povo francês. Qual a razão de um novo adiamento? Vocês gostariam de anexar novas provas contra o acusado? Vocês querem ouvir testemunhas? Esta ideia ainda não entrou na cabeça de nenhum de nós” (9). Um mês depois (em janeiro de 1793), Luís XVI seria executado na guilhotina. Logo em seguida, ainda no verão de 1793, o jacobino Marat seria assassinado pela aristocrata Marie-Anne Charlotte de Corday d’Armont. Robespierre então voltou a discursar: “Que o gládio da lei caia, que seus assassinos, que seus cúmplices, que todos os conspiradores pereçam. Que o sangue deles seja derramado para satisfazer a alma do mártir da liberdade. Nós o exigimos em nome da dignidade nacional ultrajada” (10). A partir daí instalou-se o Terror, e as cabeças começaram a rolar em julgamentos sumários sem provas.
As duas principais cruzadas contra a corrupção foram, nos últimos tempos, a operação Mani Pulite, na Itália dos anos 90 e a Operação Lava Jato, no Brasil a partir de 2014. Elas seguiram mais ou menos o seguinte roteiro: a) Deslegitimação do sistema político (que de tão apodrecido já não pode mais tomar medidas para sua própria restauração); b) Crítica à ineficiência ou excesso de liberalismo do sistema judicial e das leis (que seriam ineficazes para combater a corrupção); c) Prisões antes do julgamento e coação dos presos para forçar delações; d) Vazamentos para a imprensa (para conquistar a simpatia dos meios de comunicação e o seu apoio e formar uma opinião pública favorável aos seus procedimentos heterodoxos); e) Criação de movimentos sociais em apoio à cruzada de limpeza ética; e f) Constituição de uma força política com características jacobinas e restauracionistas após a terra-arrasada (de preferência com a cruzada lançando seus próprios candidatos nas próximas eleições: o que de fato aconteceu na Itália e pode acontecer no Brasil) para conquistar o poder de Estado (11).
Trata-se de um engano e de uma maneira de enganar a opinião pública. Nem a situação de penúria da população é consequência (a não ser em pequeníssima parte) do roubo dos corruptos, nem a corrupção destrói a democracia. Não há um só caso na história de um país democrático que tivesse virado uma ditadura em razão do aumento do número de corruptos por metro quadrado.
Como já foi dito anteriormente, a corrupção endêmica na política é metabolizável pela democracia: embora a enfraqueçam ou diminuam a sua qualidade, não a eliminam. Ao contrário, não raro, líderes honestos, verdadeiros Varões de Plutarco, podem acabar instaurando regimes autoritários: o exemplo mais eloquente são os autocratas espartanos que, aliás, financiaram, e operaram mesmo, em 411 e 404 a.C., dois golpes contra a democracia ateniense, que consideravam um regime de veadinhos e ladrões (sempre brandindo o espantalho do “corrupto” Péricles, não por acaso o principal expoente da democracia).
Mas as cruzadas de limpeza não ocorrem apenas contra a corrupção na política. Elas, às vezes, têm caráter de classe. As revoluções russa e chinesa promoveram verdadeiros massacres para limpar o país dos elementos capitalistas remanescentes. Também podem ocorrer por motivos étnicos ou nacionais, como na perseguição aos judeus na Alemanha nazista, na guerra da Bósnia e em vários genocídios africanos. Nestes casos são bem piores, considerando-se suas consequências anti-humanas. A origem de todas, entretanto, repousa na mesma ideia de pureza ou de purificação que seria necessária para preparar uma restauração do mundo. A matriz desse pensamento pode ser encontrada no pensamento totalitário de Platão que, por sua vez, deita raízes no tribalismo patriarcalista dório (Esparta, Creta e Siracusa) e nas urdiduras sacerdotais que inauguraram o modo próprio de pensar do patriarcado (12).
Em todo caso, quando aparece uma cruzada de limpeza, seja qual for seu pretexto, pode-se acender o alerta amarelo no nosso sistema de detecção precoce de desconsolidação da democracia. Coisa boa não virá na sequência.
5 – A proliferação de milícias digitais que falsificam a opinião pública por meio da manipulação das mídias sociais.
Como já foi dito no artigo As falhas genéticas da democracia (13), a democracia não tem proteção eficaz contra a falsificação da opinião pública a partir da manipulação das mídias sociais, que desabilita qualquer razão comunicativa, destruindo o espaço discursivo de interações de opiniões.
Esta falha só foi percebida muito recentemente (na última década). Os populistas, acionando suas facções, promovem ataques de enxame (swarm attacks, contra os quais não se conhece defesa) para inviabilizar a emergência de uma opinião pública, substituindo-a pela soma de opiniões privadas e, com isso, estilhaçam a esfera pública em miríades de esferas privadas, destruindo o processo de formação e de verificação da vontade política coletiva. Embora o problema seja recente, notadamente depois que mídias sociais e programas de mensagens apareceram e foram colonizados por facções populistas, já há vasta literatura sobre o fenômeno, mas não solução. Hoje este é o problema mais importante que a democracia enfrenta e que pode inviabilizá-la como modo de regulação de conflitos.
De qualquer modo, o assunto requer um tratamento mais aprofundado que extravasa o escopo (e o tamanho) deste artigo. Um texto resumo da problemática é A abolição da opinião pública pelos populismos, mas existem muitos outros (14).
Por ora, é suficiente ver que se há esses ataques sistemáticos, promovidos por alguns hubs (poucas centenas são suficientes) de uma rede descentralizada e tendo como correia de transmissão milhares de pessoas-bot (que, por sua vez, também usam bots), é sinal de que a democracia está indefesa. Alerta vermelho em nosso sistema de detecção precoce de desconsolidação da democracia.
6 – A violação das normas não-escritas que estão abaixo do sistema legal-institucional e lhe dão sustentação.
Em geral, presta-se pouca atenção a esse sinal. Mas ele é um dos mais importantes. Basicamente, a democracia não pode ser protegida apenas pelas leis (escritas). Por isso todo legalismo é insuficientemente democrático. Não, não basta não violar as leis para proteger a democracia. Sem um pacto social, mesmo que tácito, de respeito aos bons costumes políticos (as normas não escritas), a democracia fica indefesa quando se elege um tirano cujo programa é de destruição da democracia.
Existem regras não escritas que não devem ser violadas, nem mesmo em contendas acirradas. Alguns exemplos: √ Aceitar a derrota; √ Parabenizar o vencedor; √ Não tripudiar sobre o derrotado; √ Não mentir; √ Não acusar as regras (que foram aceitas antes da contenda) pela derrota; √ Não tentar mudar as regras do jogo durante o jogo; √ Não alegar falsamente que perdeu porque houve fraude; √ Não deslegitimar o adversário; √ Não encorajar a polarização (“nós” contra “eles”); √ Não transformar o adversário em inimigo (da pátria, do povo, da nação, do Estado, de Deus); √ Não levantar falso testemunho perante a justiça (nem praticar litigância de má-fé) contra um adversário; √ Tratar as divergências por meio de um debate aberto e tolerante, valorizando a moderação e a busca do consenso; √ Fazer oposição leal.
Se estas regras não escritas começarem a ser violadas – no todo ou em grande parte, como fez Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro está repetindo no Brasil – então é sinal de que a democracia está em risco. Alerta amarelo no nosso sistema de detecção precoce de desconsolidação da democracia.
7 – Para resumir (ou sintetizar) tudo, a dilapidação do estoque (ou a interrupção do fluxo) de capital social.
A melhor maneira de detectar precocemente o avanço do autoritarismo é monitorar o fluxo de capital social. Se ocorrem instabilidades ou perturbações nesse fluxo é sinal de que há uma corrente subterrânea alterando profundamente a “produção” de capital social, antes que o seu estoque decaia perceptivelmente. Infelizmente, não temos ainda como fazer isso. Não há um consenso sobre quais seriam os indicadores de capital social e, muito menos, sobre os sinais que indicariam variações nos fluxos interativos da convivência social (pois é deste fluxo que se trata) quando o processo de autocratização ainda é subterrâneo (15).
Alguma coisa já se sabe, porém. Sabe-se, em primeiro lugar, que abaixo de certo nível de capital social nenhuma democracia pode perdurar. O livro pioneiro de Robert Putnam (1993) sobre as tradições cívicas na Itália moderna foi importante, além de tudo, pelo título: Making democracy work.
Sabemos também, em segundo lugar, que o capital social diz respeito aos padrões de convivência social, quer dizer, à configuração da rede social existente e à fenomenologia da interação que nela se manifesta. Quando algum processo de autocratização está em curso, a rede social que suporta (a palavra não seria bem essa, mas vá lá) a democracia começa a se esgarçar – e a fenomenologia da interação que nela se manifesta se altera – antes que isso seja percebido como mudanças nas instituições. Um indicador perceptível disso é que há um decréscimo na inovação social: os inovadores desaparecem, os atalhos entre seus clusters se desfazem e coisas novas deixam de ocorrer no mesmo ritmo com que ocorriam. Outro indicador é o aumento dos graus de belicosidade (ou de comportamento inamistoso) na base da sociedade e no cotidiano dos cidadãos, com um clima de “guerra fria” instalando-se em localidades e setores. Este comportamento adversarial atravessa inclusive as famílias e outras formas primárias de sociabilidade (como os grupos de amigos e colegas de trabalho e as vizinhanças residenciais, como condomínios, ruas e bairros).
Em terceiro lugar, sabemos que o capital social pode ser dilapidado – ou mantido abaixo de certos níveis ótimos para a continuidade do processo de democratização – pela manutenção de políticas públicas de oferta estatal centralizada, assistencialistas, clientelistas. Ainda que isso não seja decisivo para autocratizar a democracia, seu resultado é o enfreamento do processo de democratização. Indiretamente a democracia perde credibilidade quando não consegue mais responder tempestivamente aos anseios das pessoas, parecendo algo atrasado, anacrônico e inútil (o que é sinal de desconexão e desconsolidação democráticas).
Infelizmente, porém, quando conseguimos detectar, mesmo indiretamente, sinais de avanço do autoritarismo e de desconsolidação da democracia, é porque um processo de autocratização já está em curso. Quando percebemos que a democracia poderá ser envenenada é porque ela já foi envenenada. Ou seja, não temos ainda um bom sistema de detecção precoce. Mas é necessário continuar trabalhando nisso.
*Augusto de Franco,escritor, palestrante e consultor, com várias dezenas de importantes obras
Notas
(1) Cf. Anna Lührmann & Staffan I. Lindberg (2019), Uma terceira onda de autocratização está aqui: o que há de novo sobre isso?, Democratization, DOI: 10.1080 / 13510347.2019.1582029.
(2) Um estudo empírico recente mostrou que das 47 vezes que um líder populista assumiu o poder (via eleições) entre 1990 e 2014, em apenas oito casos (17%) ele deixou o cargo depois de perder eleições livres e justas: em geral os líderes populistas deixam o cargo em circunstâncias dramáticas. Além disso, eles duram mais no cargo (duas vezes mais do que os líderes democraticamente eleitos que não são populistas e são quase cinco vezes mais propensos do que os não-populistas a sobreviver no cargo por mais de dez anos). Mas tem mais: no geral, 23% dos populistas causam um retrocesso democrático significativo, comparado com 6% dos líderes democraticamente eleitos não populistas. Em outras palavras, os governos populistas são cerca de quatro vezes mais propensos do que os não-populistas a prejudicar as instituições democráticas. E ainda: mais de 50% dos líderes populistas alteram ou reescrevem as constituições de seus países, e muitas dessas mudanças ampliam os limites dos mandatos ou enfraquecem os controles sobre o poder executivo. Por último, os populistas atacam os direitos individuais. Sob o domínio populista, a liberdade de imprensa cai em cerca de 7%, as liberdades civis em 8% e os direitos políticos em 13% – sem que nenhuma dessas três coisas deixe de existir. Confira Jordan Kyle e Yascha Mounk (2018), The Populist Harm to Democracy: An Empirical Assessment, Tony Blair Institut for Global Change, 26th December 2018.
(3) Foa e Mounk (2017) escreveram que “o fenômeno da desconsolidação democrática é conceitualmente distinto das avaliações sobre quão democraticamente um país está sendo governado em um dado momento. Uma importante linha de pesquisa na ciência política tenta medir o grau no qual um país permite eleições livres e justas ou oferece a seus cidadãos direitos básicos, como liberdade de expressão. Os dois trabalhos mais influentes nesse sentido são os índices Polity e o da Freedom House, que são muito bons para se medir o estado atual da democracia em determinado país. Mas a questão da consolidação ou desconsolidação democrática não diz respeito ao grau de democracia, mas à sua durabilidade”. Cf. Roberto Stefan Foa e Yascha Mounk (2017), The signs of deconsolidation, Journal of Democracy, Volume 28, Número 1, Janeiro de 2017 © 2017 National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins.
(4) Com efeito, como escrevi no artigo Não é possível salvar a democracia, “por incrível que pareça o que mantém a democracia não é o que aparece e sim o que não aparece, o que não é tão tangível (como, por exemplo, a produção e o estoque de capital social). Como se sabe, abaixo de certo nível de capital social a democracia não pode funcionar. O problema é que a democracia pode continuar (aparentemente) funcionando enquanto o capital social está sendo erodido. Este é, precisamente, o problema das nossas democracias sob ataque dos populismos”. Cf. Franco, Augusto (2021). Não é possível salvar a democracia. Dagobah (25/01/2021).
(5) Em uma nota de rodapé, em O Feitiço de Platão, primeiro volume de A Sociedade Aberta e seus Inimigos, ele escreveu (segue a nota inteira): “A tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada até àqueles que são intolerantes; se não estivermos preparados para defender uma sociedade tolerante contra os ataques dos intolerantes, o resultado será a destruição dos tolerantes e, com eles, da tolerância. Nesta formulação, não quero implicar, por exemplo, que devamos sempre suprimir a manifestação de filosofias intolerantes; enquanto pudermos contrapor a elas a argumentação racional e mantê-las controladas pela opinião pública, a supressão seria por certo pouquíssimo sábia. Mas deveríamos proclamar o direito de suprimi-las, se necessário mesmo pela força, pois bem pode suceder que não estejam preparadas para se opor a nós no terreno dos argumentos racionais e sim que, ao contrário, comecem por denunciar qualquer argumentação; assim, podem proibir a seus adeptos, por exemplo, que deem ouvidos aos argumentos racionais por serem enganosos, ensinando-os a responder aos argumentos por meio de punhos e pistolas. Deveremos então reclamar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar os intolerantes. Deveremos exigir que todo movimento que pregue a intolerância fique à margem da lei e que se considere criminosa qualquer incitação à intolerância e à perseguição, do mesmo modo que no caso da incitação ao homicídio, ao sequestro de crianças ou à revivescência do tráfego de escravos”. Popper, Karl (1945). A Sociedade Aberta e seus Inimigos, Vol. 1. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974.
(6) As perguntas seguintes, sugeridas pelo caso brasileiro atual, também podem valer, mutatis mutandis, para outros países e regimes – conquanto se apliquem melhor a regimes democráticos parasitados por forças populistas-autoritárias. 1 – Existem e são significativas, por parte do governante ou das forças políticas que o apoiam, tentativas de demonizar os meios de comunicação não-alinhados ao governo, acusando-os de divulgarem fake news ou de serem “os inimigos” e estarem traindo a pátria? 2 – Há, por parte do candidato, do governante ou das forças políticas que o apoiam, tentativas de priorizar ou hierarquizar os sujeitos dos direitos humanos, como, por exemplo, as que afirmam que os direitos humanos devem ser destinados principalmente aos “humanos direitos” em detrimento dos “humanos tortos” ou dos “bandidos”? O candidato, o governante ou a forças políticas que o apoiam, difundem preconceitos contra os direitos humanos (por exemplo, os de que “bandido bom é bandido morto”)? 3 – Há tentativas de estabelecer uma associação automática – mesmo que feita somente através de discursos das forças políticas que apoiam um candidato ou governante – entre crime, corrupção e adesão a alguma ideologia considerada exótica? 4 – O candidato, ou governante ou as forças políticas que o apoiam, defendem que o combate às visões ideológicas julgadas perversas (por uma ideologia particular, tal como esposada pelo candidato ou pelo governo) será o mesmo (ou da mesma natureza) que o combate aos crimes? 5 – Há, por parte do candidato, do governante ou das forças políticas que o apoiam, tentativas de instalar uma guerra cultural (entre crenças, valores, costumes, cuja adesão cabe à decisão privada dos cidadãos)? 6 – O governante ou as forças políticas que o apoiam, qualificam como terroristas grupos sociais e forças políticas que se opõem ao governo? 7 – Há, por parte do candidato, do governo ou das forças políticas que o apoiam, manifestações de algum tipo de xenofobia e de fundamentalismo nacionalista (mesmo que disfarçado de patriotismo)? 8 – Há, por parte do candidato, do governante ou das forças políticas que o apoiam, a defesa de algum tipo de controle estatal da expressão artística, mesmo a pretexto de combater a zoofilia, a pedofilia, a sexualização precoce ou a indução ao gayzismo (que afetaria crianças e jovens)? E se não há, o candidato, o governante ou as forças políticas que o apoiam, emitem declarações ou organizam ações de propaganda a favor desse tipo de controle? 9 – O candidato, o governante ou as forças políticas que o apoiam, defendem algum tipo de intervenção estatal no ensino escolar a pretexto de coibir a doutrinação com alguma ideologia considerada exótica – ou com alguma ideologia com a qual não se identificam – em sala de aula? 10 – O candidato, o governante ou as forças políticas que o apoiam, estimulam a militarização da educação com a adoção de algum tipo de “religião patriótica”, que instaure um culto aos heróis da pátria? 11 – Há, por parte do candidato, do governante ou das forças políticas que o apoiam, tentativas de reescrever a história (e, sobretudo, de ensinar tais falsificações históricas nas escolas ou em cursos paralelos de deformação política), enaltecendo regimes autocráticos do passado ou promovendo antigos violadores de direitos humanos (por exemplo, conhecidos torturadores) como heróis da pátria? 12 – Há, por parte do candidato, do governante ou das forças políticas que o apoiam, alegações de que não faz sentido, em uma sociedade tradicionalmente cristã (ou hindu, ou islâmica, ou judaica), que o Estado seja laico? 13 – O candidato ou o governante se apresenta – e assim é visto pelas forças políticas que o apoiam – como escolhido ou guiado por deus para cumprir uma missão redentora? Apresenta-se como defensor da civilização contra algum inimigo universal que quer destruir os seus valores e instituições – a família, a religião, a pátria ou a nação (conferindo-lhe o status de entidade acima de tudo e colocando acima de todos um deus capaz de intervir na história ou na política) contra a qual haveria uma conspiração?
(7) Se a reforma de Clístenes, em 509 a.C., em vez de instaurar uma centena de poleis (comunidades políticas, instaladas nos demoi), tivesse introduzido a eleição geral de governantes pelo voto majoritário de todos os habitantes de Atenas, jamais teríamos ouvido falar a palavra democracia. Clístenes é comumente considerado o inventor da democracia. Mas a democracia não é invenção de ninguém. Ele não tinha a menor noção das consequências da sua reforma que substituiu o genos (os clusters das grandes famílias da aristocracia fundiária) pelo demoi (os cerca de cem distritos onde se formaram poleis, comunidades políticas). Aliás, a reforma de Clístenes só vigorou mesmo cerca de meio século depois. Os oligarcas de Atenas continuaram dominando as assembleias e elegendo seus representantes. Somente com a reforma do Areópago, proposta por Efialtes (antecessor de Péricles) em 461 a.C., alterou-se a composição de forças políticas na condução dos assuntos da cidade. Mas, subterraneamente, um movimento democratizante estava em curso a partir de 509 a.C. Ninguém sabe ao certo como foi introduzido o sorteio para a escolha dos membros do Areópago. Mas o sorteio foi decisivo para impedir que os oligarcas – mais organizados do que os simpatizantes da democracia (que nem sabiam o que era ou seria a democracia) – continuassem controlando os processos eleitorais. Sim, os oligarcas usavam as eleições contra a democracia. Parece óbvio. Quem está organizado para vencer eleições tem mais condições de vencer eleições. Pode-se dizer que, nos primeiros cinquenta anos, as eleições para o arcontado em Atenas foram usadas contra a democracia. Explica-se. As eleições sempre podem ser usadas como variantes de uma guerra (a “política como continuação da guerra por outros meios”). E a guerra é a autocracia.
(8) Cf. Regimes of the world (ROW): Opening new avenues for the comparative study of political regimes, por Anna Lührmann V-Dem Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg, Sweden | Marcus Tannenberg V-Dem Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg, Sweden | Staffan I. Lindberg V-Dem Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg, Sweden, 19/03/2018 in Politics and Governance (ISSN: 2183–2463), 2018, Volume 6, Issue 1, Pages 60–77 | DOI: 10.17645/pag.v6i1.1214.
(9) O trecho inteiro de Robespierre é o seguinte. “Fundadores da República, segundo estes princípios, vocês podiam julgar, há muito tempo, na alma e na consciência, o tirano do povo francês. Qual a razão de um novo adiamento? Vocês gostariam de anexar novas provas contra o acusado? Vocês querem ouvir testemunhas? Esta ideia ainda não entrou na cabeça de nenhum de nós. Vocês duvidariam daquilo que a nação acredita fortemente. Vocês seriam estrangeiros à nossa revolução e, em vez de punir o tirano, estariam punindo a própria nação… Cidadãos, trair a causa do povo e nossa própria consciência, abandonar a pátria a todas as desordens que a lentidão desse processo deve excitar, eis o único perigo que devemos temer. Está na hora de ultrapassarmos o obstáculo fatal que nos prende há tanto tempo no início de nossa carreira. Assim, sem dúvida, marcharemos juntos para o objetivo comum da felicidade pública. Assim, as paixões odiosas, que brandam muito frequentemente neste santuário da liberdade, darão lugar ao amor pelo bem público, à santa emulação dos amigos da pátria. Todos os projetos dos inimigos da ordem pública serão vexados”. Maximilien de Robespierre: discurso de 28 de dezembro de 1792, proferido na Convenção. Cf. Gumbrecht, Hans Ulrich. As funções da retórica parlamentar na Revolução Francesa – Estudos preliminares para uma pragmática histórica do texto. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.
(10) Idem.
(11) Cf. Franco, Augusto (2020). O texto de Moro sobre a Mani Pulite com alguns comentários. Dagobah (29/10/2020): http://dagobah.com.br/o-texto-de-moro-sobre-a-mani-pulite-com-alguns-comentarios/
(12) Isso já foi mostrado no artigo de Franco, Augusto (2019): Fundamentos filosóficos das teorias da corrupção. Dagobah (28/04/2019): http://dagobah.com.br/fundamentos-filosoficos-das-teorias-da-corrupcao/
(13) Franco, Augusto (2020). As quatro falhas genéticas da democracia. Dagobah (09/11/2020). http://dagobah.com.br/as-quatro-falhas-geneticas-da-democracia/
(14) Franco, Augusto (2020). A abolição da opinião pública pelos populismos. Dagobah (02/03/2020) http://dagobah.com.br/a-abolicao-da-opiniao-publica-pelos-populismos/. Pode-se ler também os numerosos artigos encontrados na seguinte busca: http://dagobah.com.br/?s=midias+sociais
(15) O conceito de capital social, com o sentido que hoje lhe atribuímos, foi cunhado por Jane Jacobs (1961) em Morte e vida de grandes cidades. Em artigo de 2001 O conceito de capital social em Jane Jacobs já expus as razões dessa atribuição de autoria. As raízes da ideia devem ser buscadas, entretanto, em Alexis de Tocqueville (1835-1840) no seu A democracia na América. Mostrei, também em 2001, porque se trata de um conceito político no artigo O conceito de governo civil em Alexis de Tocqueville. Todavia, o conceito de capital social foi usado e ficou mais conhecido como uma noção metafórica, formulada em linguagem utilizada em teorias do desenvolvimento, para fazer referência a uma variável sistêmica que não é facilmente medida (ou sequer percebida) nas equações que tentam relacionar os diversos tipos de “capitais” tomados como fatores do desenvolvimento: os propriamente econômicos, como a renda e a riqueza (os capitais stricto sensu: capital financeiro e capital físico ou empresarial) e os demais “capitais” (lato sensu) tomados como externalidades e que se referem aos fatores humanos, ambientais e sociais (como o capital humano, o chamado capital natural e, finalmente, o capital social – que seria a tal variável sistêmica, que tem a ver com os índices de confiança e cooperação presentes em uma sociedade). No entanto, esse tipo de abordagem, que se tornou corrente quando o assunto passou a ser considerado no âmbito das teorias do desenvolvimento (ainda sob forte viés economicista e produtivista) a partir do célebre artigo de James Coleman (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital – e em seguida no seu tratado Foundations of Social Theory (1990) – está defasado em relação às recentes descobertas da fenomenologia da interação (sobretudo nos Highly Connected Worlds em que já vivemos no dealbar do terceiro milênio).
Dorrit Harazim: Cidadão radioativo
A vida pós-presidencial de Donald Trump não será menos desviante das normas e da tradição política do que seus anos no poder. Com apenas 13 meses de intervalo, encerrou-se ontem o segundo processo de impeachment que o alcança na aposentadoria em Mar-a-Lago. Desta vez, a acusação foi por “incitamento à insurreição” de sua horda de militantes armados, que desembocou na selvagem invasão do Capitólio de 6 de janeiro. Atiçado pelos longos meses de retórica incendiária do comandante-em-chefe, o bando tentara impedir a ratificação burocrática, pelo Legislativo, da vitória eleitoral de Joe Biden. Naquele surto de terrorismo messiânico a peito aberto, com torcida na Casa Branca, viu-se a face do horror possível.
Os democratas que impulsionaram esse impeachment nº 2 sabem fazer contas. Sabiam, portanto, da dificuldade de obter junto à geleia desfibrilada de senadores republicanos os votos necessários para a condenação de Trump. Talvez por isso, ao longo de 14 horas, apresentaram seus argumentos de acusação visando a atingir também duas audiências cruciais, ambas fora do plenário: a opinião pública mundial e os anais da história. É essa minuciosa reconstituição dos fatos que passará a constar como registro oficial, indelével, da primeira tentativa de sedição de um presidente dos EUA contra as leis democráticas do país.
Absolvido de impeachment pela segunda vez, o cidadão Trump ainda é capaz de causar grandes estragos à nação, avalia seu sucessor. Biden já sinalizou que quebrará uma norma de cortesia e confiança republicana em vigor desde o século passado: não franqueará ao antecessor aposentado o privilégio de receber o boletim diário ultrassecreto reservado ao chefe da nação. O famoso PDB (sigla para President’s Daily Briefing) é a compilação de informações e análises sobre segurança nacional preparada a cada 24 horas para o presidente. Entre as centenas de relatórios diários produzidos pelas 19 agências de inteligência dos EUA, apenas o PDB é elaborado para um único cliente — o comandante-em-chefe. E não chega a 10 o número de altos funcionários com acesso a seu conteúdo.
Talvez o mais célebre PDB de todos os tempos, tornado público em 2004, tinha por título “Bin Laden determinado a atacar nos Estados Unidos”. Fora dirigido ao republicano George W. Bush, 43º ocupante do cargo, com data de 6 de agosto de 2001. Deveria ter recebido a atenção que merecia. Pouco mais de um mês depois, os ataques de 11 de setembro derrubariam as Torres Gêmeas e colocariam o país de joelhos.
Além do PDB convencional, um analista em carne e osso também aponta ou esclarece algum outro elemento-chave do boletim, na suposição de que o informe já tenha sido lido. Suposição frustrada no caso de Trump. Ao longo de seus quatro anos no poder, ele nunca demonstrou interesse pela papelada. Simplesmente não tinha paciência para ler, além de não distinguir o que vinha assinalado com um “S” (de secreto). Colocava-se acima das picuinhas de segurança nacional para poder impressionar seus pares mundiais, arrostando segredos.
Suas transgressões foram inúmeras. Certa vez, no próprio Salão Oval, compartilhou com o chanceler russo uma peça de inteligência ultrassecreta sobre o Estado Islâmico, produzida por Israel; doutra vez, copiou com celular não criptografado a raríssima imagem obtida por satélite de uma base de lançamento de foguetes do Irã. Sem contar as célebres reuniões com a raposa russa Vladimir Putin, sem a presença de qualquer assessor. Numa delas, Trump chegou a confiscar as anotações dos intérpretes, fazendo com que os EUA não tenham qualquer registro do que ali foi falado.
Biden avaliou tudo isso, além do que chamou de “comportamento errático” do antecessor, para não estender ao cidadão Trump acesso a esses briefings, tradicionalmente disponibilizados a todo ex-ocupante do cargo. Atualmente, tanto Jimmy Carter como Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama têm passe livre aos PDBs. Isso porque a utilidade da cortesia e da confiança interessa às duas partes. Não é incomum a Casa Branca recorrer a presidentes aposentados para missões especiais no exterior, conferindo-lhes uma representatividade oficiosa, sem precisar ser oficial. E, quando a viagem é de caráter privado, todo ex tem interesse em saber se marcou encontro com alguém que anda sabotando a política dos EUA. Também lhe interessa estar atualizado com os bastidores de negociações em curso, para não dizer besteira.
À luz do currículo que deixou na Casa Branca, o cidadão Trump não preenche nenhum requisito dessa confiabilidade. “Todo ex-presidente é, por definição, um alvo e representa um risco. Mas o ex-presidente Donald Trump é particularmente vulnerável a más intenções por parte de maus atores”, alerta Susan M. Gordon, que, na qualidade de vice-diretora de Inteligência Nacional entre 2017 e 2019, participou de incontáveis briefings com o chefe.
Pela primeira vez na história dos EUA, um ex-presidente é visto como risco potencial à segurança do país. Sua teia mundial de negócios e dívidas o tornam tão vulnerável a chantagem quanto um espião com esqueletos brabos no armário. Sem falar no risco de ele fazer uso indevido por conta própria, com material tão valioso em mãos.
Melhor não arriscar. O cidadão Trump continua radioativo em seu próprio país. Sua militância radical também.
El País: Senado absolve Trump em seu segundo ‘impeachment’
O ex-presidente é liberado da acusação de incitamento à insurreição após o ataque ao Capitólio. Democratas, com 57 votos a favor da condenação e 43 contra, não alcançam a maioria de dois terços
O Senado absolveu neste sábado Donald Trump da acusação de incitação à insurreição pelo ataque ao Capitólio que uma turba de seus seguidores realizou em 6 de janeiro para boicotar a confirmação da vitória eleitoral de Joe Biden. 57 dos 100 membros da Câmara Alta (os 50 democratas e sete republicanos) votaram no veredito de culpado, mas não chegaram os 67 (dois terços) necessários à condenação. 43 republicanos votaram contra. Nunca um julgamento por impeachment havia causado tanto respaldo entre os membros do partido do acusado. Esse processo deixa a figura de Trump condenado pela história e exibe a fratura que ele criou no Partido Republicano.
Alguns republicanos absolveram Trump apenas no sentido constitucional do impeachment, mas culpando o ex-presidente pelo ataque. O exemplo mais claro dessa dualidade foi Mitch McConnell, líder dos conservadores na Câmara Alta. Depois de votar “inocente”, ele tomou a palavra para denunciar a “escandalosa” falta de respeito da performance de Trump naquele dia fatídico e disse: “Não há dúvida de que o presidente é praticamente e moralmente responsável pelos acontecimentos daquele dia”.
Os Estados Unidos concluíram o impeachment mais incomum dos quatro experimentados até agora, no qual os senadores atuaram como jurados e também como testemunhas e, em grande parte, como vítimas. Essa mesma sala onde o caso foi julgado foi, por sua vez, o objeto do cerco daquele dia, palco do crime. O julgamento deixou o país ainda chocado com o assalto ocorrido há pouco mais de um mês e que deixou o mundo sem palavras e o orgulho americano ferido. Trump se tornou o primeiro presidente a passar por um procedimento como esse duas vezes e o primeiro a fazê-lo fora da Casa Branca.
O julgamento pelo segundo impeachment a Donald Trump chegou neste sábado a sua reta final com mudanças imprevistas de roteiro. A declaração pública de uma congressista republicana na noite de sexta-feira, prejudicial ao ex-presidente, mudou o esquema da acusação democrata, que pediu para que ela testemunhasse, o que iria atrasar o desenlace. Por fim, aceitaram incluir seu comunicado como prova e evitar o depoimento.
As partes passaram então a apresentar suas argumentações finais no Senado e o voto sobre o veredicto era esperado ao longo do dia. “Trump deve ser condenado pela segurança de nosso povo e de nossa democracia”, enfatizou o democrata Jamie Raskin, líder dos chamados gestores do processo de impedimento, o grupo de congressistas da Câmara de Representantes que atuou como promotores no julgamento do Senado. Os republicanos argumentam que o impeachment não faz sentido, além da responsabilidade de Trump no ataque, pois é um mecanismo concebido para presidentes e ele já não está na Casa Branca. A acusação frisa, entretanto, que é preciso levá-lo adiante para evitar que chegue a qualquer cargo no futuro, e alerta que deixar seu comportamento impune deixa um precedente perigoso para qualquer Governo.
O julgamento, que começou na terça-feira, abordou minuciosamente o ataque violento de 6 de janeiro e as palavras de estímulo com as quais Trump encorajou a horda no mesmo dia, mas o quarto impeachment na história dos Estados Unidos julga seu presidente por algo mais que seu papel nesse momento, o julga por ter torpedeado a transição pacífica do poder e por tentar destruir a vontade que os norte-americanos expressaram nas urnas nas eleições presidenciais de 3 de novembro. Durante meses, o republicano agitou o boato de fraude, desmentido pela Justiça, pressionou os legisladores para que não reconhecessem Biden e encorajou a mobilização civil. No dia em que o Congresso deveria certificar a vitória do democrata, após um discurso em que lhes disse para “lutar como o demônio”, a violência explodiu. Cinco pessoas morreram. “Trump nos traiu deliberadamente”, frisou o congressista David Cicilline, outro dos promotores.
Os democratas acentuaram seu comportamento enquanto ocorria o ataque para tentar demonstrar que Trump sabia o que suas falas haviam provocado e as mantinha. Ou seja, que não é válido o principal argumento da defesa, que as palavras do republicano não significaram um chamado literal à violência e a cometer crimes, e sim fazem parte de uma “retórica política habitual” protegida pela Primeira Emenda da Constituição, que consagra a liberdade de expressão. Este é o ângulo do julgamento que ferveu na noite de sexta-feira e que provocou a viagem de ida e volta sobre a citação das testemunhas.
Na sexta-feira, Jaime Herrera Beutler, que é uma das republicanas que votaram a favor do impeachment na Câmara de Representantes (fase inicial do procedimento), confirmou à imprensa por escrito que o líder republicano dessa Câmara, Kevin McCarthy, lhe contou uma conversa entre ele e Trump durante o ataque, em 6 de janeiro, em que o mandatário havia tomado o partido dos vândalos. Segundo a congressista, McCarthy lhe disse que ligou para Trump para pedir-lhe que encorajasse seus seguidores a deter a insurreição e obteve como resposta: “Bom, parece que estão mais irritados com a eleição do que você”. O ex-presidente estava na época furioso com os colegas de partido que não o apoiavam nos boatos sobre uma fraude eleitoral e pretendiam levar adiante a certificação de Biden.
Em que momento Trump soube do ataque e como reagiu a ele são os elementos que também estiveram no centro da sessão do julgamento na tarde de sexta-feira, já que, para a acusação, constituem provas contundentes da possível conivência do à época presidente dos Estados Unidos com os atacantes do Congresso.
Com o assunto sobre a mesa, Raskin pediu neste sábado a oportunidade de chamar Herrera Beutler para depor. O Senado aprovou com uma maioria de 55 a 45, já que cinco senadores republicanos se uniram aos 50 democratas nessa questão. São os quatro críticos a Trump e que deveriam votar para condená-lo (Susan Collins, Mitt Romney, Lisa Murkowski e Ben Sasse) e um dos aliados do ex-presidente, Linsey Graham. Horas depois, entretanto, chegaram a um acordo para evitá-lo.
Sem número para uma condenação
O veredito de culpa se antevia difícil. Ele precisa do apoio de 67 dos 100 senadores, que exercem de júri, o que significa que 17 republicanos deveriam se unir aos democratas para condenar o ex-presidente. Duas votações preliminares, sobre aspectos prévios, indicaram que as contas não batiam. O líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, comunicou aos seus colegas de partido na manhã de sábado que votaria a exoneração no que definiu como “muito parelha”. McConnell havia responsabilizado Trump pelo ataque, mas no voto final argumentou que o magnata já não é presidente e, se cometeu um crime, pode ser processado na Justiça comum. “A Constituição deixa perfeitamente claro que a conduta criminosa de um presidente pode ser perseguida quando abandonar o cargo”, disse em sua carta.