revista piaui
Piauí: Os números chocantes da desigualdade vacinal
Imunização brasileira é lenta e discriminatória. País é o 73º em proporção de vacinados. E regiões pobres, com menos idosos, ficam no fim da fila. Em SP, distritos mais protegidos são 8 vezes mais ricos que os com menos doses aplicadas
Por Antonio S. Piltcher, Amanda Gorziza e Renata Buono, na Piauí
A vacinação contra a Covid-19 no Brasil caminha a passos lentos. Em relação à proporção da população vacinada, o país está na 73ª posição do ranking mundial. Alguns locais do Brasil são mais impactados pela falta de vacinas e pela distribuição desigual do imunizante. Na cidade de São Paulo, os distritos mais vacinados têm renda média oito vezes maior e vacinam quatro vezes mais que os distritos menos vacinados. Na cidade do Rio, um morador do Baixo Leblon tem três vezes mais chance de ter recebido a primeira dose da vacina contra Covid que um morador do Vidigal. Municípios com maior proporção de população indígena estão com taxas de vacinação maiores. Na Paraíba, uma cidade de maioria indígena aplicou quinze vezes mais doses que o município vizinho. Para realizar as comparações, foram utilizados os microdados do Open Data SUS, que permitem mapear a imunização dentro dos municípios, pois incluem os primeiros cinco dígitos do CEP de cada pessoa vacinada. Assim, foi possível estimar a proporção de habitantes imunizados em cada bairro. Os números foram compilados pelo Pindograma, site de jornalismo de dados.

O Mato Grosso do Sul é o estado que mais aplicou doses de vacina contra a Covid-19 proporcionalmente à sua população – 18 doses a cada 100 habitantes até 9 de abril. O ideal é que se tenham 200 doses a cada 100 indivíduos, já que são necessárias duas aplicações para a completa imunização. Por outro lado, o Mato Grosso, estado vizinho, aplicou metade das doses – apenas 9 a cada 100 pessoas. Ambos têm proporções semelhantes de idosos em sua população: MS com 13% e MT com 12%.
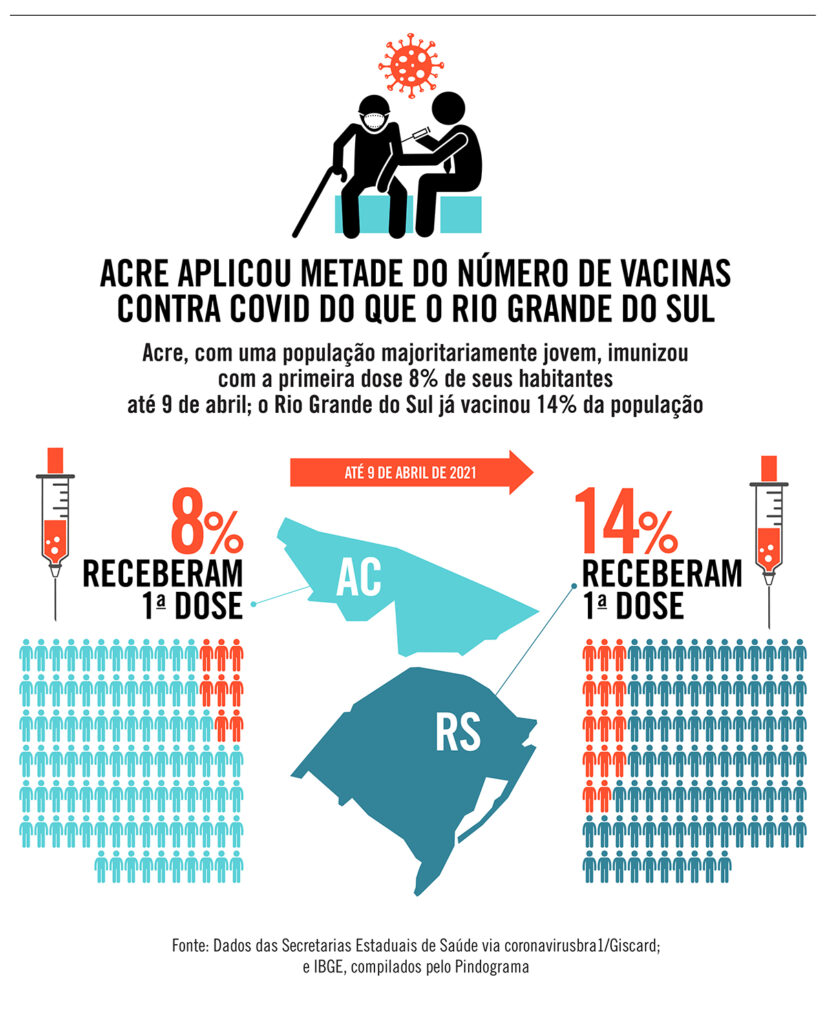
No Rio Grande do Sul, 14% da população recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19, enquanto o Acre vacinou apenas 8% de seus habitantes até o dia 9 de abril. No entanto, a proporção de gaúchos idosos é de 19%, enquanto a de acrianos é de 8%, ou seja, a população do Acre é majoritariamente jovem. O PIB per capita dos estados também difere: R$ 15 mil no Acre e R$ 37 mil no Rio Grande do Sul.

Dois municípios com porte parecido, Santos e Carapicuíba, no estado de São Paulo, têm níveis distintos de vacinação contra a Covid-19. Em Santos, 13% dos 433 mil habitantes já tomaram a primeira dose da vacina. Já em Carapicuíba, na região metropolitana, apenas 3% dos 403 mil habitantes foram vacinados. Os PIBs per capita dos municípios são bastante desiguais: aproximadamente R$ 52 mil em Santos e R$ 14,4 mil em Carapicuíba.

Na cidade de São Paulo, a vacinação dos distritos mais ricos e mais pobres difere significativamente. Nos cinco locais mais vacinados até 25 de março – Pinheiros, Jardim Paulista, Alto de Pinheiros, Campo Belo e Vila Mariana –, a primeira dose foi aplicada em 17% da população, e a renda média é de R$ 9.230. Já nos cinco menos vacinados – Anhanguera, Parelheiros, Jardim Ângela, Perus e Cidade Tiradentes –, apenas 4% dos habitantes foram vacinados, e a renda média de R$ 1.167.

Até 25 de março, Marcação, na Paraíba, administrou 73 doses de vacina contra Covid-19 a cada 100 habitantes. A vizinha Cuité de Mamanguape distribuiu apenas 5 doses a cada 100 habitantes. Ambas as cidades têm PIB per capita baixo, R$ 10 mil em Cuité de Mamanguape e R$ 9 mil em Marcação, que tem população majoritariamente indígena, o que não é o caso de Cuité.

Na região do Parque Bom Jesus, na periferia de Goiânia, 2% dos moradores foram vacinados até 25 de março. Nessa região, 70% das pessoas se autodeclaram negras. Já no Setor Marista, no centro da cidade, onde menos de 20% da população é preta e parda, foram vacinados 13% dos habitantes com a primeira dose até a mesma data.
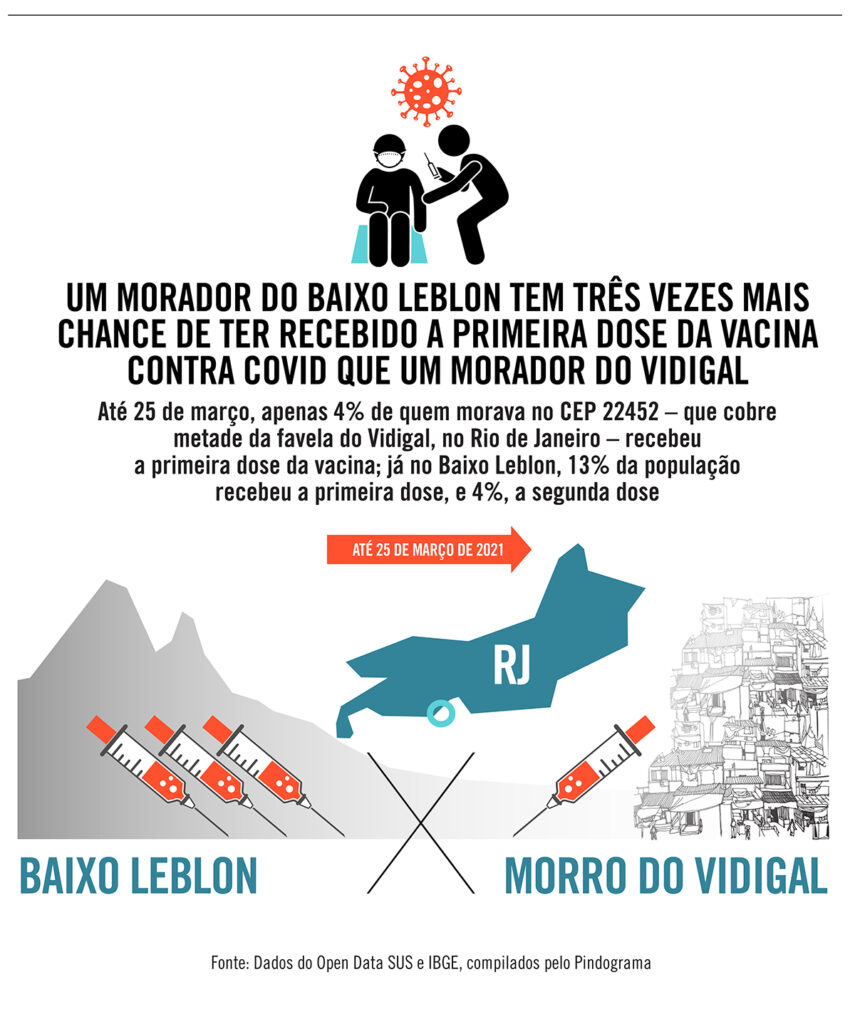
A desigualdade na vacinação também está presente dentro da favela. Na cidade do Rio de Janeiro, no CEP 22452, que cobre metade da favela do Vidigal, apenas 4% dos moradores foram vacinados com a primeira dose. A renda média dos habitantes do Vidigal é de R$ 1.789. Já no Baixo Leblon, 13% da população recebeu a primeira dose, e 4%, a segunda dose. A renda média dos moradores do bairro Leblon é de R$ 11.311.
Nota metodológica: As comparações do Open Data SUS limitam-se a dados de ao menos duas semanas antes da data de publicação do =igualdades e não comparam UFs distintas, pois há atraso na importação das informações das secretarias estaduais de Saúde para a plataforma federal, o que gera distorções para datas mais recentes.
Fonte: Dados do Open Data Sus, IBGE, Bacen e Secretarias Estaduais de Saúde via coronavirusbra1/Giscard, compilados pelo Pindograma
João Moreira Salles: A morte e a morte
Jair Bolsonaro entre o gozo e o tédio
Quando as vítimas da pandemia passaram de 5 mil, no dia 28 de abril de 2020, Jair Bolsonaro foi a um estande de tiro. No dia em que chegamos aos 10 mil mortos, ele passeou de jet ski no Lago Paranoá. Na cerimônia em que concedeu a Ordem do Mérito Naval a Abraham Weintraub e Augusto Aras, o país havia superado os 25 mil óbitos. Dois dias depois ele andou a cavalo no meio de seus apoiadores. Dali a poucas horas, quase 30 mil brasileiros já não estariam vivos por causa da doença. O presidente desconfiou dos hospitais quando os registros contabilizaram 40 mil mortos: “Arranja uma maneira de entrar e filmar”, comandou. E no fim de semana em que a conta da nossa tragédia chegou a 50 mil vidas perdidas, ele ajudou Weintraub a enganar a imigração americana.
Variações do parágrafo acima vêm sendo publicadas a toda hora na imprensa. Seria impossível não reparar no óbvio: em nenhum momento da tragédia o presidente articulou uma frase de pesar verdadeiro. Não houve nem esforço de marketing político para demonstrar que se compadecia dos que estavam sofrendo. O presidente é honesto. Uma das frases mais sinceras da história política brasileira é a breve: “E daí?” Há muitas outras – “Eu não sou coveiro”, “Quer que eu faça o quê?”, “É o destino de cada um” –, mas nenhuma tem a concisão aforística de “E daí?”. Nenhum substantivo, nenhum adjetivo, nenhum verbo. Os mortos, os doentes, os que perderam pais, mães, filhos e amigos, os que diariamente vão para a linha de frente salvar vidas – uma locução adverbial de quatro letras dá conta de tudo que o presidente tem a lhes dizer.
No início de junho, uma apoiadora de Bolsonaro que o esperava na saída do Palácio da Alvorada mencionou a catástrofe sanitária e pediu “uma palavra de conforto nesse momento”. O presidente voltou a ser honesto. “Pode ter fé e acreditar que a gente vai mudar o Brasil”, respondeu, infenso à compaixão. A apoiadora insistiu: “E para os enlutados, que são inúmeros, o que o senhor diria?” Não disse absolutamente nada, ou ao menos nada que pudesse trazer algum conforto a quem sofria. Lamentava as mortes, mas todos morrem.
Seria o caso de lembrar que, dessa doença, estamos morrendo bem mais do que deveríamos. Mais do que chineses, indianos, indonésios, italianos, tailandeses, espanhóis, japoneses, paraguaios, australianos, argentinos. Possivelmente morreremos mais do que em qualquer outra parte do mundo.
E era assim que estávamos, pelo menos até meados de junho: nenhuma fala sentida à nação; nenhum gesto de solidariedade com as vítimas; nenhuma cerimônia em memória dos mortos. As bandeiras chegaram a ser hasteadas a meio pau, mas em menos de duas horas o governo voltou atrás.
Por outro lado, não haveria dificuldade em encontrar fotografias de Bolsonaro sorrindo, ou mesmo dando risada, nesses meses da nossa agonia. O luto lhe é estranho. Publicamente, sua reação ao sofrimento alheio assume apenas duas formas: júbilo ou indiferença. É preciso reparar nisso para compreendê-lo.
“Aindiferença do presidente ao luto coletivo vai de par com um movimento político que nega nossos laços coletivos, assim como as obrigações que temos com o outro. Ele lidera uma coalizão que rechaça a ação coletiva e nega nossas responsabilidades mútuas como membros de uma mesma entidade política.” Feita em relação a Donald Trump, a observação de autoria do articulista americano Jamelle Bouie é válida também para o presidente do Brasil.
O trauma nacional tem a capacidade de unir, escreve Bouie. Quando choramos juntos os nossos mortos, expomos a fragilidade da nossa condição e explicitamos nosso destino comum, o que põe em relevo um sentimento coletivo que é o contrário do egoísmo. Não há mais indivíduo irremediavelmente só. Todos nos vemos implicados na política, porque não existe solução fora do contrato social e da vida em comum. Ainda que cada dor seja intransferível, essa comunhão em torno do sofrimento “proporciona um alicerce para a solidariedade e a ação coletiva”.
Vimos isso acontecer em países como Espanha, Portugal, Nova Zelândia, Austrália, Itália e Alemanha, e não espanta que nada parecido tenha se dado nos Estados Unidos ou no Brasil. Lá como aqui, a noção de uma coletividade se esfacelou. Trump e Bolsonaro substituíram os norte-americanos e os brasileiros por meus americanos e meus brasileiros. Convocar os cidadãos a compartilhar a dor de tantas mortes seria afirmar que todas têm o mesmo valor. Além disso, ainda que os dois fossem capazes de compaixão, seria desvantajoso demonstrá-la, pois chamariam nossa atenção para o enorme custo humano gerado pela incompetência e pelo descaso com que gerenciaram a crise.
Trump, aqui, não interessa. Entrou na história por ser o modelo de que Bolsonaro se pretende imitador. Gripezinha, vírus chinês, cloroquina – o presidente brasileiro não foi capaz sequer de inventar as próprias fábulas. A coisa é trazida de Washington e aqui piora um pouco mais, como a má tradução de um livro ruim. O que não significa que Bolsonaro seja apenas uma versão abastardada de Trump. Uma das diferenças entre os dois é que a ausência de empatia no norte-americano está associada ao solipsismo radical de seu narcisismo, ao passo que em Bolsonaro ela tem uma origem mais perigosa. É algo anterior a toda convenção, um impulso que corre por baixo, mais primitivo, mais perturbador, e que no entanto, quando se manifesta, parece lógico: a morte o excita.
Mais precisamente: certas formas de morrer o excitam, enquanto outras o deixam frio. Qualquer antologia das frases que notabilizaram Bolsonaro terá cheiro de sangue e morte. Estupro, tortura, fuzil, exterminou, morra, morrido, matando, pavor, Ustra. Essas são algumas palavras-chave que dão sentido às citações mais conhecidas do presidente. Sem elas, as frases se desfariam. É o sofrimento do outro que as organiza.
A princípio, pode causar espanto a indiferença de Bolsonaro pelos mortos da pandemia, por brasileiros que, em boa parte, morreram em decorrência da forma catastrófica com que ele escolheu enfrentar a crise. Fez vítimas, portanto. A frieza se torna mais compreensível quando se observa o que lhe acelera o coração. Bolsonaro não se comove com a natureza, a arte lhe é estranha, a religião não passa de um adereço político, a ciência o ofende. Até o luxo parece deixá-lo indiferente. A violência, não. É quando fala nela que parece mais vivo e potente.
Tome-se uma imagem de 2018, captada durante um comício da campanha presidencial. Bolsonaro pega um tripé à sua frente, ergue-o a meia altura, aponta para o alto e simula os disparos com os quais promete “fuzilar a petralhada”. Durante dois segundos – precisamente a duração dos coices da simulação, dos avanços e recuos violentos da arma fálica – sua expressão muda por completo. O rosto se crispa num ricto de êxtase. É obsceno e incomodamente familiar: é a cena de um filme pornográfico.
Essa volúpia distingue os seguidores de Bolsonaro de outros grupos da direita mais extremada, a exemplo do Movimento Brasil Livre (MBL). É um traço que separa seus seguidores de políticos como Kim Kataguiri ou Janaina Paschoal.
No dia 31 de maio, o primeiro domingo de manifestações em defesa da democracia, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi para a Avenida Atlântica ficar ao lado dos policiais. Protegido pela tropa, gritava para o outro lado da rua: “Vem um só aqui, seus filhos da puta. Eu quero um de vocês só.” Mais tarde, gravou um vídeo em que advertia: “Vocês vão pegar um polícia zangado no meio da multidão, vão tomar um no meio da caixa do peito e vão chamar a gente de truculento. Eu tô torcendo pra isso. Quem sabe não seja eu o sortudo. Vocês me peguem na rua num dia muito ruim e eu descarregue [sic] a minha arma em cima de um filho da puta comunista que tentar me agredir.”
Não existe bolsonarista sem pulsão de morte. Rodrigo Amorim, o então candidato a deputado estadual que partiu a placa de Marielle Franco no alto de um palanque, é bolsonarista por causa da placa, não por causa de suas teses sobre a organização do Estado. Ou por outra: a violência contra a placa é propriamente a sua ideia, exibida em público como programa político. A seu lado, Wilson Witzel, candidato ao governo estadual, mostrou as credenciais bolsonaristas ao comemorar o gesto; pouco tempo depois, já eleito, reiterou a filiação ao festejar na ponte Rio-Niterói a morte de um bandido. Desde que rompeu com o presidente, o governador não tem dado sinais de se excitar com a dor dos outros. O que significa que era apenas um oportunista, não um bolsonarista raiz.
Orepertório da truculência é bastante limitado. Diz uma coisa só, repetidamente e sempre no volume máximo. Daí a monotonia acachapante dos bolsonaristas. A ameaça e o perigo não são interessantes, são apenas assustadores.
A fala do deputado Daniel Silveira no vídeo aos manifestantes é pedagógica. Com um punhado de frases mal articuladas – e isso também importa –, aprende-se quase tudo sobre o movimento do qual ele é um representante exemplar. O elemento mais característico é a transformação do oponente em inimigo, mecanismo clássico de toda militância antidemocrática, tão banalizado que já nem merece muita atenção. Mais digno de nota é o aspecto da degradação da linguagem. Creio que tem valor funcional, servindo como índice da degradação das normas.
A reunião ministerial de 22 de abril, por exemplo, impressiona igualmente pelo conteúdo e pela forma. Tão importante quanto o que foi dito é como se disse. As concordâncias capengas, as regências erradas, os neologismos cafajestes e a profusão de palavrões são indícios poderosos de que alguma coisa está sendo arrasada. Chame-se de civilidade, de respeito às liturgias democráticas ou simplesmente de compostura, o fato é que a linguagem empregada ali, como lixo, conspurca o entorno – e o entorno é a própria República.
A maioria dos que tomam a palavra é branca e de classe média, brasileiros que tiveram acesso à educação formal. Quem diria. Quantos ali não fizeram graça com algum plural claudicante na fala de quem, antes deles, chegou ao poder vindo de um Brasil mais injusto? Era uma prática comum entre certa gente orgulhosa de seus preconceitos de classe.
Bolsonaristas tratam o idioma como tratam o meio ambiente, o que não é fortuito. O ex-ministro Abraham Weintraub e Ricardo Salles, nesse sentido, são almas gêmeas, dois tarefeiros diligentes que executam a missão de destruir valores civilizatórios caros aos inimigos: o letramento; a cultura; a floresta e todas as suas criaturas. Mas eles vão além: a cada “insitaria a violência”, a cada “haviam emendas parlamentares”, a cada imagem da floresta em chamas a militância se alvoroça, se assanha.
Não à toa, o aforismo mais memorável do corpus de Olavo de Carvalho, ideólogo de todos eles, é “Enfia isso no cu”. Existe um componente erótico nessa ruína. “Vem um só aqui, seus filhos da puta. Eu quero um de vocês só”, implora Daniel Silveira. Isso é a linguagem do gozo. Silveira quer ejacular, e não duvido de que chegará ao paroxismo quando alguém “tomar um no meio da caixa do peito”.
Esse é o componente verdadeiramente monstruoso. Se parece quase inevitável que a violência venha, não é apenas por ela se constituir como instrumento de tomada de poder, mas por ser desejável e prazerosa. “Para mim, para o senhor e para os nossos pares, a paz é hoje uma desgraça”, disse um líder fascista na Itália de Mussolini. Para bolsonaristas, é pior do que isso: a paz é assexuada. Quando Silveira finalmente estiver liberado para bater, avançará para dentro do inimigo e, amparado pelo poder, por sua arma e pelos policiais, ficará maravilhado com a facilidade com que espanca. A amoralidade é libertadora.
Nos últimos doze meses, foram registradas 72 mil novas armas no país. Cada companheiro de Daniel Silveira que comprou a sua poderá adquirir 550 munições por mês. Segundo O Globo, só em maio foram vendidos mais de 2 mil cartuchos por hora. “Eu quero todo mundo armado”, exigiu Bolsonaro em 22 de abril. No ano passado, ensinou aos caminhoneiros que “se tiver arma de fogo, é para usar”. Ao Exército, determinou a revogação de portarias sobre rastreamento e identificação de armas e munições. No início de junho, prometeu isentar policiais e membros das Forças Armadas do imposto de importação de armas. Graças ao presidente (e também ao ex-ministro da Justiça Sergio Moro), hoje somos versados em conceitos jurídicos como “excludente de ilicitude”.
Bolsonaro sempre sorri quando transforma as mãos em arma. Aquelas pistolas imaginárias, símbolo de sua campanha, estão ali para mostrar o que lhe dá prazer. A violência é o componente essencial. O que provoca regozijo é o corpo baleado no chão, o traficante executado, o homossexual espancado, a moça trans agredida, o esquerdista desacordado, o indígena ferido. Já as vítimas da pandemia morrem sem espetáculo, numa agonia que não é pública. Sendo invisíveis, suscitam no presidente apenas desinteresse, enfado, “o puro tédio da morte”, como escreveu Nelson Rodrigues sobre a reação de alguns ao horror da gripe espanhola.
Não existe bolsonarismo, apenas bolsonaristas.
Bolsonarismo implicaria um conjunto coerente de ideias e uma visão de mundo articulada, elementos que faltam à pregação política de Bolsonaro. Chega a ser desconcertante, mas conceitualmente o presidente é uma degradação do regime militar que ele gostaria de reimpor aos brasileiros. Os generais que tomaram o poder em 1964 tinham uma proposta para o país. À sua maneira, queriam modernizá-lo para superar o subdesenvolvimento e sabiam o que pôr no lugar do que estavam destruindo.
Bolsonaro investe mais em atos de destruição, não em visões de futuro. No campo propositivo, todas as suas ideias são tomadas de empréstimo. O liberalismo econômico foi o cavalo que passou selado num momento em que as elites econômicas desembarcavam da sociedade com o petismo. O lavajatismo serviu para fisgar o velho udenismo das classes médias locais. Os pobres estavam com os evangélicos, e Bolsonaro logo se fez batizar no Rio Jordão. Esse é o liberalismo de um nostálgico do intervencionismo da ditadura; o moralismo de quem declara afinidade com milicianos que vivem de extorsão e arreglos com o crime; o conservadorismo cristão do homem de 52 anos que no terceiro casamento esposa a moça de 25.
O cientista político Marcos Nobre alerta para o risco de tomar Bolsonaro por um político limitado; negar ao presidente a capacidade de levar a cabo seu projeto de poder é uma reconfortante e perigosa ilusão. A preocupação é compreensível, e não creio que seja incompatível com esta afirmação: projetar uma visão de mundo acabada exige recursos intelectuais e de imaginação dos quais Bolsonaro dá provas sucessivas de não dispor. Contudo, se a construção não está ao seu alcance, a destruição, sim. É o seu talento luminoso. Em menos de dois anos, Bolsonaro degradou a cultura, a educação, a política ambiental, a Polícia Federal, o Ibama, o Itamaraty, a Funai, a Procuradoria-Geral da República, o Iphan, a Funarte, a Ancine, a Casa de Rui Barbosa, a Fundação Cultural Palmares, a Biblioteca Nacional, a Cinemateca Brasileira, o Ministério da Saúde, as Forças Armadas. Não é obra de engenharia. É demolição. “O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo”, afirmou ele em Washington, na presença de representantes do conservadorismo e da extrema direita norte-americana. “Nós temos é que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa. Depois, podemos começar a fazer.” A parte do refazimento não será com ele. Os capatazes virão depois. Os militares supõem tê-los em seus quadros.
A saúde da nossa vida cívica, sempre frágil, agora se esvai: “A audácia irracional é considerada lealdade corajosa […]; a moderação passa a ser uma máscara para a fraqueza covarde […]. O homem irascível sempre merece confiança, e seu oposto se torna suspeito. O conspirador bem-sucedido é inteligente, e ainda mais aquele que o descobre, mas quem não aprova esses procedimentos é tido como traidor do partido e um covarde diante dos adversários. […] Vingar-se de uma ofensa é mais apreciado que não haver sido ofendido […] e aqueles capazes de levar a bom termo um plano odioso sob o manto de palavras enganosas são considerados os melhores.” A última frase poderia ser um comentário a Ricardo Salles e sua boiada, mas não. O texto é mais antigo. É de autoria do historiador grego Tucídides, nascido no século V a.C., e descreve uma guerra civil. É assim que uma sociedade se entredevora.
Em A Ordem do Dia, um breve romance de época lançado em 2017, o francês Éric Vuillard narra como um país capitula ante a violência e a demagogia. “O sol é um astro frio”, diz a primeira frase do livro, uma afirmação meteorológica – é fevereiro em Berlim – e política – o ano é 1933. Dali a alguns parágrafos, 24 industriais da Alemanha se alinharão ao regime, embora considerem seus líderes vulgares e medíocres. Cinco anos depois, a Áustria se encolherá e, de concessão em concessão, perderá sua alma – morre de vez ao ser anexada ao Reich. O narrador escreve: “[Mas nada aqui tem] a magnificência do terror. Só o aspecto pegajoso dos conchavos e da impostura. Nenhuma exaltação violenta, nada de falas terríveis e desumanas. Apenas a ameaça brutal, a propaganda, repetitiva e vulgar.”
Se o paralelo histórico não procede, a descrição do rebaixamento geral nos fala de perto. Também aqui é tudo rasteiro: o presidente, seus filhos, os ministros, os seguidores, o que dizem, o que propõem. Existe apenas entropia.
A pura negatividade não chega a ser uma ideologia. É sobretudo um modo de existir. Dos muitos canteiros de obra onde trabalham as turmas bolsonaristas de demolição, nenhum é mais espetacular do que a Amazônia. Ali se destrói sem pôr nada no lugar, em troca de nada – é o verdadeiro manifesto político do movimento. Que ninguém se engane: é falsa a ideia de que o desmatamento dá lugar à produção. Hoje, quem destrói a Amazônia é essencialmente um especulador imobiliário. Rouba terra pública à espera de que valorize. Na lógica do ladrão, ele será anistiado pelo governo e ficará rico. O país, não.
Do ponto de vista econômico, ecológico, geopolítico, moral, não se justifica. Na lógica bolsonarista, é missão cumprida. Claro, há interesses em jogo e gente que se beneficia do desmatamento, mas não são inimigos poderosos. O Estado não teria dificuldade em reprimi-los se quisesse, como, aliás, já fez no passado. Que não queira – e mais: que esteja efetivamente incentivando o desmate ao demonizar quem tenta coibi-lo – representa um contrassenso em relação aos interesses não só do país, mas também do agronegócio, base sólida de apoio a Bolsonaro. O setor hoje se vê ameaçado pela perspectiva de um boicote internacional a seus produtos. Se nem a necessidade de zelar pelos negócios refreia o ímpeto governamental de facilitar a derrubada metódica da floresta, pode-se inferir, então, o que de fato move o governo. Mais do que interesses, são paixões. A destruição não é efeito colateral. É propósito.
O cartão-postal da visão de mundo bolsonarista é o garimpo, no qual todas as dimensões da existência estão aviltadas: saúde, meio ambiente, relações de trabalho, norma jurídica. Não por acaso, nas raras vezes em que esboçou uma perspectiva de futuro para a Amazônia, Bolsonaro lhe atribuiu um papel central. Ao Globo, declarou que pretendia criar “pequenas Serras Peladas” Brasil afora. Em abril, o governo afastou dois chefes de fiscalização do Ibama que comandaram uma operação no Pará contra garimpeiros que tinham invadido terras indígenas.
A terra devastada que o garimpo deixa para trás é a materialização da estética bolsonarista e do que seus adeptos apreciam: destruição, ruína, bruteza. Os garimpeiros que escalavram a ribanceira dos rios seguram as mangueiras de pressão da mesma forma que Bolsonaro empunha sua metralhadora, a meia altura e com as duas mãos, produzindo os mesmos arrancos e recuos. A violência é semelhante. Não duvido de que para o presidente ambos os gestos estejam encharcados de erotismo.
Na capa da piauí de maio deste ano, Bolsonaro beijava a Morte. Era uma alegoria e um diagnóstico.
Aforça negativa característica de toda ação bolsonarista faria pensar numa variante tropical do niilismo, mas a hipótese ofende a filosofia e uma venerável tradição da história das ideias. Bolsonaristas estão para o niilismo assim como o bispo Edir Macedo está para São Tomás de Aquino, Olavo de Carvalho para Hegel ou, me permitam mais essa, Ernesto Araújo para Bismarck. No campo bolsonarista não se trata nunca de esgrima, é sempre porrada. Tudo se põe à altura do ralo porque a baixeza é parte da agenda. Todos nós somos diminuídos.
Num ensaio de 2019, a pensadora húngara Agnes Heller fez uma distinção interessante a propósito da deriva autoritária em seu país: “As ideologias podem ser positivas. Com esse adjetivo, não faço juízo de valor […]. Ideologias positivas são simplesmente as que prometem algo para o futuro: mudanças radicais, sociedade sem classes, planeta despoluído, domínio do mundo, Estado de bem-estar social, a felicidade de todos. As ideologias positivas – as benignas como as perigosas – têm seus próprios intelectuais ideólogos; podem ser apoiadas por cientistas, poetas, filósofos, por uma espécie de elite cultural. Já as ideologias das tiranias modernas são negativas – operam contra ou em oposição a algo, não trabalham para alcançar nada; não contam com o apoio da cultura intelectual.”
Curiosamente, a observação vale mais para o Brasil do que para a Hungria. Sim, Viktor Orbán consolidou seu poder manipulando habilmente o ódio a inimigos compartilhados – imigrantes, cabalas judaicas fantasiosas, social-democracia liberal, União Europeia. Contudo, onde o exemplo de Heller parece tropeçar é no fato de que a ideologia orbanista não se contenta em subtrair. Ao país, Orbán oferece o projeto de uma nação definida por sua etnicidade específica e fundada nos princípios do Sangue e do Solo. Essa utopia reacionária de matriz biologista, antiliberal e nacionalista é um constructo poderoso, de longa tradição naquela parte do mundo. Orbán é seu ideólogo mais talentoso e competente, dois adjetivos que, no terreno das ideias, ficariam tão à vontade na companhia de Jair Bolsonaro quanto Ricardo Salles numa convenção do Greenpeace.
A atual crise da democracia é liderada por autocratas capazes de projetar sonhos alternativos de nação. É Xi Jinping na China, à frente de um bem-sucedido capitalismo de Estado sem direitos políticos. Ou Jarosław Kaczyński e Andrzej Duda na Polônia, atualizando um nacionalismo católico que nem o comunismo pôde extinguir. Ou Recep Tayyip Erdoğan, minando o secularismo republicano da Turquia moderna com sua nostalgia do Império Otomano. Na Índia, Narendra Modi põe sua eficiência administrativa a serviço do nacionalismo hindu. E, por fim, o pioneiro Vladimir Putin, primus inter pares, projetando para os russos o espetáculo da força, narcótico para a humilhação de um país que perdeu o posto de superpotência global.
Esses são os autocratas que inspiram teses acadêmicas e livros sobre como as democracias morrem. Só eles têm relevância geopolítica. São homens de ferro que exercem uma liderança imperial e costumam ser competentes na administração do Estado. Não por acaso, muitos se destacaram no enfrentamento da crise sanitária. Bolsonaro raramente é visto em companhia deles nos parágrafos da imprensa internacional. Ele é a versão degradada que abre o parágrafo seguinte, o autoritário exótico, papel que no passado foi do ugandês Idi Amin Dada e que mais recentemente se tornou apanágio de ditadores da Coreia do Norte e de tiranos centro-asiáticos que renomeiam o calendário para dar o nome da própria mãe ao mês de abril.
A única figura a que Bolsonaro geralmente é comparado – Donald Trump – marca presença como o membro mais caricato da coorte de líderes autoritários em cena. Há quem chame o capitão reformado de “Trump tropical”, epíteto que certamente o envaidece. Que seja cego à profunda indiferença do norte-americano por ele e pelo Brasil, que tenha a ilusão de ocupar um lugar especial no coração de seu modelo, isso é apenas mais um indicador da inclinação servil de seu temperamento diante de poderes maiores que o seu.
Toda vez que Trump esteve nas cordas por causa do modo desastroso como combateu (ele também) a pandemia, não perdeu a oportunidade de se reerguer à custa da desdita do Brasil. Da primeira vez, sem dar uma pista ao amigo, anunciou que decidira proibir brasileiros de entrar nos Estados Unidos. Da segunda, antecipou a data da proibição. Da terceira, afirmou que se tivesse adotado estratégia semelhante à brasileira talvez 2 milhões de norte-americanos estivessem mortos. A incompetência de Bolsonaro tem serventia para Trump. Serve ao menos para que ele tenha alguém com quem se comparar favoravelmente.
Ser atirado assim na fogueira não afrouxa o entusiasmo pelego de Bolsonaro: “É meu amigo, é meu irmão. Falei com ele essa semana. Tivemos uma conversa maravilhosa. Um abraço, Trump” – foi essa a sua resposta quando lhe pediram um comentário sobre os 2 milhões de pessoas que Trump livrou da morte ao ter o bom senso de não nos imitar.
Tudo isso pode parecer uma queixa estranha: nosso autocrata é pior que o deles. Não seria motivo de comemoração? De fato, como bem mostraram Daniela Campello e Cesar Zucco na edição anterior desta revista, Bolsonaro tem errado sistematicamente. Seu mais grave equívoco político foi não ter lido corretamente a pandemia. No fim das contas, sorte nossa, talvez, que ele tenha sido testado em condições tão desfavoráveis. Suas carências, agora expostas a toda a nação, podem ser um obstáculo à construção de um projeto duradouro de poder. Em todo caso – noves fora a ferida narcísica provocada pela sensação (perversa) de não conseguirmos produzir nem déspotas com alguma dimensão histórica –, o verdadeiro temor é outro. Embora um Reich de Mil Anos não esteja ao alcance de Bolsonaro, o caos de uma semana, um mês, um ano, está. Refiro-me a uma anarquia miliciana e policial, a um espetáculo estarrecedor de violência e fúria: “Eu quero um de vocês só.” Ou dois. Ou dez. Ou mil.
Obtusidade não significa falta de estratégia. Bolsonaro sabe o que quer. Ou melhor, sabe do que gosta. Seus seguidores também. Querem aquilo de que gostam.
Um velho general da aristocracia prussiana, um homem direito que, no século passado, resistiu a colaborar com regimes de força, classificava os militares em quatro tipos: “Há oficiais inteligentes, aplicados, burros e preguiçosos. Em geral, essas qualidades vêm aos pares. Há os inteligentes e aplicados, que devem ir para o Estado-Maior. Depois vêm os burros e preguiçosos; esses são 90% de qualquer Exército e são próprios para tarefas de rotina. Os inteligentes preguiçosos dispõem do que é preciso para tarefas mais altas de liderança, pois têm clareza mental e firmeza dos nervos na hora de decisões difíceis. Mas é preciso tomar cuidado com os burros e aplicados; não podem receber nenhuma responsabilidade, pois só sabem causar desgraça.”
Temo que a desgraça já esteja contratada. Será motivada por aquela forma específica de desinteligência descrita por Tucídides, caracterizada por insensatez, irreflexão e inclemência. Pelo estado de aviltamento em que pequenos se tornam grandes e grandes perdem força. Temo o momento em que, nas próximas semanas, daqui a uns meses, no ano que vem ou pouco antes da eleição de 2022, ao lermos o alerta que terá surgido em uma das nossas telas, sussurraremos: “Começou.”
Em 1981 o escritor italiano Claudio Magris visitou a Polônia. As greves do Solidariedade punham em xeque o regime tutelado pelos soviéticos. Em meio a “viventes mais ameaçados de morte” do que ele, Magris refletiu: “Na Polônia se sente a tragédia, não o pesadelo; e a tragédia implica uma dimensão humana de grandeza e de força, um senso íntegro e pleno da vida que foi agredida ou destruída, a intuição de um destino e de um significado. A queda trágica não apequena o indivíduo; ela o derruba do carro de combate como a um guerreiro homérico golpeado na batalha, não o dilacera e não o dissolve no nada, como acontece a quem foi tragado pelos meandros irreais do pesadelo.”
É isso. Em 1964, o poder foi tomado à força. Em 2018, 57,7 milhões de brasileiros sufragaram a versão piorada de um regime odioso. Outros 11 milhões anularam ou votaram em branco. No fim das contas, talvez fosse inevitável chegarmos a isso. Bolsonaro não é diferente do país que o elegeu. Não todo o Brasil, nem mesmo a maioria do Brasil (uma esperança), mas um pedaço significativo do Brasil é como Bolsonaro. Violento, racista, misógino, homofóbico, inculto, indiferente. Perverso.
E foi assim que terminamos não na tragédia, mas no pesadelo.
JOÃO MOREIRA SALLES
Documentarista, é editor fundador da piauí. Dirigiu Santiago, Entreatos e Nelson Freire, entre outros
Revista Piauí: A conta chegou para Bolsonaro
Avaliação positiva do governo cai oito pontos em uma semana e presidente bate recorde de desaprovação, segundo pesquisa inédita do Ideia Big Data
José Roberto de Toledo, da Revista Piauí

Demorou. Foi preciso ele demitir os dois ministros mais populares do governo, admitir usar a Polícia Federal em causa própria e desprezar milhares de mortes por Covid-19. Após muito tentar, Jair Bolsonaro conseguiu perder oito pontos de popularidade em uma semana, voltar à menor taxa de ótimo e bom de seu governo e bater o recorde de avaliações negativas desde a posse: 41%. Mesmo assim, o governo ainda mantém 28% de avaliações positivas e 35% de confiança. O presidente, porém, está pior do que isso.
O tombo foi grande. Bolsonaro não apenas fez romper pela primeira vez o patamar dos 40 pontos de ruim e péssimo de sua gestão como conseguiu outro feito inédito. A avaliação negativa do governo superou a positiva por 13 pontos, muito além dos 4 pontos de margem de erro da pesquisa. Se, num extremo, o governo mantém uma linha de resistência em torno de 28% dos que o apoiam, na outra ponta, ganhou uma oposição maior e mais intensa – como nunca teve. Dos 41% de avaliação negativa, 25 pontos agora são de “péssimo” e 16% de “ruim”. Apenas uma semana antes essas taxas eram respectivamente 19% e 15%. Ou seja, a turma do “péssimo” cresceu tanto que quase se equivale à soma dos que avaliam o governo como ótimo ou bom.
Os números são da pesquisa Ideia Big Data realizada entre 28 e 29 de abril. Por intermédio de um aplicativo de celular, o instituto fez 1.609 entrevistas ponderadas para representarem as mesmas proporções de idade, gênero, escolaridade, classe social e divisão regional da população brasileira de 18 anos ou mais. A margem de erro máxima é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. O método usado para coleta não é tão testado quanto o das pesquisas face a face, nas quais entrevistadores abordam aleatoriamente entrevistados em casa ou em pontos de fluxo, mas a pesquisa do Ideia é a única que acompanha semanalmente a avaliação do governo desde 2019 e é divulgada com regularidade. A longa série histórica e a alta frequência com que é feita permitem acompanhar os vaivéns da popularidade de Bolsonaro como nenhuma outra pesquisa publicada até agora.
O salto de impopularidade ocorreu de uma vez mas não foi surpresa. Bolsonaro construiu o aumento de sua rejeição live a live, tuíte a tuíte, entrevista a entrevista. Brigou com governadores, fritou Mandetta, humilhou Moro. Desrespeitou a Constituição, provocou o Congresso, atacou o Supremo. Acumulou tensão na opinião pública diariamente. Os grãos de animosidade se acumularam ao ponto de uma parte significativa de seus simpatizantes não conseguir mais aprovar suas atitudes. Ao forçar a demissão de Sergio Moro do Ministério da Justiça, o presidente desencadeou a avalanche vista esta semana, mas as causas para sua aprovação rolar ladeira abaixo se somam há tempos.
A ladeira é igualmente íngreme mesmo quando a pergunta se refere ao presidente: “Aprova ou desaprova a maneira como Jair Bolsonaro está lidando com seu trabalho como presidente?” O time dos que aprovam a figura presidencial em si encolheu os mesmos oito pontos, foi de 30% para 22%. Ou seja, há menos brasileiros de acordo com as atitudes do presidente (22%) do que os que consideram seu governo ótimo ou bom (28%). Esse descolamento entre as duas taxas vai para a conta pessoal de Bolsonaro. Ele é pior do que seu governo para ao menos um quinto dos que acham que o ministério faz algo de bom ou ótimo.
Nem sempre foi assim. Em fevereiro do ano passado, logo depois da posse, 45% aprovavam o presidente e 44% achavam o governo bom ou ótimo. Em junho do mesmo ano, ambas as taxas eram de 36%. A partir dali, porém, as curvas se emanciparam e seguiram caminhos distintos. A aprovação pessoal do presidente caiu a 30% em agosto de 2019 e nunca mais ficou acima disso. Em novembro passado, a taxa de ótimo e bom do governo teve um pico de 40%, mas a aprovação de Bolsonaro manteve-se em 30%. Os 10 pontos de diferença eram pessoas que aprovavam o que o governo fazia mas não o presidente. Aturavam-no.
Pode-se especular que esse grupo acreditava que Bolsonaro poderia ser tutelado por Paulo Guedes na economia, por Moro na segurança e pelos militares em tudo o mais. Agora, parte do grupo caiu na real. A diferença entre as avaliações positiva do governo e do presidente diminuiu de 10 para 6 pontos: 28% contra 22%. Significa que menos gente crê que Bolsonaro seja passível de tutela. Significa também que as atitudes presidenciais são cada vez menos aceitáveis mesmo entre seus apoiadores. O presidente contamina a popularidade do governo como um vírus contra o qual não há ministro que consiga desenvolver anticorpos. Tampouco há remédio ou vacina à vista.
A resultante da deterioração da popularidade do presidente e de sua equipe é que 58% dos brasileiros passaram a declarar que não mais confiam no governo Bolsonaro – um crescimento de 7 pontos em comparação com a semana anterior. É outro recorde negativo deflagrado pela ejeção de Moro do ministério.
Na manhã de sábado, manifestantes antipetistas voltaram a promover atos em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde Moro prestaria depoimento a respeito das acusações que fez contra Bolsonaro quando deixou o governo. Dois grupos que até poucos dias atrás se confraternizavam agora racharam: de um lado, defensores de Bolsonaro gritavam “Mito! Mito!“; de outro, apoiadores da Lava Jato respondiam em coro com “Moro! Moro!“.
Trata-se do fim de Bolsonaro? A acusação de Moro de que o presidente serviu-se do cargo para interferir em investigações da Polícia Federal é sua pá de cal? Ainda não.
A avaliação de Bolsonaro nas classes D/E, A/B e C:



Nas classes D e E, o desapontamento com o governo Bolsonaro aumentou bem menos do que nas classes A e B. Entre os brasileiros com menor poder de consumo, a taxa de ruim e péssimo cresceu apenas de 31% para 35%. No topo da pirâmide socioeconômica, a desaprovação disparou de 36% para 47%. É um movimento mais parecido com o que aconteceu com as pessoas da classe C – a maior de todas –, entre as quais o ruim e péssimo pulou de 34% para 42%. Ou seja, o anúncio dos R$ 600 de auxílio para quem mais precisa pode comprar alguma popularidade para o governo pelos três meses enquanto o dinheiro for distribuído. Mas e depois?
À medida que a crise econômica se aprofundar, o bolso esvaziado dos pobres será o maior obstáculo para Bolsonaro sustentar o que lhe resta de apoio na opinião pública. O presidente se segura no público evangélico, mas várias igrejas neopentecostais começam a enfrentar problemas financeiros por causa dos cultos esvaziados durante a quarentena. Sem dízimo, falta dinheiro para bispos e pastores pagarem pelos horários que alugam nas emissoras de tevê. Se eles perderem influência entre os fiéis, Bolsonaro tende a perder apoio também nesse público religioso e pobre.
Tudo isso ocorre em meio ao crescimento geométrico de casos de Covid-19 e ao aumento contínuo do número de mortes diárias provocadas pela doença que o presidente desdenhou. Se o presente é ruim para Bolsonaro, o futuro próximo tende a ser pior. Mas não só para ele.
Colaborou Felippe Aníbal
*José Roberto de Toledo é editor-executivo da piauí (site), foi repórter e colunista de política na Folha e no Estado de S. Paulo e presidente da Abraji
Sergio Fausto: O ponto a que chegamos
Da Constituição de 1988 à eleição de Jair Bolsonaro. Paulo Guedes embrulha os governos de FHC e do PT no mesmo pacote. Sua visão leva água para o moinho doido da extrema direita, para a qual todos do centro até a esquerda são comunistas
Em meados de 2015, a Folha de S.Paulo me convidou para publicar um artigo na Ilustríssima sobre o futuro do PSDB. Escrevi um texto dizendo que a crise do PT, já na época enredado na Lava Jato (tucanos vieram a enredar-se depois), abria espaço para o PSDB retomar a sua original posição de centro-esquerda no espectro político. Mais do que uma análise, expressava um desejo pessoal. Celso Rocha de Barros, em artigo publicado em seguida, rebateu afirmando que para o PSDB não havia mais volta possível às origens. O partido se tornara uma força de contenção da direita propriamente dita. Gostei do argumento do Celso. Realista, pensei: se assim for, o partido continuará a cumprir um papel importante.
Menos de quatro anos depois, difícil não concluir que ambos estávamos enganados. O PSDB nem se estendeu para a centro-esquerda nem serviu de dique eficiente para conter a maré conservadora, com fortes correntes reacionárias, que carregou Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto em outubro de 2018.
Que uma onda à direita vinha crescendo desde 2013/2014, já se sabia. Mas a força e a extensão com que rebentou na praia surpreenderam a todos: o mais desabrido dos deputados direitistas do baixo clero se elegeu presidente; candidatos desconhecidos de direita venceram as eleições para governador nos estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de Santa Catarina, além de Rondônia, contra todas as expectativas; um major da Polícia Militar de São Paulo derrotou Eduardo Suplicy na disputa pelo Senado; o PSL, partido até então inexpressivo, elegeu a segunda maior bancada da Câmara, 52 deputados, boa parte deles desconhecida na política – e por aí vai.
Demorei a me dar conta de que a maré conservadora poderia chegar lá. Fui mais sensível aos riscos de um projeto hegemônico do PT, que engendrou uma poderosa máquina de sucção de recursos do Estado para financiar o partido e seus aliados, cooptar a sociedade civil, apoiar governos e partidos amigos na redondeza, com ramificações na África. O mecanismo operava por meio de um conjunto de empresas escolhidas para receber o quinhão maior dos benefícios do governo e, em contrapartida, reinjetar o produto de contratos superfaturados num sistema que corrompeu as instituições do Estado e o sistema partidário como nunca antes na história desse país. Diga-se o que se disser sobre os excessos e abusos da força-tarefa da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro – e se deve dizer sem hesitação –, foram eles os principais responsáveis por impedir que a corrupção sistêmica das instituições republicanas continuasse a avançar, dando ao Brasil a chance de limitar o alcance de práticas nas quais todos os partidos, sem exceção, se lambuzaram em maior ou menor grau.
Nas manifestações a favor do impeachment de Dilma Rousseff, passaram-me quase despercebidos sinais claros de que grupos abertamente de direita ganhavam protagonismo. Lembro-me daquele 13 de março de 2016, quando uma multidão se espremeu em vários quarteirões da avenida Paulista (1,4 milhão segundo a PM; 500 mil de acordo com o Datafolha), na maior manifestação de rua desde o movimento das Diretas Já.
Entrei na Paulista pela alameda Campinas e, na esquina, me deparei com um caminhão de som sobre o qual vociferava para uma turma de entusiastas um deputado federal que na época eu mal conhecia: Eduardo Bolsonaro. Sabia dele apenas o suficiente para decidir dar meia-volta e acessar a Paulista por outra rua transversal. Não poderia imaginar que dois anos depois ele seria reeleito deputado federal com a maior votação do país e seu pai se elegeria presidente da República.
Olhando hoje as pesquisas de opinião da época vê-se que teria sido possível perceber que os ventos sopravam à direita. O Datafolha, por exemplo, registrou uma clara predominância de pessoas que se declaravam de centro-direita ou de direita nas pesquisas sobre a opinião dos que participaram das manifestações pelo impeachment. As classes média e alta saíam à rua pela primeira vez: a vasta maioria dos participantes jamais havia participado de um ato público. Monopólio do PT até 2013, a praça pública se tornava definitivamente hostil ao partido de Lula. O mesmo acontecia no meio digital, até então território onde os blogueiros petistas, boa parte organizada e remunerada com recursos oficiais, se moviam com grande vantagem.
Ali, em meio a vastas emoções e pensamentos imperfeitos, eu tinha três certezas: Dilma produzira um desastre econômico, perdera as condições políticas para governar e havia base legal para o impeachment. Seu governo passara da “contabilidade criativa” ao cometimento de infrações graves e reiteradas contra as leis orçamentárias, com inegáveis propósitos eleitorais. Violara a Lei de Responsabilidade Fiscal, usando os bancos federais para financiar despesas do Tesouro, e desrespeitara a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014, que a obrigava a cortar gastos, aumentar receitas ou ajustar a meta de superávit primário se a execução orçamentária revelasse ser impossível atingi-la. A impossibilidade se tornou evidente a partir do primeiro trimestre, mas o governo acelerou os gastos e adiou a redefinição da meta para depois da eleição, quando admitiu oficialmente que ela seria apenas uma minúscula fração da que havia sido prevista na LDO.
Quem melhor contou essa história foram os jornalistas Claudia Safatle, João Borges e Ribamar de Oliveira em Anatomia de um Desastre. Além de dissecar o cadáver econômico do governo Dilma, o livro desmonta o argumento de que a ex-presidente perdeu o cargo por práticas corriqueiras e triviais.
No entanto, até hoje tenho sentimentos ambivalentes em relação ao impeachment. De um lado, penso que ele evitou que continuássemos a cavar o buraco da crise em caminho de retorno aos anos 80, marcados por desordem fiscal, isolamento do mundo e inflação alta, crônica e crescente. De outro, não tenho dúvida de que contribuiu para a polarização entre a direita bolsonarista e a esquerda petista, ambas agarradas a mitos regressivos, embora não equivalentes.
Politicamente, o impeachment foi um alto negócio para o PT. O partido livrou-se do ônus da crise produzida por seu governo e ganhou terreno na guerra das narrativas com a tese do golpe parlamentar orquestrado pelas elites e da vitimização de Lula.
Como chegamos a esse ponto? É tentador responder com um breve exercício contrafatual. E se o PT não tivesse elegido o PSDB como seu principal adversário, depois de uma transição de poder civilizada e construtiva? E se Lula não tivesse tomado partido a favor de Dilma na disputa com os ministros e economistas ortodoxos que o aconselharam em 2005 a adotar um programa de ajuste fiscal de longo prazo que, à época, importaria em poucos sacrifícios de curto prazo e enormes benefícios a médio prazo? E se os então donos do poder tivessem aprendido a lição do mensalão, em lugar de dobrar a aposta que os levou ao petrolão? E se o PSDB não tivesse, nos estados, se associado às mesmas empresas beneficiadas pelo esquema federal de corrupção? E se tivesse punido exemplarmente Aécio Neves? E se este não tivesse ingressado com ações de anulação de mandato eletivo contra Dilma Rousseff logo após a reeleição dela à Presidência? E se ela não houvesse feito “o diabo” para vencer aquela eleição? E se a elite política do país tivesse compreendido o recado das manifestações de 2013 e promovido uma reforma política que ajudasse na recuperação do prestígio da representação, em vez de se atirar, no ano seguinte, à disputa da mais cara e corrupta campanha eleitoral da história brasileira?
Esse breve exercício contrafatual serve para deixar claro que chegamos ao ponto a que chegamos não por determinação dos deuses da história e sim por uma sequência de escolhas dos principais atores políticos dos últimos trinta anos. Poderia acrescentar ainda outro “e se”, para chamar atenção para a importância do acaso: o atentado contra a vida de Bolsonaro numa etapa crítica da campanha não estava escrito nas estrelas e impulsionou a vantagem que o ex-capitão tinha sobre os demais candidatos do campo antipetista. A facada cristalizou a polarização eleitoral Bolsonaro versus Haddad, logo em seguida oficializado como o candidato de Lula e do PT.
Seguirei daqui em diante, porém, outra linha de argumento, explorando correntes mais profundas que, a meu ver, levaram Bolsonaro ao Palácio do Planalto e a direita ao poder. Elas dizem respeito ao esgotamento dos acordos explícitos e implícitos, predominantes a partir de 1988, sobre a organização e gestão do Estado, da economia e da política.
Acordos não devem ser entendidos como conchavos espúrios. Utilizo o termo para me referir a certos consensos mínimos entre as elites, no plural e em sentido amplo, sobre a organização e gestão do Estado, da economia e da política, considerados suficientemente eficientes e legítimos pela maioria da sociedade.
No Brasil dos últimos trinta anos, esses acordos se construíram dentro dos moldes da Constituição de 1988 e se refizeram à medida que a integração do Brasil ao mundo, a consolidação da estabilidade econômica e a democratização da sociedade brasileira avançavam. A aprovação de diversas emendas à Constituição e de leis complementares expressa a capacidade que o país teve de adaptar o marco legal a esses processos de mudança, não raro contraditórios em suas exigências, sem se desviar do rumo democrático e do compromisso de ampliar o acesso a direitos universais, notadamente na área social.
A democratização, a globalização e a prescrição constitucional em favor da ampliação da cidadania desencadearam uma dinâmica social de expectativas crescentes, em particular depois de virada a página da hiperinflação. Entre o Plano Real e o término do primeiro governo Lula, houve uma evolução satisfatória da capacidade de resposta a essas expectativas, devido a uma sequência não linear, mas contínua, de reformas que construíram melhores instituições nas áreas fiscal, monetária, regulatória e, não menos importante, social.
As condições no momento da largada, na virada dos anos 80 para os anos 90, não prenunciavam sucesso nessa empreitada: hiperinflação, dívida externa “impagável”, isolamento econômico e financeiro em relação ao mundo, governos impopulares e o impeachment do primeiro presidente eleito depois do retorno à democracia.
Se as condições na largada pressagiavam fracasso, as ambições, por sua vez, não eram pequenas: tratava-se de “resgatar a dívida social” e de desconcentrar o poder: de Brasília para estados e municípios, do Executivo para o Congresso, do Estado para a sociedade, criando mecanismos de controle desta sobre aquele. Tudo isso num país historicamente marcado por elevados níveis de pobreza e desigualdade, além de práticas autoritárias e patrimonialistas. Como se fosse pouco, teríamos de cumprir essas ambições contando com um sistema de governo – o chamado presidencialismo de coalização, em ambiente multipartidário – sobre o qual pesava não apenas a opinião negativa então predominante na ciência política, mas também a experiência de crises vividas no período democrático anterior (1945-64).
Contra a opinião conservadora, para a qual a Constituição de 1988 tornava o país ingovernável, e depois de um início trôpego, o Brasil ingressou a partir de 1994 e da vitória sobre a hiperinflação numa trajetória positiva de enraizamento da democracia, forte redução da pobreza, alguma diminuição da desigualdade e melhoria da governabilidade.
Ocorre que, a partir de certo momento, o fosso entre as expectativas da sociedade e a capacidade de resposta dos governos se tornou muito grande, menos por problemas externos ao país e mais pela interrupção, quando não pela reversão, da sequência de reformas iniciada com o Plano Real.
A vala das três crises simultâneas (econômica, política e moral) que acometeram o país a partir de 2014 começou a ser cavada, sem que a maioria se desse conta, na esteira do ufanismo despertado pela descoberta das reservas do pré-sal. O incrementalismo reformista voltado à criação de instituições favoráveis ao desenvolvimento econômico e social sustentado foi substituído por um voluntarismo falsamente desenvolvimentista, apressado e míope, além de condicionado por um projeto de poder em que se articulavam o capitalismo de compadrio, a politização dos programas de transferência de renda e a hegemonia de um partido.
Passamos da euforia do pré-sal à depressão provocada pelo tombo da economia a partir de 2014, a mais profunda e prolongada recessão já registrada nas estatísticas oficiais do país. A frustração de expectativas que ela provocou foi proporcional à ascensão social que conheceram amplas camadas de menor renda no período anterior. A mobilidade social estava assentada em bases não muito sólidas, porque excessivamente dependentes do endividamento das famílias, estimulado pelo governo.
A “nova classe média” que emergira nos anos Lula teve seus sonhos subitamente interrompidos, sem aviso prévio. Menos atingidos pela crise foram os que continuaram pobres, com a renda dependendo em grande medida das transferências governamentais feitas, entre outros programas, pelo Bolsa Família, produto da junção e expansão de programas criados no governo Fernando Henrique Cardoso.
Mesmo antes de a economia despencar, já era possível observar a acumulação de frustrações com a oferta de serviços públicos. O caso da saúde é interessante. Dados de pesquisas Ibope-CNI mostram que a aprovação ao Sistema Único de Saúde, o SUS, começa a declinar sistemática e significativamente a partir de 2011, passando da faixa entre 40% e 50% para a faixa entre 10% e 20%. Minha hipótese é que a piora na avaliação popular do SUS se deveu a um duplo processo. De um lado, a um fenômeno bem conhecido dos cientistas sociais: uma vez atendidas expectativas básicas de uma população antes sem acesso a determinados bens e serviços, surgem no momento seguinte novas e mais exigentes expectativas dessa mesma população sobre a quantidade e qualidade do que lhe foi ofertado inicialmente. De outro, ao fato de que o SUS não produziu respostas satisfatórias aos problemas de governança e gestão do sistema à medida que ele foi se ampliando e tornando mais complexo.
Creio que essa hipótese ajuda a explicar a frustração de expectativas geradas com a expansão da oferta de outros serviços públicos essenciais, como a educação. Tampouco nesse caso houve a passagem da quantidade à qualidade, por assim dizer, ao menos não na velocidade e escala esperadas.
A frustração é ainda maior entre as camadas da população que melhoraram a sua renda e, em vista de uma educação pública insatisfatória, se veem impelidas a matricular seus filhos e filhas em escolas privadas, com forte impacto sobre o orçamento familiar. Processo análogo se dá na área da saúde: a demora no acesso a médicos especialistas e tratamentos de maior complexidade na rede pública leva famílias “remediadas” a fazer um enorme sacrifício financeiro para comprar planos privados.
Estamos falando de um contingente crescente de indivíduos que, pouco a pouco, a partir de 1994, à medida que o país encontrou um rumo positivo, ganhou a consciência de que são cidadãos portadores de direitos e, ao mesmo tempo, contribuintes. Sabedores do esforço tributário que o Estado lhes exige, se veem, no entanto, compelidos a comprar no mercado privado serviços que o Estado estaria constitucionalmente obrigado a lhes oferecer. O mal-estar com essa “contradição” veio à tona nas manifestações de 2013, num contexto em que a corrupção passava a ser percebida como um dos problemas públicos prioritários. Cresceu o sentimento de que “eles” (o Estado, a classe política, o governo) prometem, me cobram, eu pago (embora não receba), e eles ainda me roubam. Senti isso na pele algumas vezes, ao tentar explicar para motoristas de táxi e outros representantes da classe média que a “coisa não é tão simples assim”. Acabei por me calar.
Na esteira de sucessivos escândalos, avolumou-se o desprestígio das instituições políticas, em particular dos partidos e do Congresso – e dos personagens que neles habitam, os políticos profissionais. O desprestígio se transformou em rechaço depois do petrolão.
Se de um lado a sucessão de escândalos demonstrou o aprimoramento da capacidade do Estado de identificar e combater a corrupção, de outro pôs a nu o que os observadores mais atentos já sabiam: à medida que as campanhas eleitorais ficaram mais caras e competitivas, mais incestuosas se tornaram as relações entre partidos, políticos e empresas doadoras. Como o papel aceita tudo e a capacidade de fiscalização da Justiça Eleitoral é limitada, as prestações de contas eleitorais viraram um faz de conta.
A corrupção deixou de ser prática frequente para se tornar parte intrínseca da representação política. Não é que todos os políticos viraram corruptos, e sim que as chances eleitorais e o poder dentro dos partidos e junto aos governos passaram a depender cada vez mais do toma lá dá cá entre representantes políticos – e seus indicados para cargos públicos – e empresas interessadas no superfaturamento de contratos com o setor público. Em contraste, afrouxou-se o laço entre os partidos e os candidatos e os eleitores, em especial na representação parlamentar. A proliferação de siglas, a dificuldade de se informar sobre quem é quem nas listas de candidatos, as distorções criadas pelas coligações nas eleições para os legislativos (voto no meu partido preferido e sem saber elejo um candidato do partido coligado) – são muitos os fatores que contribuem para a má qualidade da relação entre eleitor e eleito. Nesse ecossistema floresceram espécimes como Eduardo Cunha, que se adaptam melhor à transformação da política em negócio financiado com recursos do contribuinte.
Se no caso da educação e da saúde se pode falar em frustração de expectativas, no da segurança pública o que existe é o medo da escalada da violência. Sim, há uma indústria que se alimenta do pânico em matéria de segurança pública. Mas os dados não mentem. A taxa de homicídios quase triplicou desde que começou a ser medida, em 1979. Era de 11 mortes por 100 mil habitantes em 1980; superou os 30 casos por 100 mil habitantes em 2017. Nessa área, o país regrediu inequivocamente, embora alguns estados tenham sido capazes de reduzir a taxa de homicídio.
A deterioração da segurança pública é filha da expansão do narcotráfico e de uma série de negócios ilícitos comandados por organizações criminosas e milícias igualmente criminosas, ambas com a conivência da banda podre da polícia.
Os governos do PSDB e do PT tardaram a se dar conta de que o problema exigia uma resposta coordenada e estratégica. O primeiro Plano Nacional de Segurança Pública surgiu em 2000, quando a taxa de homicídio já atingia 25 para um grupo de 100 mil habitantes (seu maior salto se deu nos anos 80). Até então o governo federal havia optado por se omitir e não meter a mão numa cumbuca que presumia ser de responsabilidade exclusiva dos estados. De lá para cá, houve melhoras pontuais, mas a tendência de deterioração da segurança pública seguiu seu curso.
Os defensores dos direitos humanos, entre os quais me incluo, demoramos a nos dar conta de que a criminalidade havia mudado de escala e de patamar, em termos organizacionais e financeiros, afetando em particular as periferias das grandes cidades. Os moradores dessas áreas se tornaram reféns das organizações criminosas – ora brutais, ora benfeitoras, mas sempre exigindo em troca a submissão absoluta – e vítimas preferenciais dos ineficazes e não raro truculentos enfrentamentos da polícia com aquelas organizações.
Nas periferias das grandes cidades (e nos morros cariocas) impera a lei do cão. No tiroteio pesado da guerra pelo controle do negócio das drogas e contra as drogas, morrem quase sempre jovens, negros e pobres. O drama é mais visível nas cidades mais populosas, mas se espalhou pelo país, em especial com a disseminação do crack. Contra esse pano de fundo, se entende por que as forças abertamente de direita voltaram ao poder, com protagonismo militar.
Se no passado a direita encontrava base importante entre os católicos, hoje ela volta ao poder com o apoio maciço dos evangélicos. Com recursos, acesso a canais de tevê e rádio e número crescente de adeptos, as igrejas neopentecostais foram aonde o povo está. Existe manipulação da fé e abuso de poder econômico, mas compreender o sucesso dessas igrejas implica reconhecer o papel que desempenham na formação de redes de solidariedade que, além de estabelecerem laços comunitários, oferecem melhores oportunidades de obtenção de emprego e de renda aos fiéis. Em muitas periferias onde a presença do Estado é precária, a única alternativa ao crime organizado é a igreja evangélica. É nesse terreno que a moral conservadora conquistou corações e mentes.
A despeito da grande presença de militares no governo Jair Bolsonaro e da aliança conservadora que em torno dele se formou, não estamos de volta a 1964 nem na iminência de regressar a um regime autoritário.
Isso não significa que não devamos estar alertas contra retrocessos – em algumas áreas já visíveis –, acarretados pelas pulsões autoritárias e retrógradas de setores do novo governo que não raro encontram apoio no gabinete presidencial.
Tão importante quanto isso, no entanto, é construir um acordo entre as forças de oposição sobre uma nova agenda de mudança, que responda ao esgotamento do ciclo aberto pela Constituição de 1988. Isso em nada enfraquece a disposição para defender o núcleo do que há de mais precioso na Constituição: os dispositivos que consagram e asseguram uma ordem política livre e democrática e oferecem instrumentos de defesa dos interesses difusos. Tampouco significa largar no meio da estrada as conquistas obtidas com a construção de sistemas públicos de educação e saúde, complementados por sistemas privados.
Não creio no pecado original, mas penso que os constituintes cometeram equívocos no desenho dos regimes fiscal, tributário e federativo, além de amarrar a administração pública à camisa de força de um modelo de estado burocrático.
O país não se tornou “ingovernável”, como profetizou o então presidente José Sarney. Nem estavam “de porre” os constituintes, como à época ironizou Mario Henrique Simonsen. O tempo, porém, se encarregou de mostrar que tais críticas, indicativas de certa antipatia pela dinâmica social e política de uma sociedade que se democratizava, não estavam destituídas de algum fundamento.
É preciso incorporar essas críticas não para retroceder à oferta centralizada, restrita e seletiva de serviços públicos de antes de 1988, mas, pelo contrário, para assegurar que a expansão desses serviços se dê de forma financeiramente sustentável. Não sendo mais possível ampliar a carga tributária para financiá-los, nada é tão importante de agora em diante quanto torná-los mais eficientes e menos vulneráveis à captura por interesses corporativos e por demandas de camadas de renda mais alta (como é frequente no caso do SUS, sobretudo por meio de decisões liminares do Judiciário).
Além de mais eficiente, a oferta desses serviços precisa se tornar mais eficaz na redução dos desequilíbrios sociais e regionais do país. Isso requer maior coordenação federativa, o que parecem não perceber os que acreditam que mais e mais descentralização seja a cura para todos os males do país.
Não há uma separação rígida entre os problemas econômicos e os sociais do Brasil. Em geral, o mundo intelectual e político se divide entre os que olham para um lado dessa equação e não olham para o outro. Sem promover a convergência desses dois olhares, o país terá dificuldade para retomar o rumo do desenvolvimento sustentado e da construção de uma sociedade mais justa.
Peço alguns parágrafos de paciência ao leitor para explicar esse ponto.
O regime fiscal e tributário desenhado pela Constituição de 1988 gerou desequilíbrios estruturais nas contas públicas, ao transferir receitas para estados e municípios, mas manter, sob a responsabilidade da União, despesas que só fariam crescer nos anos seguintes, em particular com a Previdência. A ponto de os benefícios previdenciários consumirem no presente, a despeito de reformas pontuais feitas ao longo dos anos, cerca de 50% do orçamento do governo federal.
Em proporção do PIB, o Brasil gasta com benefícios previdenciários o mesmo que o Japão, país que tem uma porcentagem pelo menos duas vezes maior de idosos. A distribuição desses benefícios, em grande medida financiada com recursos de todos os contribuintes, tem viés regressivo no Brasil, ou seja, favorece os indivíduos de maior renda que se aposentam (precocemente) pelo INSS e, em especial, os servidores públicos, membros de carreiras ligadas ao Judiciário e ao Ministério Público e ao Legislativo, que se retiram para a inatividade com aposentadoria integral com pouco mais de 50 anos, em média. Cidadã na afirmação dos direitos sociais, civis e políticos, a Constituição de 88 também consagrou, contraditoriamente, privilégios de corporações do setor público.
Por causa das crescentes obrigações de gastos, a União passou a recorrer a aumentos sucessivos de tributos não compartilhados com estados e municípios, as chamadas contribuições sociais. Com isso, a carga tributária total aumentou de 25% para 32% do pib entre 1993 e 2003, na era FHC, permanecendo ao redor desse patamar nos anos subsequentes, o que coloca o Brasil na liderança dos países que mais tributam na América Latina e além da média dos países mais desenvolvidos (acima, por exemplo, de Suíça, Coreia do Sul e Canadá). Ao rápido crescimento da carga de impostos correspondeu uma piora na qualidade do sistema tributário, com o aumento da participação dos tributos em cascata. Ao mesmo tempo, com os gastos correntes (incluindo pessoal, da ativa e aposentados) consumindo partes cada vez maiores do orçamento, os recursos para o investimento público minguaram, criando mais um freio ao aumento da produtividade e ao crescimento da economia.
Já os estados, também premidos por gastos crescentes, se lançaram a explorar as novas bases do ICM, transformado em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), depois de 1988. Impuseram tributação pesada sobre telecomunicações, energia, combustíveis e transportes, onerando insumos cujos custos afetam o conjunto da economia. Simultaneamente, engajaram-se na chamada “guerra fiscal”, um leilão de incentivos fiscais que no agregado solapou as bases tributárias do ICMS e distorceu as decisões de investimento, com prejuízo para a produtividade e o crescimento.
A prevalência da competição sobre a cooperação no federalismo construído a partir de 1988 limitou a capacidade do Estado de traduzir o aumento da carga tributária em serviços de melhor qualidade para a população, apesar da ampliação do acesso e da cobertura nas áreas de saúde e educação.
A falta de coordenação entre as três esferas de governo se agravou em razão do estímulo à criação de novos municípios, sem critérios e restrições adequadas – falha só corrigida com emenda constitucional aprovada em 1996. Houve uma explosão do número de governos locais nos primeiros oito anos de vida da Constituição. Aproximadamente 25% dos municípios hoje existentes surgiram depois de 1988, cerca de 90% deles com menos de 20 mil habitantes, a quase totalidade sem receita própria sequer para cobrir os gastos com a máquina pública. Ou seja, parte importante das transferências de recursos federais via Fundo de Participação dos Municípios serviu antes para financiar a criação de governos locais do que para melhorar a qualidade de vida dos habitantes daquelas cidades.
Os problemas decorrentes da dificuldade de coordenação federativa aparecem com clareza nas principais regiões metropolitanas do país, onde há grande concentração populacional, contiguidade dos territórios e infraestruturas, mas não uma autoridade pública capaz de articular as políticas de mobilidade urbana, habitação, saneamento, saúde etc. Essa situação cria mal-estar social e o que os economistas chamam, no seu jargão (que me perdoe o leitor), de “externalidades negativas”, que afetam o investimento e a produtividade.
Submetida a uma carga elevada de tributos e a um sistema complexo de tributação, a estrutura produtiva tendeu a se polarizar entre um conjunto de empresas dominantes em seus mercados, posição reforçada por barreiras de proteção que sobreviveram à abertura econômica iniciada nos anos 90, e milhares de micro e pequenas empresas que sobrevivem em condições desfavoráveis ao seu crescimento. Isso, a despeito da adoção de regimes especiais de tributação, como o Simples. Sem remover os obstáculos tributários e de acesso ao crédito para que startups possam crescer e se desenvolver, a inovação no Brasil permanecerá estruturalmente prejudicada.
Entre as forças democráticas, o primeiro a se dar conta da necessidade de reformar a Constituição foi o governo de Fernando Henrique Cardoso. O sucesso do Plano Real, ao cortar drasticamente a corrosão inflacionária das despesas públicas previstas no orçamento, pôs a nu os desequilíbrios fiscais que os críticos conservadores da Constituição anteviam. A visão sobre os problemas fundamentais para a retomada do crescimento sustentado não se limitava ao diagnóstico sobre o desequilíbrio fiscal. Incorporava igualmente a reflexão crítica sobre o modelo de industrialização por substituição de importações, cujo dinamismo se esgotara havia muito tempo. Dar um fim à era Vargas, como enunciou FHC ao início de seu mandato, significava abrir a economia e reduzir drasticamente a presença do Estado na esfera da produção de bens e serviços.
Transformado em união aduaneira, o Mercosul se constituiu em prioridade da política externa do Brasil, não por afinidade ideológica com os governos de turno nos países-membros, mas pela compreensão de que ele serviria de base para voos mais amplos na integração competitiva das empresas brasileiras na economia global, além de favorecer a consolidação de um espaço democrático no Cone Sul, depois de um ciclo de regimes autoritários na região nos trinta anos anteriores.
Igualmente importante foi o fortalecimento das políticas sociais de caráter universal, especialmente educação e saúde, de acordo com comandos inscritos na Constituição de 1988 e com o ideário social-democrata então sustentado pelo presidente e seu partido.
O ideário produziu resultados. O Sistema Único de Saúde saiu do papel. O gasto em saúde cresceu quase duas vezes acima do pib entre 1995 e 2002, resultando em forte ampliação da atenção básica, sobretudo por meio do Programa de Saúde da Família, levando à queda drástica da mortalidade materna e infantil. Na educação fundamental, a cobertura se generalizou, e os maiores avanços se verificaram nos estados e municípios mais pobres, onde cerca de 30% das crianças de 7 a 14 anos ainda se encontravam na escola.
Institucionalizaram-se também as políticas assistenciais. Foi extinta a Legião Brasileira de Assistência, símbolo de uma concepção paternalista da relação entre o Estado (personalizado na figura da primeira-dama) e a “população carente”. Implementou-se a Lei Orgânica da Assistência Social e criou-se uma rede de proteção social articulada por programas de transferência de renda pautados por critérios objetivos e, na maioria dos casos, condicionados a compromissos dos beneficiários com determinadas contrapartidas, como a matrícula de filhos na escola.
Não menos importante na redefinição do modo de relação entre o Estado e a sociedade na área social foi o programa Comunidade Solidária, ideia de uma primeira-dama que tinha horror a essa designação, a antropóloga Ruth Cardoso.
O conjunto da obra do governo FHC na área social valeu ao Brasil o prêmio Mahbub ul Haq, em homenagem a um economista paquistanês, criador do Índice de Desenvolvimento Humano. Entre 1992 e 2002, fomos um dos países que mais galgaram posições no ranking do IDH.
Digo tudo isso não para enaltecer retrospectivamente um governo do qual me orgulho de ter feito parte e que, a meu ver, deixou um legado positivo ao país, sobretudo quando avaliado à luz das dificuldades enfrentadas à época.
Digo isso porque é oportuno fazê-lo num momento em que, de um lado, o PT se agarra ao nacional-estatismo na economia e não se liberta dos seus laivos “chavo-castristas” e, de outro, com Bolsonaro na Presidência, o liberalismo econômico volta à agenda pública, mas desacompanhado da social-democracia e de mãos dadas com uma ideologia conservadora marcadamente iliberal, além de conflitante com o caráter laico do Estado e o conhecimento científico. Na sua denúncia contra o “alarmismo climático”, o populismo anticientífico não é um pormenor. Somado aos interesses dos setores atrasados do agronegócio e a uma visão ultrapassada do interesse nacional, compõe uma mistura tóxica que ameaça as chances de desenvolvimento do Brasil. Sobre essas e outras ameaças, o liberalismo instalado no governo Bolsonaro permanece silente.
O ministro Paulo Guedes gosta de embrulhar os governos de FHC e do PT no mesmo pacote para designá-los social-democratas e atacá-los como se fossem uma só e mesma coisa.
A periodização que faz da história política recente serve ao propósito de fazer de sua gestão uma espécie de marco zero do liberalismo econômico no Brasil em período democrático. Faz tábula rasa do passado, como o PT fez ao chegar ao poder. Para Lula e seu partido, nada se havia feito pelo “social” (se não desde Cabral, pelo menos desde Getúlio Vargas). Para Guedes, a modernidade do Estado e da economia terá agora seu momento inaugural. Paradoxalmente, a manobra retórica do ministro da Economia alivia a carga sobre o PT, ao deixar na penumbra o tamanho da regressão antirreformista que pouco a pouco se tornou dominante no governo petista. Leva assim, inadvertidamente, água ao moinho doido de uma extrema direita para a qual todos aqueles do centro até a esquerda do espectro político são comunistas, designação que desencadeia um discurso de ódio inaceitável numa democracia.
Se a intenção for fazer o bom debate com a direita liberal, não há por que não reconhecer que o esforço reformista do governo FHC na modernização do Estado e da economia se mostrou insuficiente e gerou efeitos colaterais negativos sobre o peso e a qualidade do sistema tributário, como já apontei. Insuficiente porque não logrou produzir um regime fiscal adaptado às tendências demográficas de longo prazo (a reforma da Previdência ficou aquém do necessário, embora a introdução do fator previdenciário tenha evitado uma deterioração mais rápida do INSS) nem mudanças mais profundas no modelo burocrático do Estado (por batalhas perdidas no Congresso ou no Judiciário em torno de emendas constitucionais que visavam a flexibilização do regime jurídico único e da estabilidade no serviço público).
Por outro lado, não foram poucas nem pequenas as reformas institucionais do aparelho do Estado, na sua relação com o setor privado e a sociedade: com o fim de monopólios estatais e o nascimento de agências setoriais independentes (sem interferência política enquanto durou o governo FHC), criaram-se capacidades públicas adequadas à regulação de serviços essenciais em uma economia de mercado; com a instituição das Organizações Sociais abriu-se o terreno para a incorporação de entidades de direito privado na gestão de equipamentos na área da saúde, da educação e da cultura, sem prejuízo do acesso livre e gratuito aos serviços prestados.
Na direção oposta, ou seja, do bom debate com a social-democracia de esquerda, tampouco se deve deixar de reconhecer a insuficiência dos avanços na ampliação da cobertura e da qualidade dos sistemas públicos de educação, saúde e assistência e de medidas para corrigir a regressividade do sistema tributário.
A pergunta cabível, para um lado e para o outro, é se teria sido possível, naquelas circunstâncias históricas, uma combinação mais virtuosa, embora não isenta de tensões e contradições, entre liberalismo e social-democracia, as duas almas que animaram as ações de governo nos mandatos de FHC. Seja qual for a resposta de cada um, não pode haver dúvida de que foram anos de disseminação e fortalecimento de uma cultura política democrática (da qual a transição para o governo Lula deu mostras inequívocas) e de respeito a valores universais, a começar pela democracia e pelos direitos humanos. Fosse só por isso, o legado dos governos de FHC já seria uma referência essencial para orientar o país na atual quadra histórica.
Considerado isoladamente, o liberalismo encarnado por Guedes e sua equipe apresenta um diagnóstico dos problemas fundamentais da economia brasileira do qual me parece difícil discordar. O ministro está correto ao apontar o desarranjo fiscal – expresso no crescimento ininterrupto da dívida pública na proporção do PIB – como o desafio imediato a ser enfrentado, bem como em assinalar que a chave do crescimento sustentado está no aumento da produtividade, que permaneceu virtualmente estagnada nos últimos trinta anos, a despeito de variações cíclicas e setoriais.
Não resta dúvida de que o estímulo à produtividade implica reduzir a intervenção discricionária e o peso do Estado sobre o setor privado. A tarefa é urgente porque o potencial de crescimento da economia brasileira dependerá cada vez mais de incrementos da produtividade, uma vez que de agora em diante já não contaremos mais com o chamado bônus demográfico e ingressaremos, com o rápido envelhecimento populacional, em fase de redução da parcela de indivíduos economicamente ativos na população total.
Nesse quadro, compreende-se ainda melhor por que a reforma da Previdência é tão importante. Não menos importante será, uma vez contido o crescimento das despesas, reduzir proporcionalmente a carga tributária. É quase inimaginável a ampliação da base de empresas capazes de se integrar competitivamente na economia global, condição necessária para a ampliação da oferta de empregos de melhor qualidade para os trabalhadores, se o Brasil se mantiver como o país de renda média com mais elevada carga tributária do planeta.
A existência desses pontos de coincidência não deve, porém, obscurecer os problemas do liberalismo de Guedes, agravados pelo conservadorismo do governo do qual faz parte.
A importância atribuída ao ajustamento do tamanho do Estado para fins de liberação do potencial de investimento do setor privado não encontra correspondência em preocupação equivalente com a construção das condições para que os benefícios de uma nova e desejável fase do desenvolvimento do Brasil sejam abrangentes e sua distribuição se dê de forma mais equitativa possível.
É forte a inclinação do novo governo a ver na regulação pública antes um desestímulo à iniciativa privada do que uma necessária proteção ao interesse da sociedade. À luz do que aconteceu em Mariana e novamente em Brumadinho, nem é necessário insistir muito nos riscos dessa preferência ideológica.
Tampouco se pode fazer vista grossa para o desafio de incorporar amplas camadas de trabalhadores a uma economia que, para crescer, terá de absorver doses bem maiores de tecnologia.
Num país em que ainda predominam trabalhadores de baixa qualificação profissional e com insuficientes anos de escolarização, salta aos olhos, na agenda de políticas do novo governo, a ausência da educação em geral – e da educação profissional em particular. O Ministério da Educação foi entregue à ala olavista, para a qual o grande desafio da educação brasileira é “combater com denodo o marxismo cultural”. Quanto à educação profissional, longe de mim defender os privilégios do Sistema S, mas ele não pode ser visto apenas ou sobretudo como fonte de custo sobre a folha de salários, como deixam entrever as declarações de Guedes a esse respeito.
Chama atenção, também, a preocupação unilateral do novo governo com a flexibilização da legislação trabalhista. Ao ampliar o espaço do negociado sobre o legislado, a reforma das relações de trabalho aprovada no governo Michel Temer representou uma atualização indispensável do marco legal vigente nessa área. Falta porém a reforma sindical, questão que não está no horizonte do novo governo, mas que deveria estar na agenda de quem acredita que a representação coletiva dos trabalhadores é parte integrante de qualquer projeto ou modelo de capitalismo democrático civilizado. Em termos práticos, é indispensável a construção de uma nova base de financiamento dos sindicatos (que não seja compulsória, mas não desestimule a contribuição voluntária) e o rompimento das amarras setoriais e territoriais que limitam a liberdade de organização sindical.
A ausência de referências à questão da equidade no dicionário do atual governo é notável porque ela nada tem de “socialista”. Ao contrário, filia-se à ideia de que, na vida coletiva, a liberdade só se realiza plenamente se houver uma busca incessante pelo nivelamento das oportunidades de desenvolvimento dos indivíduos. Isso uma economia de mercado não é capaz de atender por si mesma. Tal objetivo requer políticas públicas que, sendo financeiramente sustentáveis e periodicamente avaliadas, promovam a cooperação entre o Estado e a sociedade civil.
Em lugar da preocupação com a equidade fiscal e a melhoria da eficiência da prestação de serviços públicos essenciais à população, em particular a de menor renda, o que se vê é uma obsessão por guerras culturais e pela “despetização” da administração pública federal. Tem-se a impressão de que, à falta de uma agenda de trabalho para lidar com os problemas reais, o governo atual optou deliberadamente por fazer agitação político-ideológica em áreas em que um mínimo de espírito republicano, se não de realismo, impõe a continuidade e o aperfeiçoamento de políticas de Estado.
A educação é uma dessas áreas. Nela, desde os oito anos da gestão de Paulo Renato Souza, o mais duradouro ministro da Educação em períodos democráticos, estabeleceram-se políticas nacionais de financiamento do ensino básico, seleção e distribuição dos livros didáticos e avaliação do desempenho das escolas públicas e privadas, em moldes adequados à descentralização de receitas e competências para governos estaduais e municipais. No período mais recente, o processo de estruturação de políticas de Estado para a área de educação se desdobrou na criação da Base Nacional Comum Curricular para a educação infantil e o ensino fundamental e no projeto de reforma do ensino médio, etapa da formação escolar na qual tem sido mais tímidos os avanços em termos quantitativos e qualitativos.
Junto com o processo de estruturação de políticas de Estado, fortaleceram-se organizações e movimentos da sociedade civil comprometidos com o objetivo de superar mais rapidamente os grandes desafios da educação brasileira (cobertura, qualidade e equidade na oferta do ensino básico, a começar da primeira infância) e fazer da escola um ambiente de efetiva redução das desigualdades de oportunidade determinadas pelo local de nascimento e pela família de cada indivíduo.
Ignorar ou, pior ainda, repelir as organizações e os movimentos da sociedade civil brasileira que incidem sobre a concepção, avaliação e implementação de políticas públicas é um grave equívoco se o objetivo for atender às necessidades reais dos cidadãos brasileiros, em especial os mais pobres, independentemente de suas crenças religiosas, orientação sexual ou preferência política.
O fato de que parte da sociedade civil se tenha deixado cooptar pelos governos petistas não diminui a importância da interlocução e cooperação entre o Estado brasileiro e os movimentos e organizações não governamentais dedicados a políticas públicas. Nem os imperativos inquestionáveis da moralidade pública na transferência de recursos do governo a ONGs justificam a decisão de submeter todas elas, recebam ou não dinheiro público, à supervisão do Palácio do Planalto.
O desenvolvimento diz respeito também a padrões de convivência civilizada que não derivam automaticamente do nível de renda per capita de uma sociedade. Dependem fundamentalmente da segurança com a qual o conjunto dos cidadãos pode exercer os seus direitos políticos e civis, sem o que a maior independência econômica dos indivíduos não se traduz em maior liberdade.
Para o liberalismo representado por Guedes essas preocupações são de segunda ordem. Saindo do plano conceitual para entrar na história, não creio ser ofensivo lembrar que, no Chile, convictos liberais econômicos egressos da Universidade de Chicago se aliaram a católicos ultraconservadores e militares autoritários para, sob o porrete ditatorial do general Augusto Pinochet, fazer do país uma economia de mercado, mandando às favas quaisquer escrúpulos de consciência em relação à sistemática violação de direitos humanos. Mas, de fato, o Chile se desenvolveu sob os governos de centro-esquerda da Concertación. Sem voltar ao modelo de desenvolvimento autárquico, muito menos à irresponsabilidade fiscal e monetária do governo Allende, eles consolidaram a democracia e promoveram a mais acentuada redução do nível de pobreza entre todos os países latino-americanos.
O tempo passou e todos aprendemos (tomara) o valor universal da democracia. Não pode passar despercebida, porém, a desenvoltura com a qual os Chicago oldies aderiram à candidatura e depois ao governo de um político que se projetou fazendo elogios a ditadores e ditaduras que violaram os direitos humanos, além de declarações racistas e homofóbicas.
É cedo para predizer os rumos do governo Bolsonaro. Prevalecerão as forças do liberalismo econômico e da racionalidade burocrático-militar sobre o conservadorismo militante e não raro insensato? Em que extensão o governo testará os limites constitucionais da proteção a direitos civis e políticos? Como reagirá o Supremo Tribunal Federal nesses casos? Qual papel terá o ministro Sérgio Moro, que ao aceitar a nomeação assumiu compromisso público com a proteção das minorias?
Não temos respostas para todas essas perguntas, mas uma coisa é certa. É hora de definir com mais clareza a identidade de valores e visões que poderá organizar uma alternativa política à direita liderada por Bolsonaro e à esquerda ainda hegemonizada pelo PT. É um desafio que ultrapassa as fronteiras do PSDB e pode vir a redefinir o mapa partidário.
*Sergio Fausto é cientista político e superintendente da Fundação FHC
Mark Lilla: Dois caminhos para a direita francesa
Marion Maréchal e a vanguarda do conservadorismo europeu
Em fevereiro de 2018, ocorreu em Washington D.C. a convenção anual da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês). É uma espécie de Davos da direita, em que iniciados e interessados se reúnem para inteirar-se das novidades. O orador da abertura, que estava longe de representar algo novo, foi o vice-presidente americano Mike Pence. A segunda pessoa a falar, esta sim, foi uma grande novidade: uma elegante francesa de 28 anos, chamada Marion Maréchal-Le Pen.
Marion, como é amplamente conhecida na França, vem a ser neta de Jean-Marie Le Pen, o fundador do partido de extrema direita Front National (Frente Nacional), e sobrinha de Marine Le Pen, atual presidente da agremiação. Os franceses conheceram Marion ainda criança, sorrindo no colo do avô nos cartazes da campanha presidencial deste, e ela nunca mais sumiu das vistas do público. Em 2012, aos 22 anos, tornou-se a pessoa mais jovem a se eleger para a Assembleia Nacional [equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil] desde a Revolução Francesa. Decidiu, porém, não concorrer à reeleição em 2017, a pretexto de dedicar mais tempo à família. Na verdade, vem cuidando de projetos bem ambiciosos.[1]
Seu desempenho na CPAC foi fora do comum – imagina-se qual terá sido o impacto na plateia daquela manhã. À diferença de seu avô e de sua tia, conhecidos pelo temperamento exaltado, Marion se mostra sempre calma e contida, transmite sinceridade e demonstra inclinações intelectuais. Com um leve e encantador sotaque francês, começou o discurso em inglês contrastando a independência dos Estados Unidos com a “sujeição” da França à União Europeia. Na qualidade de país-membro da UE, afirmou ela, a França não pode escolher as próprias políticas econômica e externa nem defender suas fronteiras contra a imigração ilegal e a presença de uma “contrassociedade” islâmica em seu território.
A partir daí, porém, seu discurso tomou um rumo inesperado. Falando para uma plateia republicana de absolutistas da propriedade privada e fanáticos do porte de armas, atacou o princípio do individualismo, proclamando que o “primado do egoísmo” estava na base de todos os males da nossa sociedade. Exemplo disso, apontou, é a economia global que escraviza estrangeiros, roubando empregos de trabalhadores locais. Encerrou louvando as virtudes da tradição e invocando uma frase geralmente atribuída a Gustav Mahler: “A tradição não é o culto das cinzas, mas a transmissão do fogo.” Nem é preciso dizer que essa foi a primeira vez que um orador da CPAC fez alusão a um compositor austríaco da passagem do século XIX ao XX.
Há algo de novo na direita europeia e envolve mais que rompantes de populistas xenófobos. Ideias vêm tomando corpo, com a criação de redes transnacionais para a sua disseminação. Os jornalistas tendem a encarar como arroubos exibicionistas de Steve Bannon os esforços que ele vem fazendo no sentido de congregar os partidos e pensadores populistas da Europa no que chama de “O Movimento”. Mas a intuição de Bannon, tanto em relação à política europeia como à americana, está bem sintonizada ao nosso tempo. (E, de fato, um mês depois do pronunciamento de Marion na CPAC, Bannon viria a discursar na convenção anual da Frente Nacional.) Em países tão diferentes quanto França, Polônia, Hungria, Áustria, Alemanha e Itália, registram-se esforços no sentido de desenvolver uma ideologia coerente capaz de mobilizar os europeus contrariados com a imigração, as grandes mudanças econômicas, a União Europeia e a liberação dos costumes, e então recorrer a essa ideologia para governar. É tempo de começarmos a prestar atenção às ideias do que parece ser uma Frente Popular de direita em evolução. E a França é um bom lugar para isso.
A esquerda francesa, aferrada ao secularismo republicano, nunca teve muita sensibilidade para a vida católica e às vezes nem percebe que cruzou uma linha divisória. No início de 1984, o governo do presidente François Mitterrand [do Partido Socialista] propôs um projeto de lei que pretendia aumentar o controle do Estado sobre as escolas católicas privadas, pressionando seus professores a se tornarem funcionários públicos. Em junho daquele ano, quase 1 milhão de católicos marchou nas ruas de Paris em protesto, e muitos outros no resto do país. O primeiro-ministro de Mitterrand, Pierre Mauroy, foi forçado a renunciar, e retiraram a proposta. Foi um momento importante para os católicos laicos, que puderam perceber o quanto continuavam a ser, a despeito do secularismo oficial do Estado francês, uma força cultural e às vezes política.
Em 1999, o governo do presidente gaullista Jacques Chirac aprovou uma lei criando uma nova situação jurídica chamada Pacto Civil de Solidariedade (PaCS, na sigla em francês), que beneficiava casais que estavam juntos havia muito e pediam proteção legal ao direito de herança e a outras questões relacionadas ao fim da vida, mas não queriam se casar formalmente. Adotado pouco depois da epidemia de Aids, o PaCS foi concebido sobretudo em apoio à comunidade gay, mas logo se tornou popular entre casais heterossexuais interessados numa relação que poderia ser dissolvida com maior facilidade. Entre os casais heterossexuais, o total de pacsés, ou seja, dos que aderiram ao PaCS, aproxima-se hoje do número dos que se casaram. Para gays e lésbicas, a lei foi uma conquista inquestionável.
Decidido a capitalizar esse sucesso, o socialista François Hollande, durante a sua campanha à Presidência em 2012, prometeu legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e facultar o direito de adoção, entre outros, aos casais homossexuais. O slogan que usava era Mariage pour tous – Casamento para todos. Hollande tentou cumprir a promessa de campanha assim que se tornou presidente, mas repetiu o erro de Mitterrand ao não antever a forte reação da direita. Pouco depois de sua posse, começou a se formar na França uma rede de leigos apoiada fortemente em grupos de oração de católicos carismáticos. Essa rede foi chamada La Manif pour tous – A manifestação para todos.
Em janeiro de 2013, pouco antes da aprovação do casamento gay pelo Parlamento francês, La Manif conseguiu atrair mais de 300 mil pessoas a um comício em Paris, deixando atônitos o governo e a imprensa. O que mais surpreendeu foi a atmosfera lúdica do evento, mais parecido com uma parada gay do que com uma peregrinação a Santiago de Compostela. Havia muitos jovens presentes, mas, em vez de arco-íris coloridos, eles exibiam faixas azuis e cor-de-rosa, representando meninos e meninas. As palavras de ordem nos cartazes tinham um tom de Maio de 68: “François, resista! Prove que você existe!” Como se não bastasse, a porta-voz do movimento era uma espalhafatosa atriz e artista performática conhecida como Frigide Barjot, solista de uma banda chamada Les Dead Pompidou’s.[2]
De onde saíam essas pessoas? Afinal, a França, pelo menos ao que se diz, não é mais um país católico. É verdade que cada vez menos franceses batizam seus filhos e comparecem regularmente à missa, mas quase dois terços da população ainda se identificam como católicos, e cerca de 40% destes se declaram “praticantes”, seja lá o que isso signifique. E o mais importante: como constatou um estudo feito em 2017 pelo Pew Research Center,[3] os franceses que se identificam como católicos – em especial os que vão com regularidade à missa – têm opiniões políticas significativamente mais à direita do que os que se identificam de outra maneira.
E esses achados são consistentes com as tendências observadas no Leste Europeu, onde pesquisas do Pew Research constataram que, na verdade, a auto-identificação dos indivíduos como cristãos ortodoxos vem crescendo em paralelo com o nacionalismo, ao contrário do que indicavam as expectativas do pós-1989. Isso pode indicar a reversão, na Europa, da relação entre as identidades religiosa e política: não é mais a filiação religiosa de cada um que ajuda a definir sua posição política, mas a posição política que ajuda a definir se cada indivíduo se autoidentifica como religioso. Podem estar sendo definidos os pré-requisitos para o surgimento de um movimento nacionalista cristão europeu, como prevê há muito tempo o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán.
Qualquer que tenha sido a motivação dos muitos milhares de católicos que participaram da Manif original, além de outras manifestações semelhantes por toda a França, os primeiros frutos logo começaram a surgir.[4] Alguns de seus líderes formaram em pouco tempo um grupo de ação política chamado Sens Commun [senso comum], que, apesar de pequeno, quase decidiu a eleição presidencial de 2017. O candidato do grupo era o antipático François Fillon, ex-primeiro-ministro conservador e católico praticante que apoiou La Manif e mantinha laços estreitos com o Sens Commun. Fillon declarou abertamente suas opiniões religiosas durante as primárias do seu partido, Les Républicains, no fim de 2016 – opondo-se ao casamento, ao direito de adoção e ao uso de barrigas de aluguel por casais homossexuais – e surpreendeu a todos ao vencer a disputa pela candidatura. Saiu das primárias com boa vantagem nas pesquisas e em razão da profunda impopularidade dos socialistas depois do governo de François Hollande, bem como da incapacidade da Frente Nacional para conquistar o apoio de mais de um terço do eleitorado francês, era visto por muitos como o favorito à Presidência.
Entretanto, assim que Fillon iniciou sua campanha nacional, Le Canard Enchaîné, um semanário que combina a sátira ao jornalismo investigativo, revelou que, ao longo dos anos, sua mulher havia recebido mais de meio milhão de euros de salário por empregos aos quais nem comparecia, e que o próprio candidato havia aceitado uma série de favores de empresários, entre eles – ao estilo de Paul Manafort[5] – o presente de ternos no valor de dezenas de milhares de euros. Para um homem cujo lema era “a coragem da verdade”, a revelação foi um desastre. Fillon foi indiciado em inquéritos e abandonado por seus assessores, mas recusou-se a deixar a disputa, possibilitando o avanço do centrista Emmanuel Macron, que acabaria vencendo as eleições. Ainda assim, devemos ter em mente que, apesar de todo o escândalo, Fillon conquistou 20% dos votos no primeiro turno, enquanto Macron teve 24% e Marine Le Pen, 21%. Não fosse a implosão de sua candidatura, podia ter sido eleito; e a história do que realmente acontece na Europa de hoje seria bem outra.
A campanha da direita católica contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo estava fadada ao fracasso, e afinal fracassou. Uma grande maioria dos franceses apoia o casamento homossexual, embora não mais que 7 mil casais recorram anualmente a ele. Todavia, temos motivos para achar que a experiência de La Manif ainda pode afetar a política francesa nos próximos tempos.
O primeiro motivo é que o movimento revelou a existência de um vácuo ideológico entre os republicanos tradicionais, de um lado, e de outro a Frente Nacional. Muitos jornalistas tendem a descrever com excesso de simplicidade o populismo na política europeia contemporânea. Imaginam que existe uma linha clara separando os partidos conservadores tradicionais, como Les Républicains, conformados com a ordem neoliberal europeia, dos partidos populistas de ideologia xenofóbica, como a Frente Nacional, que propõem o fim da União Europeia, a destruição das instituições liberais e a expulsão do maior número possível de imigrantes, especialmente muçulmanos.
Esses jornalistas têm dificuldade para imaginar que possa haver uma terceira força à direita, sem representação nos partidos mais tradicionais nem entre os populistas xenófobos. E essa visão estreita torna difícil, mesmo para os observadores mais experientes, entender os partidários de La Manif, mobilizados em torno das chamadas questões sociais e convencidos de não terem endereço próprio na política atual. Os Republicanos não têm ideologia dominante fora a visão econômica globalista e o culto ao Estado; mantendo a coerência com seu legado secular gaullista, sempre tenderam a tratar as questões morais e religiosas como um assunto estritamente pessoal, pelo menos até a candidatura anômala de François Fillon. A Frente Nacional é quase tão secular quanto eles, e dotada de ainda menos coesão ideológica, servindo mais como refúgio para o refugo da história – os colaboracionistas de Vichy,[6] os ressentidos pieds-noirs[7] expulsos da Argélia, os românticos à la Joana d’Arc, gente que odeia os judeus e/ou os muçulmanos, e os skinheads – do que como um partido com um programa afirmativo para o futuro da França. Um prefeito que já foi próximo a esse grupo hoje prefere defini-lo, com muita propriedade, como “a direita Điên Biên Phu”.[8]
O outro motivo que contribui para que La Manif continue a fazer diferença é ter sido uma experiência formadora para a consciência de um grupo de ativos jovens intelectuais, em sua maioria católicos conservadores, que se enxergam como a vanguarda dessa terceira força. Nos últimos cinco anos, tornaram-se uma presença nos meios de informação, escrevendo em jornais como Le Figaro e em revistas semanais como Le Point e Valeurs Actuelles, criando novas publicações impressas e virtuais (Limite, L’Incorrect), lançando livros e aparecendo regularmente na televisão. Muita gente os observa com atenção, e um livro alentado e imparcial a seu respeito acaba de ser publicado na França.[9]
É difícil saber se alguma consequência política mais significativa irá resultar de toda essa atividade, dado que na França as modas intelectuais costumam ser trocadas com a mesma frequência do plat du jour [prato do dia]. No último verão, passei algum tempo lendo e entrevistando esses jovens escritores em Paris, e o que encontrei pode ser mais bem descrito como um ecossistema do que um movimento coeso e disciplinado. Ainda assim, fiquei impressionado com a seriedade deles e o que os distingue dos conservadores americanos. Todos compartilham duas convicções: que um conservadorismo vigoroso é a única alternativa coerente para o que definem como o cosmopolitismo neoliberal do nosso tempo, e que esse conservadorismo pode contar com recursos provenientes dos dois lados da divisa tradicional entre esquerda e direita. E o mais surpreendente: todos são admiradores de Bernie Sanders.[10]
O ecumenismo intelectual desses escritores é visível em seus artigos, todos repletos de referências a George Orwell, à escritora mística e ativista Simone Weil, a Pierre-Joseph Proudhon, anarquista francês do século XIX, a Martin Heidegger e Hannah Arendt, ao jovem Marx, ao filósofo católico e ex-marxista escocês Alasdair MacIntyre e, especialmente, ao historiador americano Christopher Lasch, politicamente de esquerda, mas culturalmente conservador, cujas boas tiradas – “A perda das raízes nos deixa sem raiz alguma, salvo a necessidade de raízes” – são repetidas como mantras. Previsivelmente, recusam a União Europeia, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a imigração em massa. Mas também rejeitam a desregulamentação dos mercados financeiros globais, a austeridade neoliberal, as modificações genéticas, o consumismo e a AGFAM (Apple-Google-Facebook-Amazon-Microsoft).
Essa mistura pode soar meio estranha aos nossos ouvidos, mas é muito mais consistente que as posições atuais dos conservadores americanos. O conservadorismo da Europa continental data do século XIX e sempre se baseou numa concepção orgânica da sociedade. Vê a Europa como uma única civilização cristã composta de diferentes nações com variados idiomas e costumes. Essas nações compõem-se por sua vez de famílias, que também são organismos em que papéis e deveres diferentes mas complementares cabem às mães, aos pais e aos filhos. Desse ponto de vista, a tarefa fundamental da sociedade é transmitir o conhecimento, a moral e a cultura às gerações vindouras, perpetuando a vida de todo o organismo da civilização, e não se submeter a um aglomerado de indivíduos autônomos dotados cada um dos seus direitos.
Quase todos os argumentos desses jovens conservadores franceses se fundamentam nessa concepção orgânica. Por que consideram a União Europeia um perigo? Porque ela nega a base comum cultural-religiosa da Europa e tenta forjar um pacto continental baseado no interesse econômico pessoal dos indivíduos. Para piorar a situação, eles sugerem, a União Europeia ainda estimulou a imigração de massas oriundas de uma civilização diferente e incompatível (o Islã), esgarçando ainda mais laços já gastos. Além disso, em vez de fomentar a autodeterminação e uma saudável diversidade entre as nações, vem promovendo um lento golpe de Estado em nome da eficiência econômica e da homogeneização dos países-membros, centralizando em Bruxelas todo o poder de decisão. Finalmente, à medida que impõe aos países-membros onerosas políticas fiscais que só favorecem os mais ricos, a União Europeia impede que os Estados se responsabilizem pelos cidadãos mais vulneráveis e pela solidariedade social. Hoje, na opinião desses autores, a família está abandonada à própria sorte num mundo econômico sem fronteiras, num meio cultural que teima em ignorar as necessidades dela. À diferença de seus equivalentes americanos, que enaltecem forças econômicas ainda mais ameaçadoras para a “família”, que eles imaginam sob pressão, os jovens conservadores franceses aplicam sua visão orgânica também à economia, afirmando que esta deveria subordinar-se aos imperativos sociais.
O mais surpreendente para o leitor americano são as fortes convicções ambientalistas desses jovens escritores, para os quais os conservadores, como a palavra indica, deviam justamente preocupar-se com a conservação. O melhor periódico que publicam é a revista trimestral Limite, colorida e bem diagramada, cujo subtítulo é “revista de ecologia integral”. Ela traz críticas tão severas à economia neoliberal e à degradação ambiental quanto as formuladas pela esquerda americana. (Na França, ninguém nega a mudança climática.) Alguns dos autores defendem o crescimento zero; outros leem Proudhon e apoiam uma economia descentralizada de coletivos locais. Há ainda os que abandonaram as grandes cidades e relatam suas experiências no cultivo de lavouras orgânicas, ao mesmo tempo que denunciam o agronegócio, a manipulação genética de sementes e a intensa suburbanização do campo. Todos parecem inspirados pela encíclica Laudato si’ [Louvado sejas, 2015], do papa Francisco, um abrangente apanhado dos ensinamentos sociais católicos em relação ao meio ambiente e à justiça econômica.
Como têm sua origem em La Manif, as opiniões sobre a família e a sexualidade desses jovens conservadores são as mesmas do tradicionalismo católico. Mas os argumentos que enumeram para defendê-las são estritamente seculares. Em sua proposta de um retorno a normas mais antigas, chamam a atenção para problemas reais: um número decrescente de novas famílias, a geração de filhos em idade mais e mais avançada, a proporção cada vez maior de mães e pais solteiros, os adolescentes imersos em pornografia e confusos quanto à própria sexualidade, além de pais e filhos estressados que fazem as refeições em separado, com os olhos grudados no celular. Tudo isso, afirmam eles, deve-se ao individualismo radical que nos torna cegos para a necessidade social de famílias fortes e estáveis. O que esses jovens católicos não conseguem perceber é que os casais homossexuais que planejam casar-se e ter filhos desejam constituir famílias assim, transmitindo seus valores para a próxima geração. Não pode haver instinto mais conservador.
Muitas mulheres mais jovens vêm propondo um “alter feminismo”, como dizem, rejeitando o que chamam de “fetichismo da carreira” do feminismo contemporâneo, que acabaria por reforçar, involuntariamente, a ideologia capitalista segundo a qual a liberdade é mourejar sob as ordens de um patrão. Por outro lado, não acham que as mulheres deviam ficar em casa se não quiserem; na verdade, consideram que elas precisam de uma autoimagem mais realista que a formulada pelo feminismo e o capitalismo contemporâneos. Marianne Durano, em seu livro recente Mon Corps Ne Vous Appartient Pas [Meu Corpo Não lhes Pertence], descreve assim a situação:
Somos vítimas de uma visão de mundo segundo a qual devemos aproveitar a vida até os 25 anos, depois trabalhar loucamente dos 25 aos 40 (a idade em que chegamos ao fim da vida profissional), evitando filhos e relações mais profundas antes dos 30. E isso contraria totalmente o ritmo de vida das mulheres.
Eugénie Bastié, outra alter feminista, responde a Simone de Beauvoir em seu livro Adieu, Mademoiselle. Presta homenagem à primeira onda da luta feminista pela conquista da igualdade de direitos, mas critica Beauvoir e as feministas francesas que vieram depois por afastar as mulheres de seus próprios corpos, ao considerá-las criaturas pensantes e desejantes, mas não seres reprodutores que, no fim das contas, possam almejar um marido e uma família.
Qualquer que seja nossa opinião sobre elas, essas ideias conservadoras a respeito da sociedade e da economia integram uma visão de mundo coerente; o mesmo já não se pode dizer da esquerda e da direita tradicionais na Europa de hoje. A esquerda combate a fluidez descontrolada da economia global, e quer contê-la em nome dos trabalhadores, ao mesmo tempo que enaltece a imigração, o multiculturalismo e uma fluidez maior dos gêneros, coisas que boa parte dos trabalhadores rejeita. A direita tradicional assume as posições opostas, denunciando a livre circulação de pessoas como causa de instabilidade social, enquanto defende a livre circulação do capital que produz justamente esse efeito. Já esses conservadores franceses criticam a fluidez excessiva em suas formas tanto neoliberal quanto cosmopolita.
Mas o que exatamente propõem no lugar disso? Como os marxistas do passado, que só se referiam em tom muito vago às implicações concretas do comunismo, esses autores parecem menos preocupados em definir a ordem por eles imaginada do que em trabalhar para o advento dela. Embora constituam apenas um pequeno grupo sem expressivo apoio popular, já se preocupam em formular grandes questões estratégicas (pequenas revistas existem justamente para publicar grandes ideias). Será possível restaurar as conexões orgânicas entre os indivíduos e as famílias, as famílias e as nações, as nações e a civilização? De que maneira? Por meio da ação política direta? Tentando conquistar logo o poder político? Ou encontrando algum modo de transformar lentamente a cultura ocidental em seu cerne, como prelúdio à instauração de uma nova política? A maioria desses escritores acredita que, antes de tudo, é preciso mudar a mentalidade dos seus leitores. E é por isso que parecem incapazes de terminar um artigo, ou mesmo uma refeição, sem mencionar o nome de Antonio Gramsci.
Gramsci, um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, morreu em 1937 depois de um longo período detido nas prisões de Mussolini, e deixou pilhas de cadernos com férteis reflexões sobre a política e a cultura. É mais lembrado nos dias de hoje pelo conceito de “hegemonia cultural” – a ideia de que o capitalismo não é sustentado apenas pelas relações de produção, como queria Marx, mas também por certo consenso cultural que funciona como facilitador, enfraquecendo a disposição à resistência. A experiência com os trabalhadores italianos convenceu Gramsci de que, a menos que estes fossem libertados de suas crenças católicas relacionadas ao pecado, ao destino e à autoridade, jamais poderiam insurgir-se e fazer a revolução. Era necessária uma nova classe de intelectuais engajados que pudesse funcionar como uma força contra-hegemônica atuando no sentido de minar a cultura dominante e dar forma a uma cultura alternativa passível de ser adotada pela classe trabalhadora.
Tenho a impressão de que esses jovens escritores não leram os vários volumes dos Cadernos do Cárcere de Gramsci. Na verdade, ele é invocado como uma espécie de talismã retórico, a garantia de que a pessoa que fala ou escreve é um ativista cultural, e não um mero observador. Do que precisa, então, uma contra-hegemonia? Até aqui, identifiquei entre esses jovens, talvez com um excesso de certeza, a mesma visão geral e um conjunto comum de valores. Acontece, porém, que, assim que surge a velha pergunta de Lênin – Que fazer? –, tornam-se aparentes entre eles divergências importantes e com sérias implicações. O que parece estar em desenvolvimento são dois estilos diversos de engajamento conservador.
A leitura de uma revista como Limite deixa a impressão de que a contra-hegemonia conservadora implicaria trocar a cidade grande por algum povoado ou lugarejo rural, envolver-se nas escolas locais, nas paróquias e nas associações de defesa do meio ambiente, e especialmente criar os filhos segundo os valores conservadores – em outras palavras, tornar-se exemplo de um modo de vida alternativo. Esse conservadorismo ecológico parece aberto, generoso e ancorado na vida cotidiana, bem como nos ensinamentos sociais da tradição católica.
Mas a leitura de publicações como o diário Le Figaro, a revista semanal Valeurs Actuelles ou, especialmente, o mensário L’Incorrect, que tem um tom bem mais belicoso, produz uma impressão muito diversa. Aqui, o conservadorismo é agressivo e rejeita a cultura contemporânea, concentrando-se em travar uma verdadeira Kulturkampf [luta cultural] com a geração de 1968, uma obsessão permanente. Como afirma o editor de L’Incorrect, Jacques de Guillebon, 40 anos, nas páginas da revista: “Os herdeiros legítimos de 68 […] acabarão por afundar nas latrinas do tédio pós-cisgênero, transracial, com os cabelos azuis […]. O fim está próximo.” Para acelerar sua chegada, sugere outro autor, “precisamos de um projeto real de direita que seja revolucionário, identitário e reacionário, capaz de atrair tanto a classe média quanto os trabalhadores”. Esse grupo, embora não professe um racismo declarado, manifesta uma profunda desconfiança em relação ao Islã, jamais mencionado pelos articulistas de Limite. E desconfia não apenas do islamismo radical, do tratamento dado às mulheres pelos muçulmanos, da recusa de alguns estudantes que seguem esse credo de estudar a evolução – todas elas questões procedentes –, mas até mesmo dos muçulmanos moderados e assimilados.[11]
Todas essas conversas sobre uma guerra cultural declarada nem mereceriam ser levadas muito a sério caso a ala mais combativa desse grupo não contasse agora com a atenção de Marion Maréchal.
Era difícil situar Marion em matéria de ideologia. Ela mostrava-se mais conservadora nas questões sociais que a liderança da Frente Nacional, mas bem mais neoliberal no que diz respeito à economia. Só que isso mudou. Em seu discurso na CPAC, falou de guerra cultural, apresentando La Manif como um exemplo da disposição dos jovens conservadores franceses para “retomar o país”. E descreveu suas metas usando a linguagem da organicidade social:
Sem a nação, sem a família, sem os limites do bem comum, desaparecem a lei natural e a moral coletiva e mantém-se o primado do egoísmo. Hoje, mesmo as crianças foram transformadas em mercadoria. Ouvimos, em debates públicos, que temos o direito de encomendar uma criança num catálogo, temos o direito de alugar o ventre de uma mulher… Será essa a liberdade que queremos? Não. Não queremos esse mundo pulverizado de indivíduos sem gênero, sem pai, sem mãe e sem nação.
E prosseguiu, numa veia gramsciana:
Nossa luta não pode se limitar ao momento das eleições. Precisamos divulgar nossas ideias na mídia, na cultura e na educação, a fim de conter o domínio dos liberais e dos socialistas. Precisamos formar os líderes de amanhã, que terão a coragem, a determinação e o talento para defender os interesses do seu povo.
Mais adiante, Marion surpreendeu todo mundo na França ao anunciar, para uma plateia americana, que estava fundando uma escola de pós-graduação com essa exata finalidade. Três meses depois, seu Instituto de Ciências Sociais, Econômicas e Políticas (Issep, na sigla em francês) foi inaugurado em Lyon, com o objetivo de, nas palavras de Marion, desalojar a cultura que domina nosso “sistema liberal errante, globalizado e desenraizado”. É basicamente uma escola de negócios, mas que deverá oferecer cursos teóricos de filosofia, literatura, história e retórica, além de cursos práticos de administração e “combate político e cultural”. O responsável pelo currículo é Jacques de Guillebon.
Entre os escritores e jornalistas franceses que conheço, poucos são os que levam muito a sério essas iniciativas intelectuais. Preferem descrever os jovens conservadores e suas revistas como soldados voluntários ou involuntários da campanha de Marine Le Pen para “desdemonizar” a Frente Nacional, e não como uma possível terceira força. A meu ver, enganam-se ao não lhes dedicar a devida atenção, assim como se enganaram ao não levar a sério, na década de 80, a ideologia do livre mercado promovida por Ronald Reagan e Margaret Thatcher. A esquerda tem o velho e mau costume de subestimar seus adversários e explicar as ideias deles como simples camuflagem para atitudes e paixões desprezíveis. Essas atitudes e paixões podem de fato estar presentes, mas as ideias têm um poder próprio de dar-lhes forma e passagem, de moderá-las ou torná-las mais inflamadas.
E essas ideias conservadoras poderiam repercutir além das fronteiras francesas. É possível, por exemplo, que um conservadorismo orgânico renovado e mais clássico acabe atuando como força moderadora nas democracias europeias hoje em crise. Muitas delas sentem-se acossadas pelas forças da economia global, frustradas pela incompetência dos governos em conter o fluxo da imigração ilegal, ressentidas com as regras da União Europeia e desconfortáveis com a rapidez das mudanças nos códigos morais em relação a questões como a sexualidade. Até hoje, essas preocupações só foram tratadas e exploradas por demagogos populistas de extrema direita. Se existe uma parte do eleitorado que simplesmente sonha com um mundo mais estável e menos fluido, tanto econômica quanto culturalmente – pessoas cuja motivação primária não seria um antielitismo xenofóbico –, então um movimento conservador moderado poderia servir como um anteparo contra as fúrias da direita alternativa[12], ao enfatizar a tradição, a solidariedade e o cuidado com a terra.
Outro desdobramento possível é que o conservadorismo agressivo que também vemos na França acabe servindo como um instrumento poderoso para a construção de um nacionalismo cristão reacionário e pan-europeu, ao estilo proposto no início do século XX pelo escritor e líder político francês Charles Maurras, antissemita e propagandista do “nacionalismo integral”, mais adiante principal pensador do regime de Vichy. Uma coisa é convencer os líderes populistas atuais da Europa, tanto Ocidental quanto Oriental, que eles têm interesses práticos comuns e deviam trabalhar juntos, como vem tentando Steve Bannon. Coisa muito diferente, e bem mais ameaçadora, é imaginar esses líderes dispondo de uma ideologia desenvolvida para o recrutamento de jovens quadros e elites culturais, capaz de conectar a todos em nível continental tendo em vista uma ação política conjunta.
Nem todos os franceses têm os olhos fixos em Marion, mas deveriam ter. Marion não é o avô dela, embora na telenovelesca família Le Pen tenha o costume de defendê-lo. E tampouco é a tia dela, uma política grosseira e corrupta cujos esforços para passar um batom novo no partido da família não deram resultado. E nem, acredito eu, sua sorte estará associada à da Reunião Nacional, née Frente Nacional. Emmanuel Macron demonstrou que um “movimento” que desdenhe os partidos consagrados pode vencer as eleições francesas (mas não necessariamente governar ou ser reeleito). Se Marion lançasse um movimento semelhante girando em torno dela própria, a exemplo do que fez Macron, poderia muito bem unificar a direita dando, ao mesmo tempo, a impressão de pessoalmente transcendê-la. Em seguida, estaria em boa posição para cooperar com os partidos de direita no governo em outros países.
A história moderna nos ensina que as ideias defendidas por intelectuais obscuros em pequenos periódicos tendem a ir além dos propósitos muitas vezes bem-intencionados de seus propagandistas. Quando lemos os jovens intelectuais franceses de direita, há duas lições a extrair dessa história. A primeira é que não se pode confiar em conservadores apressados. A segunda, que é melhor tirar a poeira dos livros de Gramsci da sua biblioteca.
Notas
[1] Em meados do último ano, tanto ela quanto o Front National mudaram de nome. Ela deixou de usar o sobrenome Le Pen e agora insiste em ser chamada apenas de Marion Maréchal. Enquanto isso, sua tia trocava oficialmente o nome do partido para Rassemblement National (Reunião Nacional). Rassembler, no jargão político francês, significa reunir e unificar um grupo em prol de uma causa comum. [Nota do autor]
[2] Georges Pompidou foi primeiro-ministro da França de 1962 a 1968 e presidente do país de 1969 até sua morte, em 1974, aos 62 anos.
[3] O Pew Research Center é um instituto norte-americano de pesquisas de opinião e estatísticas.
[4] Também inspirou o espetacular suicídio à la Mishima [escritor japonês que cometeu haraquiri] de um de seus mais conhecidos partidários, o historiador nacionalista Dominique Venner, que poucos dias depois da aprovação da lei do casamento gay deixou um bilhete de suicida no altar da Catedral de Notre Dame e em seguida estourou os miolos diante de mais de mil turistas e frequentadores da catedral. [Nota do autor]
[5] Paul Manafort, lobista e ex-assessor da campanha de Donald Trump, foi condenado em 2018 por fraudes bancárias e fiscais. Chamou a atenção da Justiça que tivesse uma vida luxuosa, não condizente com a renda apresentada em seu imposto de renda – descobriu-se que gastou mais de 1 milhão de dólares em roupas. Manafort é também um dos principais envolvidos no processo que investiga a influência dos russos no pleito que elegeu Trump.
[6] Após o armistício franco-alemão em 22 de junho de 1940, o território francês foi dividido em duas zonas. Os nazistas ocuparam o norte, incluindo Paris, e o sul foi destinado ao Estado francês, nominalmente soberano. O governo da França instalou-se em Vichy, comandado pelo marechal Philippe Pétain, que manteve estreita colaboração com Hitler. Em 1942, quando os alemães ocuparam todo o país, extinguiu-se a pouca autonomia de que dispunham os franceses. O regime de Vichy, porém, só foi abolido em 1944, com a libertação da França pelas forças aliadas.
[7] A expressão Pied-noir (pé negro) designa as pessoas de origem francesa nascidas nos protetorados e colônias da França no norte da África (Tunísia, Marrocos e Argélia).
[8] Referência à última batalha da Guerra da Indochina, ocorrida na região de Điên Biên Phu, no noroeste do Vietnã. Em 7 de maio de 1954, os franceses (que ocupavam o país desde o final do século XIX) sofreram humilhante derrota para as forças comunistas de Ho Chi Minh.
[9] Le Vieux Monde Est de Retour: Enquête sur les Nouveaux Conservateurs [O Velho Mundo Está de Volta: Estudo sobre os Novos Conservadores], de Pascale Tournier (editora Stock, 2018). [Nota do autor]
[10] Bernie Sanders (1941), que se autodefine como “socialista democrático”, é senador norte-americano. Em 2015, filiou-se ao Partido Democrata com o objetivo de lançar-se candidato à Presidência nas eleições do ano seguinte, mas foi derrotado por Hillary Clinton nas primárias do partido.
[11] Certa noite, eu jantei com alguns jovens escritores num bistrô cujo proprietário, obviamente partidário da Frente Nacional, queixava-se em voz alta de que uma estação pública de tevê tinha programado um especial sobre as festividades do Eid al-Fitr, que assinala o fim do Ramadã. Curioso, assisti ao programa quando voltei para casa. Era totalmente banal, uma celebração que parecia uma festa comum de casamento, com os convidados em suas mesas assistindo a shows de música popular. A apresentadora caminhava em meio aos presentes, perguntando-lhes que significado o Ramadã tinha para eles, e a resposta de uma jovem foi bem típica: “Quero levar minha vida como mulher, e obter o que desejo.” Uma esforçada empresária muçulmana, cujo sucesso nos negócios era evidente, foi entrevistada e falou de sua fé… em si mesma. Era o assimilacionismo dos sonhos. [Nota do autor]
[12] Em inglês, alternative right ou alt-right: grupo não organizado de pessoas de extrema direita nos Estados Unidos, com grande atividade na internet, que milita contra a globalização, a imigração, a sociedade multiétnica, o politicamente correto e o feminismo, entre outras bandeiras. Prega o nacionalismo e a hegemonia da raça branca.
*Mark Lilla, ensaísta e professor na Universidade Columbia, é autor de O Progressista de Ontem e o do Amanhã, da Companhia das Letras
Revista Piauí: Deputados do PSL na China mandam recado para Bolsonaro sobre Previdência
Integrante da comitiva diz que presidente deveria defender grupo das críticas de Olavo de Carvalho e avisa: “FHC perdeu sua reforma por um voto. Quantos votos o governo tem aqui na China?”
Por Consuelo Dieguez, da Revista Piauí
Os ataques de Olavo de Carvalho e de seus seguidores nas redes sociais aos parlamentares do Partido Social Liberal que viajaram à China a convite daquele país abriram uma crise no governo Bolsonaro. O bombardeio dos seguidores bolsonaristas – que, nesta quinta-feira, insuflados por Carvalho, acusaram a comitiva do PSL de querer “vender o Brasil para a China” e de serem “comunistas infiltrados na direita” – deixou os onze parlamentares do partido com o sentimento de terem sido atirados “na fogueira” para encobrir o que consideram um escândalo: o pedido do filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ao Supremo Tribunal Federal, para ter foro privilegiado no caso em que seu motorista e assessor na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz, é investigado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de movimentar 1,2 milhão de reais de forma atípica.
“É muita coincidência que o ataque aos parlamentares do partido tenha ocorrido justamente no dia em que o Flávio tomou aquela decisão escandalosa de ir pedir ao ministro Luiz Fux que lhe desse foro privilegiado”, me disse o advogado Cleber Teixeira, integrante da comitiva e futuro chefe de gabinete do deputado eleito Alexandre Frota, também do PSL.
O advogado afirmou que o clima entre os deputados da comitiva era de revolta e indignação. “Durante anos eles combateram o PT e a esquerda pelos crimes que cometeram”, disse Teixeira, por telefone, por volta das 5 horas da manhã em Pequim. “Foram todos eleitos com a bandeira da direita, todos defenderam Bolsonaro e agora são acusados dessa forma? Que absurdo é esse?” A indignação dos parlamentares era ainda maior pelo fato de filhos do presidente – o deputado Eduardo Bolsonaro, eleito por São Paulo, e o vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro – terem “debochado” da comitiva. Carlos chegou a postar uma montagem com a deputada eleita Carla Zambelli segurando uma bandeira chinesa. “Isso aqui não é brincadeira”, afirmou Teixeira, inflamado. “Essa gente está brincando com coisa séria. A China tem uma oferta de investimentos de em torno de 30 bilhões de reais em infraestrutura do Brasil, e essa direita chucra, seguidora de Olavo de Carvalho, fica falando essas irresponsabilidades na rede”, afirmou.
Em seguida, Teixeira fez um alerta para o risco de este tipo de comportamento atrapalhar o governo na votação de reformas. “Imagina se estes parlamentares decidirem não votar com o governo?”, questionou ele. “Porque os parlamentares votam nas propostas de um governo em que confiam. Eles foram eleitos com a bandeira da transparência e agora o Flávio não quer que o investiguem? Não é obstruindo uma investigação que ele vai provar sua inocência.” Lembrou ainda que tanto Bolsonaro quanto seus filhos foram críticos aos pedidos de foro privilegiado feitos por Aécio Neves e outros políticos, e que agora pedem o mesmo benefício. “Não estou dizendo que ele seja culpado. Pelo contrário. Mas quem não deve, não teme”.
Teixeira afirmou ainda que, se os parlamentares não se sentirem confortáveis com o comportamento do Executivo, podem não votar as reformas. “Eles não darão carta branca a um governo em que não confiam.” E foi além. Disse que o presidente Jair Bolsonaro deveria controlar os filhos dele. “Todos nós respeitamos o Jair, mas não vamos aceitar esses ataques dos filhos dele. Isso não é uma monarquia. Ele não é rei e os filhos dele não são filhos do rei.”
O advogado se mostrou indignado com Olavo de Carvalho. Disse que Bolsonaro deveria controlar também os ataques do guru da extrema direita aos parlamentares do PSL. “Quem vai garantir os votos que ele precisa no Congresso? Os deputados da sua base ou Olavo de Carvalho? O Fernando Henrique perdeu a reforma da Previdência [em 1998] por um voto. Quantos votos Bolsonaro tem aqui na China?”, perguntou. Afirmou que não se tratava de uma ameaça, mas sim da necessidade de o governo entrar na defesa de seus parlamentares. Desde o início da confusão, o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou a favor da comitiva do PSL da China. Durante visita à embaixada do Brasil, em Pequim, os parlamentares decidiram deixar clara sua indignação com o caso. A senadora Soraya Thronicke, do Mato Grosso do Sul, ligou da embaixada para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que também vinha se mantendo em silêncio, e, irritada, pediu que ele se posicionasse em defesa da comitiva. Ele não se manifestou oficialmente. O chanceler foi indicado para o cargo por Olavo de Carvalho, de quem é um fiel seguidor.
Na quinta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia se encontrado com o embaixador da China para discutir investimentos do país asiático no Brasil. Na próxima semana, Bolsonaro viaja para o Fórum Mundial de Davos e está previsto um encontro com o presidente da China. “Quero ver se o Olavo de Carvalho vai chamar Bolsonaro de comunista”, disse Teixeira.
Embora os parlamentares do PSL não tenham ido à China em missão oficial, já que só tomarão posse em primeiro de fevereiro, a intenção deles, segundo a deputada Carla Zambelli, era mostrar que o governo Bolsonaro não tinha restrições de comércio com a China, além de conhecer as possibilidades de investimento. A China compra a maior parte da produção de soja brasileira, além de minério de ferro e petróleo. “Se a China parar de importar soja do Brasil, muitos estados brasileiros vão quebrar”, disse o advogado.
Afora isso, disse Teixeira, a direita sempre criticou a esquerda pelo “viés no comércio exterior”, ao “priorizar” negócios com Cuba e Venezuela. Na visão dos deputados da comitiva, afirmou ele, a direita acha importante que se faça comércio com todos os países. “Essa gente não entendeu que agora acabou essa história de direita e esquerda. O presidente tem que governar para todos, para o bem do Brasil. Não pode se dar ao luxo de eliminar um parceiro da importância da China por questões ideológicas.”
Desde que chegaram em Pequim, os parlamentares foram massacrados por integrantes de grupos de WhatsApp e de outras redes sociais bolsonaristas. O incentivador mais popular dos ataques foi Olavo de Carvalho, que chamou os parlamentares de “jumentos” por demonstrarem interesse num software de reconhecimento facial chinês – o que, segundo o ensaísta, permitiria que os brasileiros fossem espionados pelo país asiático.
Um dos ataques mais violentos partiu de Marcello Reis, do Revoltados On Line, movimento que surgiu para pedir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ex-marido de Zambelli, Reis acusou-a e aos outros parlamentares, num vídeo postado na quinta-feira, de defenderem os “interesses dos comunistas”. Na tarde desta sexta-feira, dia 18, ele postou um novo vídeo, ainda mais pesado, já a partir do título: “Agente do PCC infiltrado no governo Bolsonaro a mando do MDB”. Referia-se ao empresário Vinícius Aquino, de 28 anos, assessor do deputado eleito Alexandre Frota e dono da marca Pixuleco, a quem Reis acusou de ser traficante de drogas. “Ele levava cocaína para a gente quando estávamos acampados no gramado do Congresso, esperando a votação do impeachment da Dilma, em 2016”, afirmou no vídeo, raivoso, afirmando ter testemunhas. “Ele levava drogas não só para mim, mas também para deputados no Congresso”, disse Reis. Em tom confessional, afirmou: “Eu me drogava, sim, mas Graças a Deus hoje não me drogo mais”. Fungou forte no vídeo e justificou: “Isso não é droga, é gripe, por causa do ventilador e da fumaça do cigarro, a única droga que consumo atualmente.”
Na sequência, disse que Aquino representava um perigo porque tinha trabalhado no Planalto no governo Michel Temer, e que, agora, iria trabalhar no gabinete do deputado eleito Alexandre Frota. “Ele é um comunista infiltrado no PSL”, afirmou.
Amaciou o tom de voz para se dirigir a Bolsonaro. “Presidente, gosto muito do senhor e dos seus filhos. Tenho carinho especial pelo Carlos, o Pitbull do governo Bolsonaro. Me identifico com ele. Carlos, protege o teu pai”, clamou. E pediu que Frota “fosse homem” e demitisse Aquino de seu gabinete. “Você não é o homem que falou que era contra as drogas? Agora seja homem e não seja gogo boy. Você agora é deputado. Demite esse cara”, afirmou, numa alusão ao fato de Frota ter sido ator de filme pornô gay.
Ao saber das acusações de tráfico de drogas na Esplanada durante as manifestações pelo impeachment de Dilma, o advogado e futuro chefe de gabinete de Frota, Cleber Teixeira, que é também amigo de Vinicius Aquino, primeiro gargalhou e chamou a situação de absurda. Depois, indignou-se. “Esse Marcello Reis é um drogado. Deve ter cheirado todas. E o pior é que, agora, quando você publicar essa história na piauí, o Aquino vai aparecer na imprensa como traficante. É execrável o que ele está fazendo.”
Disse-me que não tem nem como processar Reis porque ele “é um duro, não tem onde cair morto”. Afirmou que Reis “não tem qualquer moral”, é um esquecido nas redes e que “está postando isso para ganhar uns likes”. Em 2016, Reis teve sua página bloqueada pelo Facebook.
Para o advogado Cléber Teixeira, o fogo amigo está acontecendo porque o governo não tratou logo de pôr fim à polêmica, por estar “interessado em abafar o caso do motorista de Flávio Bolsonaro.” E voltou novamente as baterias contra os filhos do presidente. Disse que Eduardo tenta se impor como líder da bancada, mas “liderança não se impõe, se conquista”. Acusou ainda Eduardo Bolsonaro de querer desmoralizar seus correligionários, ao chamá-los de “favelados” por terem tido poucos votos, ao passo que ele e Joice Hasselmann tinham sido os mais bem votados, ele com 1,8 milhão de votos e ela 1 milhão. “Ele esquece que agora cada parlamentar tem o mesmo peso. Cada parlamentar é um voto”. E ameaçou. “Se ele vier falar nesse tom no gabinete do Frota eu quebro a cara dele.”
Com a voz cada vez mais alterada, Teixeira me disse que, ao contrário do que Eduardo costuma falar, os deputados ajudaram a eleger Bolsonaro. “Não foi o Bolsonaro que os elegeu. Quando Bolsonaro estava numa cama de hospital, essa turma estava nas ruas fazendo campanha para ele.” E reclamou. “Está na hora de o governo sair em defesa dos deputados na China abertamente, já que estão lutando pelos interesses do país. Deveria exigir que parem com essa palhaçada. Isso aqui não é para brincadeira.” E concluiu. “Bota tudo isso na minha conta porque os deputados não vão ter coragem de falar como estou falando.”
O presidente do PSL, o deputado pernambucano Luciano Bivar, é um homem de fala mansa e cabeça fria. Conversei com ele por telefone, na tarde desta sexta-feira. Ele estava em Nova York tratando dos direitos de publicação do seu primeiro romance, que pretende lançar nos Estados Unidos, já que a história se passa em Manhattan, cujo título será Cinquenta formas de amar, uma é matar.
Ele saiu em defesa dos colegas que estavam na missão chinesa. Disse que o comércio bilateral é normal entre países, e não via razão para os ataques feitos por Carvalho e seus seguidores. Depois, rindo, contou que brincou com alguns deputados que “Carvalho perde o amigo, mas não perde a piada.” Perguntei o porquê dessa observação. “Porque só pode ser piada o que ele está falando. Ele sabe perfeitamente bem que o Brasil é um país soberano e que não há qualquer chance de se vender para a China.” E reforçou a importância das relações com o parceiro comercial, de grande importância para o Brasil.
Sem se exaltar, reclamou das “pedras que estavam sendo atiradas nos colegas” e disse que as “pessoas estavam cegas.” Ele não vê crise no partido, mas criticou o que chamou de direita radical. “O partido é grande, temos a ala radical e ala racional.” Os racionais, ele disse, sabem que as relações comerciais com a China não irão afetar a ideologia liberal do governo Bolsonaro. “A China, em certos aspectos, é mais liberal até que o Brasil”, opinou.
Ele creditou esse comportamento irracional de parte dos grupos de direita como resultado do “trauma que tiveram com os desmando dos governos do PT, que quase arruinaram o país”. Mas, segundo ele, isso já passou, e é preciso pensar em recuperar a economia e o emprego. Depois, parecendo achar toda essa confusão absolutamente prosaica, me disse: “Espero que vocês, na piauí, façam a resenha do meu livro. Seus leitores são muito mais interessantes do que essa direita raivosa.”
*Consuelo Dieguez, repórter da piauí desde 2007, é autora da coletânea de perfis Bilhões e Lágrimas, da Companhia das Letras
Jairo Nicolau: O triunfo do Bolsonarismo
Como os eleitores criaram o maior partido de extrema direita da história do país
Até o início do horário eleitoral, a visão dominante sobre as eleições de 2018 era a de que repetiria os padrões dos pleitos anteriores. Nem PT nem PSDB acreditavam no fenômeno Bolsonaro.
No sábado, véspera do primeiro turno das eleições, fui a uma festa de família em Nova Friburgo, minha cidade natal. Durante o dia, no inevitável passeio pela avenida principal da cidade, deu para perceber os sinais de campanha presidencial, o que não tinha ocorrido em nenhum momento no Rio de Janeiro: dezenas de cabos eleitorais balançando bandeiras, muita gente vestindo a camisa amarela com a foto de Bolsonaro estampada.
Em conversa com familiares, comecei a dimensionar a força do bolsonarismo na cidade. No grupo de 25 pessoas que jogam vôlei com a minha irmã, apenas ela e mais três disseram que não votariam no candidato do PSL; no grupo de vinte que jogam a tradicional pelada de fim de semana com o meu cunhado, apenas ele e mais quatro não iam votar em Bolsonaro. O mais inesperado foi ouvir relatos sobre antigos colegas de colégio, figuras silenciosas e discretas, que tinham se transformado em virulentos defensores de Bolsonaro nas redes sociais. Adotando uma “tática de enxame”, eles se especializaram em conjuntamente atacar páginas do Facebook de amigos que postassem qualquer crítica ao capitão.
Friburgo é uma cidade conservadora, mas saí de lá com a sensação de que Bolsonaro estava muito mais forte do que eu imaginava. De volta ao Rio, ao votar no primeiro turno, encontrei uma situação muito mais equilibrada. Meu passatempo, durante a longa espera, foi tentar identificar o voto dos eleitores das filas vizinhas. Alguns, atendendo ao pedido da campanha de Bolsonaro, chegaram com a camisa da Seleção brasileira. Vi muitos com adesivos de candidatos do PSOL e de Ciro Gomes. Será que as urnas em geral estariam mais próximas da maré bolsonarista vista em Friburgo ou do cenário mais equilibrado das filas de uma escola de Botafogo?
Já faz alguns anos que não ligo a tevê para acompanhar a apuração. Prefiro baixar o programa do TSE e abrir o site de um grande jornal, navegando conforme as minhas escolhas. Esse ano, porém, como os resultados demoravam a aparecer, resolvi seguir as previsões feitas pelas pesquisas de boca de urna. À medida que os resultados eram divulgados nos jornais televisivos e outros eram compartilhados via WhatsApp por amigos que estudam eleições, mais estupefato eu ficava.
No Rio de Janeiro, o juiz Wilson Witzel, candidato apoiado pela família Bolsonaro, chegava em primeiro lugar, desbancando Eduardo Paes, líder em todas as pesquisas que foram publicadas desde o começo do ano. Imediatamente, recebo mensagens de toda a parte. Quem é esse juiz? Em Minas Gerais, os petistas sonharam com o crescimento do candidato do Novo, um empresário chamado Romeu Zema. Mas não imaginavam que ele tirasse o governador Fernando Pimentel da disputa no segundo turno. A sensação de que essa era uma eleição de ruptura com a velha ordem partidária ficou clara quando apareceram os dados para o Senado de Minas, com a ex-presidente Dilma amargando o quarto lugar. Era isso mesmo? Sim. Uma ex-presidente vitoriosa em quatro turnos naquele estado estava atrás de outros três concorrentes.
Os resultados da noite deixaram os analistas de política sem adjetivos. O uso de analogias climáticas, embora meio desgastado depois de anos de crise (quem não se lembra da “tempestade perfeita”?), foi a opção. Estávamos diante de um “tsunami” eleitoral, do “furacão” Bolsonaro, da “avalanche” de votos do PSL. Restava falar da velha ordem política também com imagens de destruição. O sistema partidário estaria “em escombros”, “em ruínas”, teria vindo ao chão diante de uma “hecatombe” de renovação.
Afinal, quais eram as bases do sistema partidário que teria sido destruído no primeiro turno do pleito de 2018?
Vale a pena voltar no tempo e lembrar a grande instabilidade que marcou a primeira década da vida partidária após a redemocratização. Cinco partidos foram fundados ainda no regime militar: PDS, PMDB, PT, PDT e PTB. Entre 1985 e 1994, nada menos do que 68 partidos foram organizados e disputaram pelo menos uma eleição. Dentre esses, destacam-se o PFL, o PSDB, o PL, o PCdoB, o PSB e o PRN.
Mais do que pelo grande número de legendas, o período foi caracterizado pela crise que afetou os partidos tradicionais. Nas eleições presidenciais de 1989, os candidatos do PMDB e PFL – os dois partidos responsáveis pela vitória na eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral – tiveram um desempenho pífio. Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte que encerrara seu trabalho um ano antes da eleição, obteve 4,7% dos votos. Aureliano Chaves, ex-vice-presidente da República, alcançou apenas 0,9%.
A vitória de Fernando Collor pelo PRN, legenda à qual se filiou apenas para concorrer à Presidência, e o subsequente governo de Itamar Franco, presidente que se desfiliou do PRN e governou sem estar vinculado a nenhuma legenda, ilustram bem o quadro de crise do sistema partidário nos primeiros anos da década de 90.
Podemos definir o ano de 1994 como o início do sistema partidário com características mais ou menos estáveis, que perduraria por duas décadas até as eleições de 2014. Destaco três principais características desse sistema.
A primeira delas é a polarização entre PT e PSDB na disputa presidencial. Os dois partidos chegaram em primeiro ou em segundo lugar em todos os dez turnos disputados entre 1994 e 2014. Nas duas eleições em que o PSDB venceu no primeiro turno (1994 e 1998), o PT chegou em segundo lugar. Nos oito turnos em que o PT venceu (2002, 2006, 2010 e 2014), o PSDB chegou em segundo lugar.
A segunda característica é o papel central do PT no sistema partidário. Será difícil para os historiadores do futuro não chamarem esses vinte anos de “era do PT”. O partido ficou à frente da Presidência por mais tempo do que qualquer outro na história da República. Mesmo durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o PT conseguiu ser um ator relevante, comandando uma combativa oposição.
Para além do sucesso eleitoral, um aspecto que sempre chamou a atenção no PT foi a sua capacidade de organização. Enquanto os outros partidos mantiveram uma estrutura organizacional tênue, com baixo envolvimento dos filiados em suas atividades, o PT inovou ao apostar em uma estrutura capaz de mobilizar milhares de quadros para as suas fileiras.
Os cientistas políticos David Samuels e Cesar Zucco, no livro Partisans, Antipartisans and Nonpartisans: Voting Behavior in Brazil (2018), mostraram como a divisão PT/anti-PT foi importante na escolha dos eleitores. Caso raro, o principal concorrente do PT não foi outro partido, mas um sentimento genérico com nome próprio: antipetismo.
Uma terceira característica do sistema partidário brasileiro é a fragmentação. Contrastando com a disputa concentrada para a Presidência, o quadro no Congresso Nacional é de alta pulverização, tendência que vem se aprofundando desde os anos 90. Para se ter uma ideia dessa dispersão: em 1994, as quatro legendas mais importantes (PSDB, PMDB, DEM e PT) tinham, juntas, 308 cadeiras na Câmara dos Deputados; em 2014, passaram a deter apenas 210. A predominância dos quatro partidos não é por acaso. PT e PSDB controlaram a Presidência, enquanto o PMDB (depois MDB) e o PFL (depois DEM) foram centrais no controle do Congresso Nacional.
Depois da perplexidade com os resultados de boca de urna do primeiro turno divulgados pela televisão, voltei ao computador para analisar os dados oficiais da apuração. Ao abrir os resultados de deputado federal do Rio de Janeiro me dei conta que o sucesso de Bolsonaro tinha transbordado para os cargos proporcionais.
Quem é esse Hélio Lopes que chegou em primeiro entre os candidatos a deputado federal, elegendo-se com 345 mil votos, à frente de Marcelo Freixo? Encontro na internet a foto de Lopes. Lembro que recebi um santinho dele. Dias depois, me atualizo. Chamado por Bolsonaro de “Hélio Negão”, ele é subtenente do Exército e tentou ser vereador em Nova Iguaçu em 2016, quando recebeu 480 votos. Nas estatísticas não será considerado como um político que tenta um cargo pela primeira vez.
Numa eleição de tantas surpresas, nada foi mais espantoso do que a votação obtida pelo Partido Social Liberal para a Câmara dos Deputados. O partido obteve 11,3% dos votos e 10,1% das cadeiras. Havia conseguido eleger apenas um deputado federal nas quatro das cinco eleições que disputou antes de 2018. Era um dos partidos a serem barrados pela cláusula de desempenho. A filiação de Bolsonaro e de seus seguidores ao PSL, em março desse ano, mudou inteiramente a sorte da legenda.
O PSL foi o partido que teve o maior crescimento desde as eleições de 1990, quando é possível comparar com a primeira eleição do regime democrático, em 1986. Em 1990, o PRN do então presidente Collor obteve 8,3% dos votos, enquanto o estreante PSDB recebeu 8,7%. Ambos já contavam com um grande número de deputados e tinham o apoio de importantes lideranças regionais.
Outra característica singular do PSL é o grande número de eleitos que disputam um cargo pela primeira vez. Dos 52 deputados federais eleitos, trinta nunca haviam concorrido. Nunca um partido elegeu tantos novatos como o PSL. Guardadas as proporções, é um fenômeno semelhante ao da ascensão do partido do presidente francês Emmanuel Macron (La République en Marche!) e do Movimento 5 Estrelas, na Itália; são novos partidos que levam dúzias de cidadãos sem experiência prévia aos legislativos nacionais.
Os diversos perfis da bancada do PSL feitos pela imprensa destacam a sua heterogeneidade. O que os une, além da admiração por Bolsonaro, é o fato de se posicionarem na extrema direita do espectro partidário. Só no fim da noite de domingo do primeiro turno da eleição, quando já era possível estimar o tamanho das bancadas de cada partido, me dei conta de algo surpreendente: os eleitores haviam criado o maior partido de extrema direita da história das eleições brasileiras.
Quando teria começado a ruína dos partidos e de parte da tradicional elite política do país? Não são poucos os analistas que atribuem a origem de tudo às manifestações que varreram o país em 2013. O forte conteúdo antipolítica dos protestos teria ajudado a minar a confiança da população no sistema representativo.
Além de pedir aos manifestantes que não usassem camisas com símbolos partidários e promover a queima da bandeira dos partidos, os protestos lançaram alguns bordões que expressam uma visão realmente negativa da política. “Partidos não” e “Não me representa” eram palavras de ordem reiteradas inúmeras vezes quando as pessoas se aproximavam da Câmara Municipal ou da Assembleia Legislativa.
É difícil dimensionar se 2013 teve um efeito mais duradouro sobre a avaliação dos brasileiros acerca dos seus representantes. O fato é que nas eleições do ano seguinte o impacto não foi perceptível. As pesquisas de opinião não indicaram um aumento da desconfiança em relação às instituições e aos partidos. A taxa de abstenção continuou praticamente a mesma da eleição anterior. Fora do padrão, apenas um aumento dos votos nulos e em branco para deputado federal, particularmente nos estados do Rio e de São Paulo.
Somente uma força externa muito poderosa poderia abalar um sistema de partidos estruturado em duas décadas de competição política, com diversos mecanismos de autoproteção. A Operação Lava Jato cumpriu esse papel. As investigações afetaram diversas legendas, mas sobretudo as três mais importantes: PT, PSDB e MDB. O PT teve vários de seus dirigentes presos e investigados, entre eles o ex-presidente Lula. Os principais dirigentes investigados do MDB tinham foro privilegiado (eram senadores e deputados), mas o que se viu na maior seção do partido, a do Rio de Janeiro, com a prisão de Sérgio Cabral, Eduardo Cunha e Jorge Picciani, foi suficiente para fazer um estrago sem precedentes na legenda. Vários dirigentes do PSDB investigados também se beneficiaram do foro privilegiado, mas a revelação das conversas de Aécio Neves com o empresário Joesley Batista também amplificou muito a rejeição ao partido.
Olhando para trás e relembrando a maré de denúncias contra a elite política que circulou entre 2015 e 2018, percebo como os analistas subestimaram os efeitos da Lava Jato. A operação mudou o patamar de rejeição em relação aos principais partidos. Todos foram igualados por participarem sem pudor de gigantescos esquemas de corrupção.
Até o começo do horário eleitoral, a visão dominante dos cientistas políticos sobre as eleições de 2018 era a de que repetiria os padrões dos pleitos anteriores. Eles acreditavam que: a disputa pela Presidência se daria novamente entre PT e PSDB; a renovação parlamentar seria baixa; e o trio PSDB/PT/MDB continuaria dominando a política brasileira.
O argumento dos que defendiam a tese de que “essa eleição é igual às últimas” baseava-se em duas premissas. Primeiro, a importância que a estrutura partidária e a montagem das coalizões de apoio nos estados havia tido em pleitos anteriores. Segundo, a nova legislação eleitoral, que concentrou o tempo de propaganda eleitoral e o dinheiro do fundo eleitoral nos grandes partidos; juntos, MDB, PSDB, PT e PP ficaram com 44% do dinheiro.
A mesma visão parece ter orientado as ações dos dirigentes partidários. O PSDB optou por lançar Geraldo Alckmin, uma liderança tradicional, que já havia sido candidato à Presidência. O ex-governador de São Paulo, mais do que qualquer um dos nomes ventilados pelo partido, tinha a cara da velha política. O PSDB teve como prioridade a montagem de palanques estaduais e o apoio dos partidos para conquistar o que havia sido o melhor ativo de outras eleições: o tempo de propaganda na tevê.
A estratégia do PT também mirou o passado. A ideia parecia simples. Lula liderava as pesquisas com enorme vantagem. O que, por si só, seria uma evidência de que o eleitorado queria uma nova edição da época de ouro dos governos petistas. Como as pesquisas mostravam que um número expressivo de eleitores estaria disposto a votar em um nome indicado por Lula, a equação estava fechada. Confiando na força do ex-presidente e na teoria de transferência de votos, o PT se deu ao luxo de fazer a mais estreita coalizão eleitoral desde 1989. Só conseguiu o apoio do PCdoB – que retirou a candidatura de Manuela D’Ávila à Presidência – e do PROS.
Nada, porém, supera a crença dos partidos na manutenção da velha ordem do que o comportamento dos partidos do centrão (DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade). É interessante lembrar que alguns deles haviam sido sondados pelo PT e outros pela candidatura de Ciro Gomes. Bolsonaro gostaria de ter o senador Magno Malta como seu vice, mas o PR não aceitou. Depois de semanas de negociação, os partidos resolveram apoiar qual candidato? Geraldo Alckmin.
PT e PSDB se prepararam para enfrentar um ao outro. Nenhum dos dois acreditava no fenômeno Bolsonaro. No último debate do primeiro turno na Rede Globo, a certa altura Alckmin escolheu Haddad para responder uma de suas perguntas. Durante minutos os dois falaram como se estivessem em 2014. Enquanto isso, Bolsonaro concedia uma entrevista nos seus termos à Rede Record do bispo Edir Macedo.
Fui mais cético que meus colegas de ofício sobre a possibilidade de que a eleição de 2018 repetisse o padrão das eleições anteriores. Minha desconfiança se devia a duas razões. A primeira, mais genérica, pode ser resumida no sentimento de que, depois de três anos de crise política, dificilmente as estruturas do sistema partidário não sairiam abaladas. Lembro-me de uma conversa com a cientista política Maria Hermínia Tavares de Almeida, que também compartilhava do meu ceticismo, em que ela fez a pergunta definitiva: “Depois de tudo que aconteceu nesses anos, as eleições não vão mudar nada?”
A segunda razão é que venho há anos acompanhando a movimentação do candidato Bolsonaro. Por intermédio de um amigo que compartilha o material do candidato, assisti aos seus vídeos postados nas redes sociais, e os mais impressionantes deles mostravam o acolhimento efusivo que recebia de seus seguidores pelos aeroportos do país. Mas, apesar de não desprezar a força de Bolsonaro, minha expectativa sobre o que seria a eleição presidencial se revelaria totalmente equivocada. Consulto os slides de uma apresentação que fiz em março deste ano sobre o tema. Estimava que Bolsonaro teria algo em torno de 15% a 20% dos votos.
Minha aposta era que cinco candidatos (Marina, Alckmin, Ciro, Bolsonaro e o candidato do PT) disputariam entre si as duas vagas para o segundo turno; todos eles com potencial de votação semelhante, entre 10% e 20% dos votos. Uma pessoa cujo nome não lembro e que compartilhava de avaliação semelhante chegou a propor um número mágico: nesse cenário, o candidato que tivesse 17% dos votos passaria para o segundo turno.
Meu equívoco maior se deu quando projetava os resultados do segundo turno. Mais de uma vez, fui perguntado em debates e aulas sobre as chances de Bolsonaro vencer as eleições. Na resposta, sempre me lembrava do caso francês. Bolsonaro é candidato de um segmento específico do eleitorado, é um candidato de nicho, que lembra o desempenho do partido de extrema direita da França. Lá, a Frente Nacional consegue até chegar ao segundo turno, mas todas as forças do espectro político (da direita republicana à esquerda comunista) se juntam contra o partido, que é sempre derrotado. Não me lembro, mas provavelmente devo ter dito uma frase que muitos falavam em meados do ano: “O candidato do PSL será derrotado por qualquer um no segundo turno.”
Bolsonaro saiu do nicho. Esse é o fenômeno mais impressionante da campanha presidencial de 2018 e será o tema incontornável dos estudos sobre o comportamento político no Brasil nos próximos anos.
Como um candidato com uma história tão à direita no espectro político, com dezenas de vídeos em que revela seu racismo, sua homofobia e seu menosprezo pelas mulheres, foi capaz de conquistar uma parcela tão expressiva de eleitores de alta renda e alta escolaridade? Fui a São Paulo em junho e percebi que Bolsonaro já era o preferido dos motoristas de Uber e dos trabalhadores do hotel onde me hospedei. Em setembro, em nova viagem, soube que a comunidade judaica o apoiava em peso. O mesmo acontecia com a elite da cidade, outrora eleitora do PSDB.
O mais impressionante é que uma grande parte do eleitorado passou a apoiar Bolsonaro sem conhecer minimamente suas ideias. Recolhido no hospital ou em casa desde o atentado que sofreu em 6 de setembro, Bolsonaro compareceu somente aos dois primeiros debates da campanha. Sem dispor de tempo no horário eleitoral gratuito, também não detalhou nenhum dos seus projetos para o país. Minha impressão é que seus eleitores, ao votarem nele, imaginam escolher uma espécie de João Doria nacional.
Outra hipótese, mais óbvia mas não menos intrigante, é a que vê no antipetismo uma razão forte para Bolsonaro ter saído de seu nicho. A maré bolsonarista deveria menos aos méritos do candidato do que a uma força inercial da opinião pública. Dito de outro modo, qualquer candidato que disputasse contra o PT acabaria vencendo.
Usei o adjetivo “intrigante” no parágrafo acima por uma razão muito simples. Onde estava o antipetismo tão visceral que ninguém foi capaz de dimensioná-lo? Aos olhos de agora, parece que todo mundo já sabia da força do antipetismo, mas nenhuma pesquisa de opinião feita antes de a campanha começar foi capaz de capturá-lo. Ao contrário, as pesquisas mostravam que Lula reerguia o petismo e que o partido já recuperava seu tamanho como legenda preferida do país. Havia inclusive uma hipótese para explicar a força do petismo: “O governo Temer e a prisão do Lula teriam ressuscitado o PT.”
Estudos sobre o desenrolar da campanha eleitoral de 2018, particularmente sobre o papel das redes sociais, devem mostrar a evolução do antipetismo. Meu palpite é que tanto a ampliação do antipetismo, como a mudança de patamar desse sentimento (de um estágio relativamente leve para um visceral) deve-se à eficácia do que chamarei, na falta de expressão melhor, de máquina de propaganda da campanha de Bolsonaro.
As eleições para prefeito do Rio de Janeiro em outubro de 2016 e a greve dos caminhoneiros, em maio de 2018, mostraram a força de uma nova forma de comunicação e mobilização social: o WhatsApp. Falo especificamente desse instrumento porque ele é realmente uma inflexão na forma de os brasileiros se comunicarem. De novo, não tenho estudos, mas posso observar na minha rotina que o WhatsApp é o grande responsável pela inclusão de milhões de cidadãos de baixa renda e baixa escolaridade na era digital.
Somente a comunicação via redes sociais, cultivada nos últimos anos no país, poderia explicar a força e a rapidez com que as ondas de opinião se propagaram nessas eleições. Antes, velhas ondas de campanha demoravam dias para se formar e precisavam do “boca a boca” para se propagar. Agora, a propagação da informação faz-se de maneira veloz, em escala geométrica – como provavelmente ocorreu na impressionante campanha que levou o juiz Witzel a saltar de um dígito nas pesquisas feitas na quarta-feira antes da eleição para 41% dos votos válidos no primeiro turno.
A campanha também foi invadida por uma onda de fake news. Assisti a dezenas de vídeos, quase todos pró-Bolsonaro, com montagens toscas, adulterações de fatos e estatísticas inventadas. A Justiça Eleitoral não se preparou para lidar com o fenômeno. Diferentemente do que tinha feito em outras eleições, quando controlava os desvios e agressões da propaganda de rádio e televisão, nesse ano o silêncio foi a sua tônica.
Mas nem tudo foi fake news. Depoimentos e trechos de eventos foram difundidos com eficácia pela campanha do PSL. Ouvi pastores e lideranças empresariais pedirem voto para o Bolsonaro. Vi compararem algumas propostas do candidato com as do PT. Acabo de assistir a um vídeo em que um bispo finaliza a sua homilia repetindo, e sendo efusivamente aplaudido pelos fiéis, o principal bordão da campanha bolsonarista: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.”
Bolsonaro é, a meu juízo, o maior fenômeno da história das eleições no Brasil. Muitos o comparam com Collor em 1989, mas sua força e abrangência são bem maiores. Uma coisa parece certa. Com Collor, vimos a emergência de um fenômeno propagado pelas redes de televisão. Bolsonaro não só nos mostrou que a era da televisão está se encerrando, como uma nova era começa: a das campanhas feitas nos subterrâneos da sociedade, por meio das redes sociais.
Embora essa seja uma análise ainda inicial, minha sugestão é que o pleito desse ano é um exemplo do que os cientistas políticos chamam de “eleição crítica”: uma disputa que desestrutura o padrão de competição partidária vigente.
Enumero quatro elementos que demonstram que as eleições deste ano marcam o encerramento do sistema partidário que vigorou por duas décadas: o fim da polarização entre PT e PSDB nas eleições presidenciais; o fim da centralidade do primeiro como força organizadora do sistema partidário; o declínio dos dois maiores partidos de centro (PMDB e PSDB); e a emergência de um novo e expressivo partido de direita (PSL).
A onda bolsonarista foi tão forte que, nos dias que se seguiram ao primeiro turno, os prognósticos sobre o resultado do segundo turno podiam ser resumidos em duas perguntas: Qual será a diferença a favor do candidato do PSL? Será que ele superará o desempenho de Lula em 2002? (Nesse ano, o candidato do PT recebeu 61,3% dos votos válidos, a maior votação já obtida por um candidato a presidente.) As pesquisas publicadas na primeira semana após o segundo turno reforçaram a ideia de vitória por grande margem. Na pesquisa do Datafolha, o deputado do PSL vencia com 58% dos votos válidos; na pesquisa Ibope vencia com 59%.
Em razão da grande vantagem confirmada nas primeiras pesquisas, Bolsonaro manteve a mesma estratégia adotada no último mês de campanha do primeiro turno: priorizou a difusão de mensagens por intermédio das redes sociais, não participou de eventos públicos e nem compareceu aos tradicionais debates promovidos pelos principais meios de comunicação do país. A diferença é que sua campanha chegou ao rádio e à televisão.
Com apenas oitos segundos, o ex-capitão havia sido quase invisível nos meios tradicionais de comunicação no primeiro turno. No segundo, com os dez minutos do programa eleitoral e centenas de inserções, ele teve que dar uma atenção especial ao velho (e para ele novo) formato de comunicação.
Se pudermos recorrer a uma metáfora esportiva, a estratégia de Bolsonaro lembrou a dos times de futebol que, vencendo por larga vantagem, “jogam contra o relógio”. Deixam o tempo passar, trocam passes para o lado até que o juiz aponte para o centro do gramado.
Na campanha de Haddad, em contrapartida, inicialmente nada parecia funcionar. A tentativa de organizar uma frente democrática foi um fiasco. O petista recebeu apoio crítico do PDT e Ciro Gomes preferiu não declarar seu voto; Fernando Henrique Cardoso e outras lideranças nacionais do PSDB também preferiram não se manifestar; Marina Silva deu seu apoio quinze dias depois do domingo do primeiro turno. Chegavam notícias de que até mesmo os dirigentes do PT não acreditavam na sorte de seu candidato e temiam uma derrota humilhante. Em mais de uma conversa com amigos chamei a atenção para a “solidão de Haddad”. A sensação era outra: a do time que está sendo derrotado por uma grande diferença e conta os segundos para que o jogo acabe.
A incapacidade de Haddad e do PT para ampliar o seu arco de alianças foi relativamente compensada por um movimento de apoio, também cultivado nas redes sociais, que contou com grandes atividades de rua na última semana antes do pleito. Foi provavelmente por causa desse movimento que o candidato do PT não sofreu a derrota que se desenhava no começo do segundo turno. A comparação dos votos dos dois turnos, incluindo os votos nulos e em branco no cálculo, mostra que Haddad acabou crescendo mais (passou de 27% para 40% dos votos totais), do que Bolsonaro (passou de 42% para 50%).
Escrevo as linhas finais desse texto poucos minutos após a confirmação de que Bolsonaro é o novo presidente do Brasil. Escuto muitos gritos, panelas batidas e fogos para celebrar a vitória. O volume se assemelha ao das manifestações contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Numa eleição de tantas novidades cabe registrar mais essa. Pelo menos no Rio de Janeiro, nunca tinha visto uma vitória eleitoral ser tão celebrada.
Ainda vou passar muitas semanas analisando os dados das eleições de 2018. Mas como não podia deixar de ser, começo observando o que ocorreu em Nova Friburgo: no primeiro turno, Bolsonaro obteve 63% dos votos válidos, Ciro Gomes, 16% e Haddad, 10%. No segundo turno, Bolsonaro obteve 73%. Já na minha zona eleitoral, no Rio, o quadro foi bem mais equilibrado no primeiro turno: Bolsonaro obteve 44% dos votos, Ciro, 30% e Haddad, 13%; no segundo turno Bolsonaro chegou aos 54%.
Olho os números e me dou conta de como Bolsonaro foi bem votado em outras áreas da cidade do Rio de Janeiro. Enquanto isso, os gritos pró-Bolsonaro e contra o PT continuam a ecoar lá fora. Realmente, estamos diante de um fenômeno eleitoral diferente de tudo que eu já tinha visto.
*JAIRO NICOLAU é cientista político e professor da UFRJ, é autor de Representantes de Quem?: Os (Des)Caminhos do seu Voto da Urna à Câmara dos Deputados









