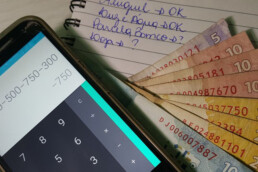PT
Roberto Freire: Um novo Brasil irá às urnas
Com o início oficial da campanha para as eleições municipais de 2016, os brasileiros se preparam para participar de um processo que apresenta características muito peculiares, algumas delas jamais experimentadas em pleitos anteriores. As disputas que elegerão prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o país serão norteadas pelas novas regras impostas pela legislação eleitoral, entre as quais a proibição do financiamento empresarial e a redução do período de campanha de 90 para apenas 45 dias.
Ao contrário do que muitos imaginam, o novo modelo de financiamento não deve causar nenhum grande temor em relação ao aumento do caixa 2 nas campanhas. Haverá, na realidade, uma fiscalização muito mais eficiente e rigorosa sobre todos os candidatos – até mesmo por parte dos adversários –, e isso se deve à sociedade brasileira, hoje muito mais atenta e atuante, e a instituições como o Ministério Público e a Polícia Federal, que vêm funcionando plenamente no combate à corrupção. A Operação Lava Jato, que desnudou o esquema criminoso montado pelos governos lulopetistas na Petrobras e segue a todo vapor, é a maior prova disso.
Apesar de o pleito ser municipal, é evidente que as eleições de outubro também serão pautadas pela questão nacional. O Brasil vive um momento único em sua história, com intensa participação de uma cidadania mobilizada nas ruas e nas redes como nunca se viu. O processo de impeachment de Dilma Rousseff e o fim do tenebroso ciclo de poder do lulopetismo que levou o país a mergulhar em sua pior recessão econômica, além dos desdobramentos da Lava Jato, serão componentes fundamentais do debate e exercerão forte influência na decisão do eleitor.
Enquanto os partidos que compõem a base de sustentação do governo interino de Michel Temer registram um crescimento no número de candidaturas em todo o Brasil, o PT amarga uma redução de mais de 35% na quantidade de candidatos em relação ao pleito de 2012. Ainda não há dados consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas estimativas preliminares apontam que o PPS disputará as eleições municipais com 619 candidatos a prefeito, 155 a vice-prefeito e 6.233 a vereador, o que deve representar uma expansão média de 30% em comparação com os números apresentados há quatro anos. O partido crescerá especialmente em São Paulo, estado no qual deve lançar 67 postulantes à Prefeitura em pequenas, médias e grandes cidades.
Entre os nomes do PPS que disputam com chances reais em importantes municípios paulistas com mais de 100 mil eleitores, estão o deputado federal Alex Manente, candidato a prefeito em São Bernardo do Campo; a vereadora Pollyana Gama, em Taubaté; o vereador Marcelo Del Bosco, em Santos; o ex-prefeito Farid Madi, no Guarujá; Fábio Sato, em Presidente Prudente; Ricardo Benassi, em Jundiaí; Myriam Alckmin, em Pindamonhangaba; Cláudio Piteri, em Osasco; Raimundo Salles, em Santo André; Darinho, em Francisco Morato; Aurélio Alegrete, em Ferraz de Vasconcelos, entre outros. Na capital, o partido integra a candidatura de João Doria, do PSDB, e oferece aos paulistanos uma forte chapa para o Legislativo que conta, por exemplo, com as candidaturas dos ex-vereadores Soninha Francine e Cláudio Fonseca, que já exerceram excelentes mandatos na Câmara Municipal em outras legislaturas.
Nas demais capitais brasileiras, o PPS se faz muito bem representado principalmente em Vitória, no Espírito Santo, pelo prefeito e candidato à reeleição Luciano Rezende (responsável por uma administração ousada, moderna e premiada por sua eficiência); em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com Athayde Nery; e em São Luís, no Maranhão, com a deputada federal Eliziane Gama, líder em todas as pesquisas de intenção de voto. O crescimento do partido em todo o país, se tornando uma força política competitiva nas próximas eleições, certamente se deve à postura altiva do PPS como oposição firme, sem ódio e sem medo ao lulopetismo, tendo sido favorável ao impeachment desde o início do processo.
O Brasil que irá às urnas no dia 2 de outubro é um país bem distinto daquele que escolheu prefeitos e vereadores há quatro anos e também do que votou nas eleições presidenciais de 2014. A participação da cidadania está hoje muito mais presente, a fiscalização é maior e os candidatos precisam estar à altura da responsabilidade que este novo momento exige. A eleição deste ano será diferente de tudo o que já vivenciamos até aqui, e não só pelas novas regras eleitorais. A campanha mudou porque, afinal, o país mudou. É hora de arregaçar as mangas e trabalhar.
Roberto Freire é deputado federal por São Paulo e presidente nacional do PPS
Fonte: pps.org.br
Cristovam Buarque: O golpe da ideologia
Do ponto de vista do marketing, faz todo o sentido a narrativa de que o impeachment da presidente Dilma seria um golpe. Com esta interpretação, o PT ganha fôlego ao jogar sobre o novo governo a responsabilidade por todos os problemas que os governos Lula-Dilma criaram nos últimos anos, ficando livre para lembrar as boas políticas que fez e tendo a bandeira da vitimização.
Tanto no caso de Dilma, quanto de Collor, o impeachment é uma violência constitucional e pode-se duvidar se os crimes identificados seriam suficientes para justificar a destituição de presidentes eleitos. No caso de Collor, o crime teria sido enriquecimento ilícito, sem crime de responsabilidade contra a Constituição; e mesmo deste crime comum, não de responsabilidade, ele foi posteriormente inocentado pelo STF.
No caso de Dilma, o uso de banco estatal para financiar programas do governo e a assinatura de decretos orçamentários sem autorização do Congresso são crimes de responsabilidade que ferem a Constituição. Mesmo assim, faz sentido duvidar se estas ilegalidades seriam suficientes para sua destituição. Incomoda a falta de dosimetria para a sentença.
Mas, o que não pode ser aceito racionalmente é a falsa narrativa de que as pessoas se dividem em direita, se querem o impeachment, e esquerda, se defendem a volta da presidente Dilma. Nada mais falso. Ser de esquerda significa: em primeiro lugar, sentir inconformismo com a realidade social, política, econômica e ética do país; em segundo, ter expectativa de que é possível um mundo melhor, alguma forma de utopia; e terceiro, que este mundo melhor não ocorrerá naturalmente, por regras de mercado. Ele só será construído pela prática política progressista ou revolucionária.
É certo que muitos dos que defendem o impeachment são notórios conservadores, saídos do próprio bloco de apoio à presidente Dilma. Mas aqueles que se opõem ao impeachment são em geral acomodados politicamente em relação ao presente, comemoram pequenas conquistas sociais, perderam a capacidade de sonhar uma sociedade “utópica”, como, por exemplo, “os filhos dos pobres estudarem em escolas tão boas quanto às dos ricos”, e abriram mão do vigor transformador da sociedade. Além disso, ficaram coniventes com a ideia de que “se todos roubam, não há porque exigir honestidade dos aliados”. Ainda mais, olham pelo espelho retrovisor da história, sem perceberem que a realidade mudou e que as propostas e os processos políticos precisam levar em conta as mudanças.
A “esquerda do retrovisor” não percebe, por exemplo, que o aumento na esperança de vida e o esgotamento fiscal do Estado exigem reformas nos fundamentos do sistema previdenciário; que a globalização apresenta limites à autonomia das decisões nacionais; que a revolução científica e tecnológica, junto com a informática e a robótica, exige um aperfeiçoamento das leis trabalhistas. Não percebe que a economia tem limites fiscais e ecológicos; que o estatismo muitas vezes se divorcia do interesse público, do povo; que a democracia com liberdades plenas deve ser um compromisso absoluto, inegociável, e que a política de esquerda não pode ser feita com a arrogância de donos da verdade, nem pode tolerar corrupção, ou aceitar que os fins justificam os meios.
Com um mínimo de seriedade não é possível dividir as posições sobre este impasse como um debate entre esquerda e direita: há muitos “direitas” entre os que defendem o impeachment, mas também muitos “esquerdas do retrovisor” entre aqueles que se opõem ao impeachment, porque não querem fazer a história avançar. Mas, sobretudo há muitos de esquerda, que olham para frente, pelo para-brisa, que consideram necessário o impeachment para virar a página e avançar em direção a um novo tempo.
Não é difícil entender que a volta da presidente Dilma seria um gesto de retrovisor e não de avanço; e que sua substituição pelo vice conservador que ela escolheu, desde que seguindo os ritos constitucionais, possa possibilitar uma travessia para que a “esquerda do para-brisa” entenda as mudanças, se sintonize com o futuro e leve adiante a luta que os acomodados não fizeram, nem farão. E que tentam impedir o impeachment com o golpe da ideologia, sabendo das dificuldades políticas, econômicas, sociais, éticas que este acomodamento conservador da “esquerda retrovisor” provocaria. (Correio Braziliense – 16/08/2016)
Fonte: pps.org.br
Luiz Werneck Vianna*: Retomar o moderno, retomar a modernização
Não sairemos desta barafunda infernal com os apertados nós que nos atam ao passado
O denso nevoeiro que até há pouco tempo embaçava a linha do horizonte e nos interditava prever o dia de amanhã começa a desanuviar. Passada a borrasca já se podem contar os perdidos e os salvados, mesmo que os mais estropiados dentre esses não devam esperar uma sobrevida sem sobressaltos. A Olimpíada está conosco e espanta os maus presságios com a festa de confraternização entre povos, que traz consigo o espírito de concórdia de que tanto estamos precisados.
O processo eleitoral se anuncia – esse santo remédio de eficácia comprovada em nossas crises políticas –, e com ele o retorno da política, da discussão sobre que rumos devem ser empreendidos na administração de nossas cidades, que valores e princípios queremos para nortear nossa vida em comum, hora da persuasão de eleitores e de alianças entre os afins. E, quando couber, até entre contrários, do que a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados consistiu num auspicioso primeiro sinal.
Velhos timoneiros de volta a seus postos de comando entoam o velho lema de que navegar é preciso e, lentamente, ainda com destino incerto, tateia-se em busca de uma saída desta barafunda infernal em que fomos envolvidos. Não sairemos dela, contudo, enquanto estivermos prisioneiros dos apertados nós que nos atam ao passado.
O mundo mudou e nós mudamos com ele, e não há caminho fácil pela frente neste século 21 que resiste em começar, como neste episódio regressivo do Brexit, com a maré montante da direita e a ressurgência dos temas da xenofobia, do nacionalismo autárquico e a candidatura presidencial de Donald Trump nos EUA no surrado estilo populista de um Mussolini, inventário de horrores que nos vem do que houve de pior no século passado.
Para o começo do alívio desses nós torna-se necessário reafirmar a velha lição de que somos parte do Ocidente, um outro Ocidente, na caracterização de José Guilherme Merquior em belo ensaio esquecido (Revista Presença, n.º 15, 1988), e de que não devemos cultivar ressentimentos em razão do nosso atraso porque seríamos, de fato, “uma modificação e uma modulação original e vasta da cultura ocidental”. Uma das marcas da nossa originalidade residiria no fato de não termos compartilhado com os europeus o etos da antimodernidade quando a História moderna foi vista como um pesadelo por muitos dos seus intelectuais. Ao contrário, segundo Merquior, o modernismo brasileiro foi percebido em chave otimista, longe da Kulturpessimismus europeia, como um “modernismo da modernização”, tal como presente em Mario de Andrade e confirmada com a ascensão de Juscelino Kubitschek – da prefeitura de Belo Horizonte com a obra da Pampulha à Presidência da República com a criação de Brasília –, quando as agendas do moderno e da modernização caminharam juntas.
O golpe militar interrompeu esse processo benfazejo. Com o novo regime a modernização apartou-se do moderno, que passou a ser reprimido com a intensificação da tutela estatal sobre os sindicatos, com o abafamento das tendências que se vinham acumulando em favor da auto-organização da vida social e com as severas limitações impostas à criação cultural e artística no País, cujos altos preços ainda pagamos. A democratização do País, consolidada com a Carta de 88, concedeu alento ao moderno, mas, a essa altura sem o embalo dos trilhos que antes percorria, ele não teria como se reencontrar com a modernização em razão da pesada herança de desacertos econômicos deixada pelo regime militar.
Sanear a economia foi obra do Plano Real e caberia ao governo do PT levar à frente a agenda do moderno presente nas suas lutas de fundação, respaldadas por importantes intelectuais críticos da modernização autoritária com que se tinha imposto o capitalismo no País, como, entre tantos, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro e Florestan Fernandes. Partido com origem na moderna sociedade civil brasileira, ao se tornar governo, de modo surpreendente e sem apresentar suas razões, o PT logo se converteu em partido de Estado.
Essa conversão coincidiu com a adoção da obra do marxista italiano Antonio Gramsci – desde os anos 1960, influente em círculos da esquerda – como referência por alguns dos seus quadros dirigentes, embora numa versão antípoda das suas concepções originais, ironicamente caracterizada pelo sociólogo Francisco de Oliveira como hegemonia às avessas. Ao invés de os partidos e movimentos sociais dos seres subalternos buscarem a conquista da hegemonia na sociedade civil em nome de suas concepções políticas e ético-morais, credenciando-se assim ao exercício de papéis dirigentes, pela prática levada a efeito pelas lideranças do PT caberia ao Estado (às avessas) instituí-la por cima.
Nessa reviravolta, mais do que abdicar da agenda do moderno, que pressupõe a autonomia dos seres sociais e de suas organizações, o PT alinhou-se sem alarde à tradição da modernização pelo alto que nos vinha da era Vargas, reanimada pelo ciclo do regime militar, em especial sob o governo Geisel, com as escoras do tipo de presidencialismo de coalizão bastarda que praticava e de suas políticas de cooptação dos movimentos sociais.
Sob a presidência de Dilma Rousseff, menos por sua imperícia nas coisas da política, mais pela exaustão da modelagem herdada do seu antecessor, tanto a agenda do moderno se rebelou contra ela – como se constatou nas manifestações massivas de junho de 2013 em favor da autonomia do social – como se lhe escapou das mãos a da modernização com a economia do País parando de crescer.
Estamos não num fim de caminho, mas no da sua retomada. Se o direito ao moderno não pode mais ser arrebatado da animosa sociedade brasileira de hoje, temos também um compromisso inarredável com a modernização que faz parte do nosso DNA.
*Luiz Werneck Vianna: *SOCIÓLOGO, PUC-RIO
Fonte: estadao.com.br
Brasilio Sallum Jr.*: Collor e Dilma – abuso de poder e voluntarismo
Confirmando-se em agosto o impedimento de Dilma Rousseff, o Brasil terá experimentado dois impeachments em 28 anos da democracia. O número é elevado: dois em sete períodos de governo.
Mas não há que ver nisso sinal de fragilidade do regime de 1988. Ao contrário, nos dois casos o Congresso interrompeu o mandato de presidentes que abusaram do poder que lhes foi concedido pelas urnas. No caso de Fernando Collor de Mello o estopim foi a acusação de corrupção, de ter recebido recursos das operações suspeitas de PC Farias, tesoureiro de sua campanha. Este teria usado seu vínculo com o presidente para tomar dinheiro de empresas que dependiam de decisões do governo. No caso de Dilma Rousseff, as “pedaladas” de que é acusada constituíram abuso do poder que o Executivo tem sobre os bancos públicos, obrigando-os a conceder à União empréstimos disfarçados para gastar mais do podia. Assim, de uma ou de outra forma, os dois abusaram do poder, cometendo crime de responsabilidade. A frequência do impeachment é, pois, sinal de força da democracia brasileira. Ela tem sabido reagir aos chefes de Estado que ultrapassam os limites da autoridade recebida pela eleição.
O impeachment de Fernando Collor e o que atingirá Dilma Rousseff não decorreram, porém, apenas dos abusos mencionados. As crises que atingiram seus governos, embora bem diversas, resultaram em parte do seu extremovoluntarismo. O abuso de poder foi apenas uma das manifestações desse voluntarismo, normalmente obediente à ordem legal. Claro que os voluntarismos dos dois tiveram orientações políticas muito diversas: Collor orientou-se pela crença no valor do mercado e Dilma, pela crença nas virtudes da intervenção estatal.
O voluntarismo de Collor expressou-se, por exemplo, na edição de mais de uma centena de medidas provisórias no seu primeiro ano de governo e na tentativa, posterior, de forçar reformas liberalizantes que exigiam mudanças na Constituição e, portanto, grande maioria parlamentar, quando mal conseguia maioria simples no Congresso. Assim, o presidente buscou, com sucesso variável, impor sua vontade graças ao uso intenso dos poderes do Executivo, mas desconhecendo ou menosprezando os interesses políticos sediados nos partidos e no Congresso. Atuava como se os votos recebidos na eleição de 1989 lhe tivessem dado superior legitimidade em relação aos demais Poderes de Estado. Isso até o início de 1992, quando foi obrigado a recuar e tomar em conta a força e a legitimidade dos demais Poderes. Mas não o fez na medida necessária para retomar o controle da situação.
O voluntarismo de Dilma está mais à flor da nossa memória. Todos se lembram da dádiva maravilhosa de 20% na conta da luz, anunciada em setembro de 2012 juntamente com a renovação antecipada de todas as concessões no setor elétrico. A vontade presidencial foi feita, a despeito dos protestos das empresas do segmento de eletricidade e da desorganização do setor, mas teve de ser paga depois pelo consumidor, cujos gastos em 2015 aumentaram em cerca de 50% para compensar a benesse antes recebida. Caso similar foi a contenção dos preços dos combustíveis abaixo do nível internacional desde 2007 e, especialmente, a partir do início de 2011. Em nome do controle da inflação, esse voluntarismo presidencial trouxe prejuízos elevadíssimos à Petrobrás (US$ 50 bilhões até o final de 2014) e ao setor produtor de álcool combustível. Esses e outros casos de imposição da vontade se expressaram em formas de intervenção estatal que fizeram pouco da lógica própria dos mercados, incluídos aqueles em que empresas estatais tinham e têm parte relevante.
Contudo talvez tenham sido as decisões políticas que Dilma Rousseff tomou depois da vitória eleitoral de 2014 que mais corroeram sua capacidade de governar. A mais relevante foi a decisão de adotar o “ajuste fiscal” como diretriz da política econômica do novo governo e convidar um banqueiro para conduzi-la, desdizendo tudo o que afirmara na campanha eleitoral. Além de contrariar o seu partido, que vivia na ilusão de que gasto é sempre igual a desenvolvimento, transformou a tristeza da derrota oposicionista em revolta contra o estelionato eleitoral sofrido. A mentira indiretamente revelada e reconhecida reduziu, antes mesmo da posse, a legitimidade não da democracia, mas da presidente recém-eleita.
Na sequência, ela escolheu uma equipe ministerial que a afastou mais ainda da corrente majoritária do PT. E decidiu disputar, com candidato do PT, o comando da Câmara dos Deputados (para o qual se vinha preparando o deputado Eduardo Cunha), corroendo a já precária aliança com o PMDB, que lhe dera o vice, votos e um bom naco de tempo no rádio e na televisão. A derrota fragorosa nessa disputa evidencia, mais que tudo, o voluntarismo político da presidente. Ela se inclinou quase sempre a tomar pouco em conta os interesses de partidos e lideranças com os quais interagia, como se eles tivessem de curvar-se à vontade presidencial por terem menos legitimidade. É verdade que o sistema presidencial brasileiro dá ao chefe de Estado um poder muito grande. Mas o impeachment de Collor demonstrou que para governar o presidente precisa manter liderança sobre uma coalizão partidária majoritária. Se não consegue fazê-lo, perde condições de bem exercer o cargo.
Seguramente abuso de poder e voluntarismo presidenciais não explicam, por si sós, a crise política atual. Mas sublinham que a democracia não exige apenas eleições; demanda também responsabilidade no exercício do poder, tanto pelo respeito aos limites da lei como por levar em consideração os interesses legítimos dos demais atores. Infelizmente, Collor e Dilma, não se mostraram capazes disso.
* BRASILIO SALLUM JR. É PROFESSOR DE SOCIOLOGIA DA USP, AUTOR DE ‘O IMPEACHMENT DE FERNANDO COLLOR – SOCIOLOGIA DE UMA CRISE’
Fonte: Estadão
Alberto Aggio*: O pós-PT e o retorno da política
A conjuntura política do País segue normalmente seu curso, sem contramarchas, desde a admissão do processo de impeachment pelo Congresso, o afastamento de Dilma Rousseff e a assunção de Michel Temer ao comando interino do governo da República. Malgrado temores de uns e desejos de outros, não há recuo no sentido que se impôs ao processo. Apesar das críticas e das indefinições iniciais do governo interino, das ocupações de prédios públicos e das manifestações de rua, nenhum abalo expressivo foi produzido. Aguardam-se para agosto os lances finais do processo de impeachment e poucos são os que creem na volta da presidente afastada. Crescem a aprovação do governo interino e a esperança na recuperação econômica, enquanto é visível o isolamento político de Dilma e do PT.
As avaliações do cenário político feitas pelos intelectuais petistas, salvo raras exceções, reiteram ad nauseam o paradigma do “golpe de novo tipo” (Opinião, 8/6). Algumas delas, sem nenhuma razoabilidade, beiram a alucinação. A favor do novo governo também houve manifestações destoantes de impaciência, desconsiderando as condicionantes da governabilidade nesta fase de interinidade.
Mesmo premido por uma herança dramática, Temer tomou iniciativas administrativas importantes. As medidas econômicas de restrição de gastos, de difícil implementação, ainda dependem de aprovação do Congresso. Elas compõem um ajuste fiscal de perfil estrutural, necessário e realista para recolocar o País nos eixos. Dilma tem argumentado que tais medidas não foram aprovadas pelas urnas e jamais seriam caso fossem apresentadas. Trata-se de uma crítica vazia e sem sustentação, uma vez que Dilma abandonou seu discurso eleitoral para adotar um ajuste fiscal mitigado, que não se concretizou por tibieza sua e por oposição do seu próprio partido. Traindo a si mesma e ao País, Dilma cometeu um “estelionato eleitoral” que lhe custou a confiança da sociedade. Agora, o País precisa enfrentar a crise sem tergiversações.
As mudanças mais significativas verificaram-se, contudo, no âmbito político. A renúncia de Eduardo Cunha e a eleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados são sinais de um “retorno da política” e apontam para uma valorização da representação, para a superação das crispações decorrentes da clivagem “nós versus eles” e para mais autonomia, articulação política e eficiência do Parlamento.
A renúncia de Cunha e suas derrotas subsequentes nas Comissões de Ética e de Constituição e Justiça da Câmara jogam por terra mais uma falácia petista. Afirmava-se que o afastamento de Dilma levaria a um governo Temer/Cunha e aprovar o impeachment era colocar Cunha na Presidência da República, razão por que o ex-presidente da Câmara havia posto em pauta o processo de impeachment, “vingando-se” de Dilma. Mas essa fábula se foi e Cunha, neste mesmo agosto, poderá perder o mandato de deputado.
Os primeiros lances do “retorno da política” exigiram que o PT negociasse seus votos na eleição para presidência da Câmara, mesmo com a condenação de alguns de seus intelectuais e parlamentares, evidenciando mais uma vez sua crise de orientação. O PT ainda não é capaz de admitir que sua decaída, cristalina pelo fracasso de Dilma e pela montanha de casos de corrupção, é a base da imagem negativa que o partido criou para si mesmo, uma consequência que não pode ser enfrentada com escapismos do tipo “o PT é atacado por suas virtudes, e não por seus erros”.
É uma situação dramática para um partido que, longe de ser revolucionário, promoveu um reformismo débil e instrumental com o objetivo de se perpetuar no poder. O PT fracassou porque não conseguiu combinar reformismo social e democracia política de maneira progressista, o que lhe bloqueou a possibilidade de se tornar uma esquerda simultaneamente “transformadora” e “de governo”. A consequência foi a perda da vocação majoritária e a regressão a um discurso de “resistência” a tudo: ao suposto “golpe”, ao governo Temer, ao imperialismo e ao capitalismo.
Somado ao pragmatismo de sempre, o PT vive hoje envolto pela sedução de um regresso a posições remotas da esquerda do século 20, em companhia desajeitada daqueles que creem num “movimentismo” permanente.
No mundo político fora do PT, os resultados da débâcle petista são diferenciados. Um deles foi o ressurgimento de um anticomunismo anacrônico e obtuso, idêntico ao seu objeto de rechaço. O outro foi abrir espaço para o liberalismo voltar a ocupar o centro da cena e, renovado, apostar suas fichas num programa para sair da crise e retomar o crescimento. Na bússola do liberalismo constam a contração do Estado e o estímulo à economia privada, que parecem convencer o conjunto da sociedade.
Embora divididos, os liberais passaram a ser tratados como o núcleo de articulação de uma nova proposta hegemônica. Em nossa História contemporânea, a aliança entre esquerda e liberais operou em defesa das liberdades: foi assim no Estado Novo e na luta contra o regime militar. Não há razão para que ela não seja perenizada e ganhe novos patamares, novos direitos.
Luiz Sérgio Henriques publicou neste espaço artigo sobre a crise do PT e a possibilidade de uma “outra esquerda”, democrática e reformista, fundada nos valores da Constituição de 1988 e no Estado Democrático de Direito. Certamente, ela deverá também buscar uma maneira justa e progressista de combinar reformismo social e democracia política. Assim, além de perenizar a aliança com o liberalismo em defesa das liberdades, na quadra que atravessamos será preciso avaliar os termos de uma nova concertação que possa empreender uma reforma histórica do Estado brasileiro, rompendo privilégios e corporativismos, sem eliminar sua presença reguladora, solidária e em defesa da cidadania. Seria um grande desafio e um belo destino.
*Alberto Aggio é historiador, é professor titular da Unesp
Publicado no Estadão em 31/07/2016
Pobreza extrema no País só deixou de existir na propaganda do PT, mostra estudo da FGV
O fim da fome e da miséria extrema no Brasil só acabou na propaganda do PT, mostra levantamento do Centro de Estudos de Política Sociais da FGV (Fundação Getúlio Vargas) divulgado na edição semanal da revista Veja.
Coordenados por Marcelo Neri, os novos estudos “indicam que os miseráveis – aqueles que não deveriam mais existir em 2016 – estão, na verdade, prestes a aumentar”, ao contrário da pregação mediática do governo petista de que o País erradicaria a extrema pobreza neste ano.
Os dados que mostram o “fenômeno”, segundo o levantamento, são a “queda inédita e simultânea de dois índices importantes no último trimestre de 2015: o da renda da população e o da ‘taxa de equidade’, que mede quanto o país está mais igual – e, portanto, menos desigual.”
Outro estudo da FGV, de acordo com Veja, aponta ainda que até “o fim de 2016, a renda per capita dos brasileiros deve recuar quase 10% em relação a 2014”.
Herança Maldita: Mais de 50% da população na faixa dos 30 anos estão inadimplentes
Brasileiros na faixa dos 30 anos são os que mais atrasam contas, diz SPC.
50,19% da população nesta faixa etária terminou o semestre no vermelho.
Total de pessoas com contas em atraso aumentou 3,21% em junho.
Mais da metade dos brasileiros com idade entre 30 e 39 anos tem contas em atraso, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (11) pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
De acordo com a pesquisa, 50,19% da população nesta faixa etária terminou o último semestre com o nome inscrito em alguma lista de devedores, totalizando aproximadamente 17,0 milhões de inadimplentes em número absoluto.
“Geralmente, nessa idade as pessoas já são chefes de família e têm um número maior de compromissos a pagar, como aluguel, água, luz, entre outras despesas domésticas. Todos esses fatores aliados à falta de planejamento orçamentário e os efeitos da crise econômica, impactam negativamente na capacidade de pagamento”, explicou em nota a economista-chefe do SPC Brasil Marcela Kawauti.
A proporção de inadimplência entre as pessoas com idade de 25 a 29 anos também chama atenção. Segundo a pesquisa, 48,58% das pessoas dessa faixa etária está negativada, o que representa 8,3 milhões de consumidores.
Entre os mais jovens, com idade de 18 a 24 anos, a proporção cai para 22,14% – em número absoluto, são 5,29 milhões de inadimplentes. Na população idosa, considerando-se a faixa etária entre 65 a 84 anos, a proporção é de 28,89%, o que representa, em termos absolutos, 4,39 milhões de pessoas que não conseguem honrar seus compromissos financeiros.
Aumento da inadimplência
O número de pessoas com contas em atraso aumentou 3,21% em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo o SPC Brasil e a CNDL. Já na comparação com maio, o número de inadimplentes caiu 0,77%.
Em números absolutos, o SPC Brasil estima que aproximadamente 59,1 milhões de pessoas físicas terminaram o primeiro semestre de 2016 inscritas em cadastros de devedores – o que representa 39,76% da população com idade entre 18 e 95 anos. Em maio, esse número era um pouco maior, estimado em 59,25 milhões.
Alta menor
O aumento no número de devedores na comparação anual foi o menor em seis anos, desde o início da pesquisa. Mas, para o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, a desaceleração do indicador não pode ser interpretado como um sinal de que os consumidores com contas em atraso estão quitando suas dívidas, mas como um reflexo do crédito mais restrito.
“Os juros elevados, a inflação corroendo o poder de compra e a perda de dinamismo do mercado de trabalho tornam os bancos e os estabelecimentos comerciais mais rigorosos e criteriosos na política de concessão de financiamentos e empréstimos, o que implica em uma menor oferta de crédito na praça. Por sua vez, essa menor oferta de crédito funciona como um limitador do crescimento da inadimplência”, explicou o presidente em nota.
Murillo de Aragão¹: País mistura avanços na agenda econômica e incertezas na política
Nos arraiais do governo existe a certeza de que a semana passada foi a melhor de todas as da curta gestão do presidente em exercício Michel Temer. A lista de realizações não é pequena.
Um acordo que se arrastava havia anos finalmente foi fechado com os Estados, depois de incluído em uma proposta de emenda constitucional um teto de gastos que começou a ser discutido no Congresso. O acordo já está contemplado na meta fiscal aprovada anteriormente.
A Câmara aprovou medida provisória que abre ao capital estrangeiro o controle de empresas aéreas. Como parte dessa nova política, o governo enviou ao Congresso um tratado de céus abertos com os Estados Unidos que mofava na antiga Casa Civil.
O Senado aprovou regra rigorosa para a indicação de dirigentes de empresas estatais, e foi agendada para agosto a primeira privatização da era Temer – a da distribuidora goiana de energia Celg.
O Ministério da Indústria e Comércio anunciou que pedirá ingresso nas negociações do Acordo Internacional de Comércio de Serviços (Tisa, na sigla em inglês), que envolve 23 países, entre eles Estados Unidos, México e Canadá, além dos integrantes da União Europeia. A medida representa um extraordinário avanço para a abertura econômica do Brasil.
Às realizações nos campos econômico e fiscal somam-se avanços no campo internacional. Temer foi convidado pelo primeiro-ministro da Índia para a reunião do Brics em outubro, um reconhecimento explícito de sua legitimidade como presidente da República.
No campo midiático, uma série de entrevistas dadas por Temer repercutiu positivamente e contribuiu para consolidar sua imagem.
Na quinta-feira, 23, em um gesto inédito na diplomacia brasileira, Temer recebeu mais de 50 embaixadores de países predominantemente muçulmanos com um jantar no Palácio do Jaburu para comemorar o encerramento do ramadã.
No evento, o embaixador da Palestina, decano dos embaixadores de países árabes em Brasília, destacou a solidez das instituições brasileiras e a condução do processo político. A presença de expressivo número de diplomatas no jantar foi mais uma chancela internacional ao governo Temer.
Na área do combate à corrupção, a operação Custo Brasil atingiu em cheio o PT, envolvido em mais um escândalo que, desta vez, alcançou uma das mais importantes defensoras da presidente afastada Dilma Rousseff no Senado, Gleisi Hoffmann, mulher do ex-ministro Paulo Bernardo, preso na quinta-feira.
Como nem tudo é perfeito, o PMDB continua pressionado por novas delações que virão a público em breve, o que indica que o Brasil continuará respirando um clima paradoxal, ao misturar avanços na agenda econômica e incertezas no campo político.
Uma coisa é certa: as instituições estão funcionando, e o novo governo não está paralisado pela crise política. Ganha terreno nos campos fiscal e econômico, o que até há bem pouco tempo parecia tarefa impossível.
No momento em que escrevo, o governo começava a definir a nova meta fiscal de 2017, o que se concluirá até o fim desta semana. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), encaminhado em abril pela presidente afastada Dilma Rousseff, fixava em zero o esforço fiscal do governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) para o próximo ano. Mas previa que a equipe econômica pudesse abater o equivalente a R$ 65 bilhões, ou 0,96% do PIB, desse resultado por frustração de receitas (R$ 42 bilhões) e preservação de gastos essenciais (R$ 23 bilhões). Agora, estima-se que o déficit possa chegar a R$ 140 bilhões.
¹Murillo de Aragão: Advogado, mestre em Ciência Política e Doutor em Sociologia pela UnB. Autor de dezenas de artigos e estudos políticos, entre eles o livro “Reforma Política: o Debate Inadiável”. Escreve nos jornais O Estado de S. Paulo, O Globo e Correio Braziliense. Membro do CDES, da Presidência da República.
Fonte: Blog da Política Brasileira
Cristovam Buarque: Esqueceram do Brasil
Nesta semana, ouvi um professor chileno dizer: “Tenho pena do Brasil”. Esta frase me incomodou mais do que as matérias sobre as tragédias brasileiras destes tempos sombrios. Ainda mais quando imaginei a pergunta que ele não fez: “Como vocês deixaram o Brasil chegar a esta situação?” Como senador, senti constrangimento por esta pergunta não feita, e pela resposta que daria: “Há décadas, os políticos não colocam o Brasil como o personagem central de suas decisões”. O Brasil tem sido preocupação de sociólogos, literatos, jornalistas, economistas, mas não dos políticos. A Lava-Jato está mostrando que alguns usam a política para o enriquecimento pessoal; outros, para financiar campanhas e continuarem com seus mandatos; os melhores fazem política servindo a desejos imediatos de grupos específicos dos eleitores que os apoiam; as leis são feitas para beneficiar trabalhadores, empresários, aposentados, servidores públicos, consumidores, mas raramente ao Brasil como um todo, no longo prazo.
Há parlamentares dos professores, não da educação; dos aposentados, não da aposentadoria; dos universitários, não da ciência e tecnologia; da assistência social, não da emancipação do povo; do apoio à indústria, não ao desenvolvimento industrial; dos médicos, não da saúde. Ao longo da história, querendo atender cada grupo no imediato, sem considerar o Brasil no longo prazo, relegamos a opção por prioridades: o resultado tem sido o aumento nos gastos públicos acima da disponibilidade de recursos e, em consequência, o endividamento e a inflação. A ausência do Brasil nas decisões políticas provoca um esquecimento da perspectiva de nação ao longo das décadas e séculos no futuro. Para beneficiar cada grupo, sacrificamos todos e o país. O debate sobre o impeachment é um exemplo de que “esqueceram o Brasil”. Com opção já tomada, defende- se a cassação ou a continuidade do mandato da presidente, sem aprofundar o debate sobre o que será melhor para o Brasil.
A disputa se dá entre os que desejam a continuidade do governo do PT, depois de 13 anos, mesmo sabendo dos riscos de a volta da irresponsabilidade fiscal desestruturar ainda mais as finanças públicas e de o corporativismo vir a desarticular ainda mais o tecido social e o futuro do Brasil; os outros não querem a continuidade do governo de Dilma, sem refletir sobre as consequências da interrupção do mandato do segundo presidente entre os quatro eleitos. Não há consideração sobre qual destas duas alternativas será capaz de consolidar nossa democracia, assegurar estabilidade fiscal e monetária, induzir o país na direção de uma economia produtiva, uma sociedade justa, um setor cientifico e tecnológico sólido, cidades eficientes, educação de qualidade igual para todos; não há consideração sobre qual será capaz de conduzir as reformas de que o Brasil necessita. Esqueceram do Brasil, esta é a causa de o Brasil dar pena em quem observa sua tragédia atual. (O Globo – 25/06/2016)
Cristovam Buarque é senador (PPS-DF)
Alberto Aggio: O paradigma do ‘golpe de novo tipo’
Em abril de 1964, após o golpe de Estado, o presidente João Goulart exilou-se no Uruguai e só retornou ao Brasil para ser enterrado, em São Borja, em 1976. Depois de sua exumação, foi sepultado, passados 37 anos, com honras de chefe de Estado. Em setembro de 1973, Salvador Allende foi retirado morto do Palacio de la Moneda, após intenso bombardeio. A circunstância dramática levou Allende ao martírio em nome da causa que defendia. Hoje ele é o único presidente do Chile a ter um memorial vizinho ao palácio presidencial, no centro de Santiago.
Era uma época de golpes de Estado na América Latina, com o seu cortejo de violência e terror. O de 1964, no Brasil, e o de 1973, no Chile, são considerados paradigmáticos. Não se resumiram numa quartelada e, mesmo diferentes entre si, solaparam a democracia então existente para, em seguida, instalarem regimes autoritários de longa duração.
O que ocorre no Brasil com o processo de afastamento ainda em curso da presidente Dilma Rousseff não encontra parâmetro comparativo nem com o que ocorreu com Goulart e menos ainda com o que se passou com Allende. Com a aprovação no Senado do procedimento constitucional de investigação e julgamento dos crimes de responsabilidade de que é acusada, a presidente foi notificada e deixou o Palácio do Planalto, com toda segurança. Ato contínuo, discursou para uma plateia de apoiadores que não foi molestada de nenhuma maneira. Depois se dirigiu ao Palácio da Alvorada, sua residência oficial, e tem garantidas suas prerrogativas de presidente da República. Tais circunstâncias, além de evidenciarem uma distância de anos-luz em relação ao destino imposto aos dois ex-presidentes mencionados, mostram que a presidente afastada continua agindo politicamente, sem constrangimentos e com muita desenvoltura.
O parâmetro comparativo entre as situações é evidente por si mesmo e contribui para que o processo de impeachment não deva ser qualificado como golpe de Estado. Os acontecimentos que marcaram o final dos governos de Goulart e Allende são tipicamente os de um golpe de Estado, enquanto os eventos a que assistimos no processo contra Dilma Rousseff nada mais são do que uma série de episódios e decisões afeitas ao funcionamento da democracia e de suas instituições, com seus ritos e seu ritmo, todos sancionados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Nessas circunstâncias, caso se consume o impeachment de Dilma, por óbvio, não se instalará nenhum novo regime político, como ocorreu nos dois casos paradigmáticos mencionados. A democracia segue seu curso, sem ter arranhada sua legitimidade.
No entanto, a presidente afastada, o PT e seus aliados insistem em qualificar de golpe o processo político em curso, inflacionando, com essa insistência, as redes sociais e os meios de comunicação em geral. Além de contrafatual e da clara intenção vitimista, o que esses atores objetivam é a difusão de uma “nova epistemologia do golpe”, diversa dos casos paradigmáticos e de quaisquer outros.
Como hoje vivemos outro tempo histórico, diverso da guerra fria, cuja centralidade repousava na luta entre capitalismo e comunismo, e como as democracias na América Latina, mesmo com seus problemas, contam com uma história razoável de implantação, obtendo com isso uma adesão generalizada, até mesmo dos movimentos e partidos de esquerda, os apoiadores de Dilma e do PT percebem que o argumento do golpe, vocalizado nos velhos termos, não se sustenta pela simples evidência dos fatos, ou, mais precisamente, pela ausência destes.
Isolado e fragilizado, o petismo manteve o discurso do golpe, mas buscou encontrar uma justificativa teórica plausível para sustentá-lo, visando a dar a ele um caráter próprio ao novo tempo, próprio às democracias. De acordo com o petismo, posto em andamento, esse golpe “fere a democracia”, mas não a elimina. Segundo essa nova teorização, as condições jurídico-políticas das democracias hoje existentes permitiriam que as classes dominantes, apoiadas na mídia monopolista e nas classes médias reacionárias, urdissem um golpe de Estado não mais com tanques e soldados, mas por meio de ações comunicacionais, jurídicas e parlamentares. Todos esses elementos fariam parte de um mesmo dispositivo: um “golpe de novo tipo”.
Assim, de acordo com essa teorização, não estaríamos diante de um golpe violento, de tipo convencional, e tampouco de um “golpe parlamentar”. O “golpe de novo tipo” tem seu fundamento num raciocínio de natureza sofística que parte do pressuposto de que nenhuma Constituição possui mecanismos de autodefesa contra quem a use contra ela mesma. Ora, a supremacia formal que tem a Constituição além de suas cláusulas pétreas compõe sua autodefesa, juntamente com o papel ativo dos cidadãos, e não de uma normativa específica. O pressuposto não tem base jurídica, mas é extremamente perigoso para o ordenamento democrático.
O PT, na sua avaliação de conjuntura, após o afastamento de Dilma, lamentou não ter seguido o caminho venezuelano, que impôs desde o início uma Constituição com os devidos “mecanismos de defesa”, o que tem permitido ao atual presidente, Nicolás Maduro, se manter no poder e bloquear qualquer saída para a dramática crise que vive nosso vizinho. O PT lamentou ter confiado na ordem democrática fundada na Carta de 1988, uma Constituição “indefesa” que permitiu que o partido fosse “golpeado” por aqueles que levaram o impeachment em frente.
A tese do “golpe de novo tipo” visa a advertir a esquerda de que, mesmo aderindo à democracia, não estará imune ao golpe, uma vez que a democracia não tem condições de se proteger dos “golpistas”. A tese é reiterativa e deriva dos pergaminhos que ditam que o objetivo da esquerda é instalar um regime (também) de “novo tipo”, que dê cabo da democracia vigente. Mas deste, como nos recordamos, os presságios sempre foram assustadores.
Alberto Aggio é historiador e professor titular da Unesp
Fonte: Estadão
Outra esquerda é possível no Brasil: a esquerda democrática
O PT tenta passar a narrativa de que toda a esquerda brasileira está com ele e que Dilma Rousseff foi vítima de uma conspiração de direita. Essa é mais uma mistificação do petismo. A seguir, um breve histórico do distanciamento dos partidos da esquerda democrática dos governos Lula e Dilma, a partir de 2003.
O Partido Democrático Trabalhista
O primeiro partido da esquerda a romper com Lula, eleito em 2002, foi o PDT, ainda em 2003. Seu então presidente, Leonel Brizola, avaliou como conservadora a política econômica do novo governo, denunciou o PT como conivente com a corrupção e acusou-o de autoritarismo ao excluir os aliados das decisões governamentais.
Em 2006, o PDT lançou o senador Cristovam Buarque à Presidência da República. Ele havia sido demitido do Ministério da Educação, pelo presidente Lula, em 2005, por telefone, enquanto cumpria agenda internacional. Deixou o PT e filiou-se ao PDT.
Com a morte de Brizola, em 2007, o partido voltou ao governo. Porém, Cristovam se manteve em posição de independência. Uma de suas críticas foi a transformação do Bolsa-Escola, implantado por ele no Distrito Federal, no Bolsa-Família, de um programa de inclusão social pela educação para um programa assistencialista e de uso eleitoral. Em 2016, Cristovam deixou o PDT e se filiou ao PPS.
O Partido Socialismo e Liberdade
Também em 2003, ao alegar os mesmos motivos do PDT, uma ala de dirigentes e militantes deixou o PT e fundou o Psol, que lançou, em 2006, a senadora Heloísa Helena a presidente da República. Mas o Psol se aproximou da extrema-esquerda e de teses anacrônicas da velha esquerda autoritária, muitas das quais compartilhadas pelo PT. Diante da estreiteza do partido, Heloísa Helena deixou o Psol e participou da fundação da Rede Sustentabilidade, em 2013, ao lado da ex-senadora Marina Silva.
O Partido Popular Socialista
Ainda em 2004, o PPS deixou o governo Lula e passou para a oposição. O partido apontou a falta de um projeto de reorientação do modelo econômico e de reformas estruturais que levassem o país a um crescimento sustentado.
Criticou a falta de discussão das políticas de governo, rejeitou a relação autoritária com o Congresso e o fortalecimento dos partidos governistas fisiológicos, em detrimento dos programáticos. Um ano depois que o PPS se afastou do governo, estourou o escândalo do mensalão, com o envolvimento do PT, PTB, PP e PR.
O presidente do PPS, deputado Roberto Freire, defendeu, então, uma esquerda radicalmente democrática e republicana, além de comprometida com o desenvolvimento e a distribuição de renda.
O Partido Verde e a Rede Sustentabilidade
Em 2008, Marina deixou o governo Lula. A sua principal divergência era a defesa de um desenvolvimento sustentável baseado em uma nova economia, enquanto o governo optou pelo velho desenvolvimentismo, colocando o meio ambiente em segundo plano. Como exemplo, citou que os fundos da exploração do petróleo do pré-sal não foram vinculados a um programa de energia renovável que levasse a uma economia livre de carbono.
Marina também criticou a política de alianças do PT com fisiológicos e conservadores, em detrimento da busca de diálogo programático com outras forças políticas democráticas e reformistas, entre elas o PPS e o PSDB.
Em 2010, Marina foi candidata a presidente pelo PV e ficou em terceiro lugar com 19,3% dos votos. Em 2013, fundou a Rede Sustentabilidade, que, por manobras aprovadas pelo PT no Congresso, o novo partido foi impedido de concorrer nas eleições de 2014.
Marina se filiou ao PSB para compor a chapa como vice ao lado do então candidato a presidente Eduardo Campos.
O Partido Socialista Brasileiro
Ainda em 2007, o PSB criou, com o PDT e outros partidos, o Bloco de Esquerda, de atuação parlamentar própria, para contrabalançar o peso no governo dos partidos conservadores. Em 2013, o presidente do PSB, Eduardo Campos, alertou a presidente Dilma Rousseff da crise econômica que então se configurava. Sem conseguir dialogar, o PSB deixou o governo.
Para Campos, o ciclo iniciado por Lula havia se esgotado e a presidente e o PT haviam perdido a capacidade de liderar o país para relançá-lo em uma nova etapa de desenvolvimento.
Governador de Pernambuco com 80% de aprovação, Campos foi lançado candidato a presidente da República pelo PSB, PPS e Rede. Tais partidos propunham que a esquerda democrática liderasse um bloco de centro-esquerda, sem dele excluir as forças centristas, com base em um programa comum de aperfeiçoamento da democracia e de desenvolvimento econômico de inclusão social e de sustentabilidade ambiental.
Esquerda democrática unida
Após o desastre de avião que vitimou Eduardo Campos, PSB, PPS e Rede se uniram em torno da chapa Marina Silva/Beto Albuquerque. Porém, o PT caluniou a campanha de Marina, acusando-a de que, uma vez no governo, tentaria por fim a exploração do pré-sal, acabaria com os programas sociais, promoveria um tarifaço e praticaria uma política econômica de interesse dos banqueiros.
Passado o pleito, veio a público o rombo das contas públicas, seguidamente maquiadas e manipuladas pelo governo, que se viu obrigado a fazer aquilo que acusava nos adversários: aumento das tarifas públicas e forte restrição ao financiamento dos programas sociais.
PSB, PPS, PV e Rede pelo impeachment
Diante do descalabro das contas públicas, das denúncias de financiamento ilegal de campanha via Petrobras e outros órgãos públicos, das tentativas de barrar as investigações de corrupção da Lava Jato, da incapacidade de tirar o país da crise e atentos às manifestações surgidas desde junho de 2013, PSB, PPS, PV e Rede apoiaram a solução constitucional do impeachment de Dilma Rousseff.
Fortalecer a esquerda democrática em 2016
Os partidos da esquerda democrática sempre foram firmes defensores da Constituição de 1988, que ajudaram a elaborar e aprovar. Sempre respeitaram a autonomia e a independência da sociedade civil, dos movimentos sociais e dos sindicatos contra tentativas de partidarização. Lutam pelo fortalecimento no Brasil de um Estado de Direito democrático e de Bem-Estar Social. Propõem a regulação de uma economia de mercado para favorecer os interesses majoritários.
A experiência destes partidos nos governos estaduais e nas prefeituras mostram compromisso com um diálogo construtivo e respeitoso com a sociedade, com os demais partidos democráticos, com o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público.
Firmes nos valores mais profundos de esquerda pela liberdade e igualdade, estão abertos à renovação e às transformações do mundo contemporâneo a partir de uma perspectiva progressista.
Convidamos os cidadãos que se reconhecem nesses valores a participar da eleição de 2016 e fortalecer os partidos da esquerda democrática, em especial o PPS, o mais legítimo herdeiro da tradição democrática do antigo PCB, inaugurada pelo jornalista Astrojildo Pereira, em 1922. (Assessoria do PPS)
Cálculo, dissimulação e marketing
Dilma Rousseff sempre advertiu que aqueles que apostassem na ruptura entre ela e Lula perderiam em quaisquer circunstâncias. E assim tem sido desde que Lula a convidou para ser candidata à Presidência da República. Nas campanhas eleitorais, sempre figurou como a mulher que Lula havia escolhido para governar o País pela primeira vez. Uma mulher de capacidades notáveis e de história heroica. Desde que assumiu o poder, não foram poucas as vezes em que Dilma recorreu ao ex-presidente para ouvir seus conselhos, ainda que não os aceitasse de todo. Há aí uma relação entre criador e criatura até agora inabalável.
Lula sempre teve em Dilma Rousseff uma 'persona' tão distinta a ele que poderia cumprir com rigorosidade o papel que ele havia projetado: eleger-se como se Lula fora; e mais: não alçar voo próprio pelas limitações que ele conhecia, além de garantir uma situação favorável para quando ele desejasse retornar ao centro da vida política, reelegendo-se presidente da República.
Entre os dois sempre houve um jogo intencional que mesclou cálculo político, dissimulação e marketing. Precisariam sempre se manter e se refazer, movimentar-se no cenário e, por fim, vender-se como um mesmo produto.
Em relação ao PT, Dilma Rousseff sempre foi menos enfática, mais protocolar e, por fim, mais distante. Nunca se considerou devedora do partido. Dilma efetivamente não é e nunca foi uma liderança partidária, orgânica ao PT ou ao PDT, seu partido de filiação anterior. Suas origens, marcadas pelo voluntarismo da luta armada deixou marcas, não apenas de conduta mas de concepção política.
Mas o tempo não passou em vão. As bombas-relógio do segundo mandato de Lula começaram a explodir ao final do primeiro governo de Dilma. O horizonte já evidenciava a tempestade, e depois das manifestações multitudinárias de 2013 o cenário se mostraria sempre mais difícil. Desde a nova posse em 2015 a situação só se agravou: crise econômica, Lava Jato e outras operações contra a corrupção, atingindo diretamente o PT e seus aliados, e a perda de credibilidade entre agentes políticos e opinião pública acabaram por gerar uma situação de gravidade inaudita para os planos futuros de Lula.
Em meio a essa turbulência, os sinais de crítica sempre tiveram um vetor: de Lula para Dilma, e não o inverso. Ainda que de maneira errática, sempre que pode, Lula procura manifestar, embora de forma leve, sua contrariedade em relação às políticas de ajuste. O mesmo ele sempre fez em relação a alguns dos colaboradores de Dilma. Registre-se que Lula sempre procurou salvaguardar-se em relação aos indicados para compor o governo Dilma, procurando se resguardar de resultados não previstos.
Dilma não tem alternativa senão tentar debelar ou 'cozinhar' a crise. Sabe que não tem mais como construir uma grande obra de governo. Não teria com quem negociar e não teria apoio nem mesmo do PT, quanto mais da oposição.
Não tem liderança nem credibilidade para se afastar de Lula e do PT visando tomar as medidas necessárias para enfrentar a crise. E está convencida de que o programa do PT (que retoma o governo Lula) é irrealizável, tanto mais nas atuais circunstâncias. O PT e Lula têm mais área de manobra discursiva para realizar uma crítica a Dilma, sem romper com ela e nem com o governo.
Nessa zona cinzenta, o PT e Lula querem se revitalizar e sabem que não será com os possíveis êxitos do governo Dilma. Eles não virão: nem com o programa de ajuste e menos ainda se ela adotar o retorno à 'nova matriz econômica'”.
Cálculo, dissimulação e marketing são os ingredientes que compõem um quadro de desespero, ilusão e autoengano nas relações entre Dilma, Lula e PT.
Alberto Aggio,
historiador e professor titular da Unesp em Franca
Publicado no Estadão em 29/02/2016 - http://politica.estadao.com.br/discute/ao-se-afastar-de-lula-e-pt-dilma-ganha-ou-perde,266