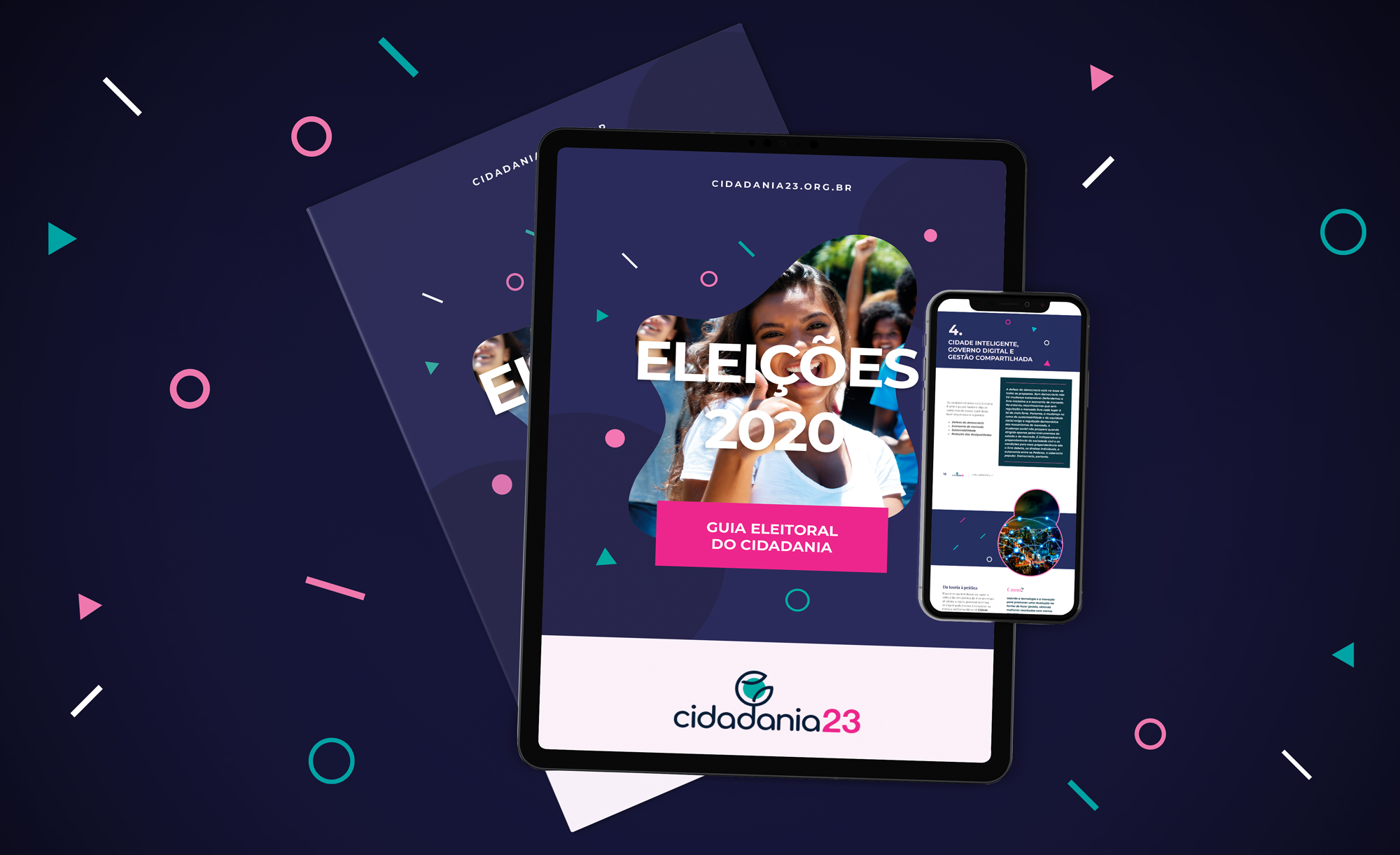partido
Simone Tebet faz ato nesta quarta-feira em Brasília para reforçar a campanha de Lula
Cidadania23*
A candidata a presidente pelo MDB, PSDB e Cidadania no primeiro turno, senadora Simone Tebet (MT) estará em Brasília, nesta quarta-feira (19), para reforçar a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Distrito Fedral para o segundo turno da disputa.
Aliada importante nas estratégias da campanha do candidato, a emedebista participará de uma ato popular marcado para às 16h, na Praça do Povo, no SCS (Setor Comercial Sul), de onde partirá numa ‘Caminhada pela Paz’ junto com a população e militantes de mais de uma dezena de partidos que aderiram à campanha do petista no DF.
A coordenação da campanha de Lula em Brasília prepara uma grande mobilização. Todos os candidatos eleitos e não-eleitos da frente pró-Lula foram acionados para levarem suas bases ao ato. O objetivo é que o evento alcance uma grande repercussão e seja capaz de convencer os eleitores indecisos a votarem no petista.
“A adesão de Simone Tebet e sua vinda ao DF nos dá mais vigor para a reta final dessa campanha”, afirma Geraldo Magela, da coordenação da campanha no DF.
“Vamos fazer um grande evento destacando a importância da participação das mulheres na política e reunindo toda a nossa militância num grande ato em favor da paz e de Lula presidente”, completa Rosilene Corrêa, da coordenação política.
Tebet é considerada peça-chave na disputa eleitoral, graças ao bom desempenho alcançado na disputa do primeiro turno. No DF, ela obteve mais de 100 mil votos, alçando a terceira colocação dentre os candidatos. A senadora afirmou ter declarado voto em Lula por entender que o candidato não representa riscos para a democracia, ao contrário do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).
“É hora de união. Vamos com Lula por um Brasil que combata a fome e todos os preconceitos, que defenda a vida, a ciência e o meio ambiente”, declarou Tebet à imprensa.
A senadora incluiu três propostas de sua campanha ao programa de governo de Lula. São elas, a criação de uma poupança para jovens que completarem o ensino médio, sancionar a lei que garante igualdade de salários entre homens e mulheres que exerçam a mesma função e a criação de um ministério plural. (Assessoria de imprensa/DF com Lula)
Texto publicado originalmente no portal do partido Cidadania23.
Tebet declara hoje apoio a Lula; Temer deve escolher Bolsonaro
Ricardo Abreu, Guilherme Balza e Julia Duailibi*, Globo News
Após o resultado do último domingo (2), apesar de já ter dado sinalizações de que não apoiaria em hipótese alguma o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), Simone Tebet (MDB) se reservou, aguardando uma decisão oficial do MDB. O partido liberou seus diretórios a apoiarem quem quiserem (veja íntegra da nota abaixo). Assim, o caminho fica livre para Simone declarar que está com Lula.
Já o ex-presidente Michel Temer deve se encontrar com Bolsonaro no fim de semana, e há expectativa de que anuncie apoio a ele.
No entanto, a forma de fazer o anúncio ainda é um entrave. Para fazer frente a Bolsonaro, que na terça (4) fechou apoio dos governadores de SP, MG e RJ, o PT quer logo uma foto de Lula e Simone. O petista terá hoje um encontro com lideranças políticas e parlamentares do congresso nacional, que demonstrarão apoio à candidatura. A ideia era mostrar a união e explorar a adesão da força de Simone.
No estado de São Paulo, o MDB anuncia apoio a Tarcisio de Freitas (Republicanos) nesta quarta (5) ao meio-dia, com participação do prefeito da capital, Ricardo Nunes.
Mas uma ala do MDB segue reticente sobre o encontro, e prefere um anúncio solo. Como o partido não vai completamente para o lado de Lula, seria uma forma de se resguardar, e mostrar que o apoio é crítico. Até a tarde desta quarta-feira (5), ligações, pedidos e acertos devem acontecer, de olho no anúncio.
A senadora Mara Gabrilli (PSDB), candidata a vice na chapa de Tebet, declarou na terça (4) que votará em branco no segundo turno.
Leia íntegra da nota divulgada pelo MDB
O MDB é o maior e mais democrático partido do País, o único com presença em quase todos os municípios. Tem convicções claras a favor da Liberdade, da Democracia e da Soberania do povo brasileiro, exercida por meio do voto direto.
Nesta eleição geral, apresentamos um projeto independente e equilibrado, fora da polarização, brilhantemente liderado por nossa candidata Simone Tebet. Não há a menor dúvida de que ela se consolidou como uma liderança nacional.
Nos Estados, reelegemos os governadores do Pará e do Distrito Federal, em primeiro turno. E vamos disputar o segundo turno no Amazonas e em Alagoas. Aumentamos nossa bancada na Câmara e mantivemos uma grande bancada no Senado.
Nas últimas 48 horas, dirigentes, congressistas, governadores e prefeitos externaram sua posição em relação à disputa nacional em segundo turno. Por ampla maioria, o MDB decidiu dar liberdade para que cada um se manifeste conforme sua consciência.
Em qualquer cenário, o MDB deixa claro que cobrará do vencedor o respeito ao voto popular, ao processo eleitoral como um todo e, sobretudo, a defesa intransigente da Constituição de 1988 e do Estado Democrático de Direito.
Deputado Baleia Rossi
Presidente da Executiva Nacional do MDB
Texto publicado originalmente no g1.
Cidadania declara apoio a Lula no segundo turno
Hamanda Viana e Beatriz Borges,* g1
O Cidadania anunciou nesta terça-feira (4) apoio do partido ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno da disputa pela Presidência da República.
A decisão de dar apoio ao petista contra o presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL à reeleição, foi tomada em uma reunião da Executiva do Cidadania.
"[O partido] decidiu pelo apoio ao candidato do PT no segundo turno. Uma decisão que foi quase por unanimidade. Tivemos três votos defendendo neutralidade. E unanimidade contra Bolsonaro", declarou Roberto Freire, presidente da legenda.
"Bolsonaro, nesses quatro anos, demonstrou o seu total desrespeito às instituições democráticas. Por causa de todo esse risco, vamos votar no número 13", completou.
O presidente do Cidadania já havia declarado apoio pessoal à candidatura de Lula na última segunda-feira (3).
O segundo turno das eleições de 2022 será disputado entre Lula, que no primeiro turno obteve 48,4% dos votos válidos, e o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição e ficou com 43,2%. A votação será no próximo dia 30.
No primeiro turno, o Cidadania apoiou a candidata derrotada do MDB à Presidência, Simone Tebet, que ficou em terceiro lugar com 4,16% dos votos válidos.
Durante entrevista em Brasília, Roberto Freire disse que na reunião chegou a ser levantada a hipótese de o Cidadania declarar "apoio crítico" ao candidato do PT. No entanto, a ideia foi rejeitada.
"Tenho muita clareza de que precisamos vencer as eleições pra afastar qualquer risco futuro às liberdades", disse Freire.
Questionado se a declaração de apoio é uma sinalização de que o Cidadania poderá integrar um eventual governo Lula, Freire declarou: "Não. Trata-se de um voto em segundo turno nas eleições presidenciais."
Primeiro turno
No primeiro turno, o Cidadania se coligou com o MDB, o Podemos e PSDB em torno da candidatura da senadora Simone Tebet.
Na noite do domingo (2), em um breve pronunciamento após o resultado do primeiro turno, Tebet afirmou que não ficará neutra no segundo turno. No entanto, ela disse que esperaria as manifestações dos partidos dos partidos da sua coligação para anunciar seu posicionamento.
A executiva do PSDB tem uma reunião marcada para a tarde desta terça-feira (4) e também divulgará sua posição no segundo turno.
FAP lança Guia Eleitoral para candidatos do Cidadania
Publicação também traz a plataforma eleitoral do partido que será apresentada aos eleitores brasileiros
Com o objetivo de orientar, mas também inspirar os candidatos do Cidadania que disputarão as eleições municipais 2020, a Fundação Astrojildo Pereira (FAP) lançou o Guia Eleitoral, que deixa clara não só as posições do partido sobre a pauta nacional, como apresenta a plataforma eleitoral que apresentará aos eleitores brasileiros este ano.
A pandemia do Coronavírus que levou ao adiamento das eleições municipais de outubro para novembro e deverá alterar completamente a forma de se fazer campanha, reforçou a percepção do Cidadania de que a nova realidade impõe, mais do que nunca, um novo modelo de gestão para os municípios, que pode ser definido a partir de 3 conceitos: Cidade Inteligente, Governo Digital e Gestão Compartilhada.
A nova realidade do Brasil e das cidades brasileiras levou escolas a implantarem diferentes modelos de ensino a distância e empresas ampliaram, o máximo possível, o home office para seus funcionários.

Clique na imagem para o download do guia ou clique aqui!
A partir de experiências bem-sucedidas, como a do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, no Espírito Santo, o Cidadania decidiu incluir entre suas bandeiras eleitorais para este ano um novo modelo de governança para os municípios brasileiros, que usa a inovação e tecnologia para fazer mais, melhor e com menos recursos.
Também consideramos fundamental que nossos candidatos e candidatas estejam cientes e preparados para enfrentar os desafios impostos pela pandemia às cidades e à sociedade.
Cientistas políticos adiantam que a primeira pergunta que eleitor vai fazer ao escolher seu candidato nas eleições deste ano é a seguinte: O que você fez ou propõe para resolver os meus problemas ao longo desta pandemia Oferecer uma resposta concreta a essa pergunta pode ser um bom começo para o planejamento de sua campanha eleitoral.
Experiência só se ganha com o passar dos anos, mas é possível queimar etapas a partir de sugestões e ideias compartilhadas por gente que já esteve na linha de frente na construção de políticas públicas.
Foi o que fez o ex-governador, ex-ministro da Educação, ex-senador e professor Cristovam Buarque, oferecendo soluções criativas para se melhorar a gestão municipal. Muitas delas testadas e aprovadas pela população da capital federal durante o período em que governou o Distrito Federal, que continuam atuais, até porque muitos dos problemas dos municípios brasileiros seguem sendo os mesmos.
Segue então um Guia Eleitoral, ao qual você poderá recorrer a qualquer momento para se inspirar ou tirar dúvidas durante a campanha deste ano. Sua participação é decisiva para manter a democracia brasileira viva, ainda mais diante de uma sociedade polarizada e carente de verdadeiros líderes.
Revista Política Democrática || Roberto Freire: Cidadania, o trilhar por novos caminhos
O Cidadania quer ser protagonista de uma nova jornada, com um horizonte para se transformar em importante referência de centro-esquerda e contribuir de forma positiva para a democracia brasileira e o desenvolvimento do país, destaca Roberto Freire
Há anos – talvez um marco importante tenha sido o desmoronamento do antigo sistema soviético e de suas repúblicas –, o mundo vem experimentando fortes transformações em seu modo de produzir e nas suas relações sociais, fruto de uma revolução cientifica e das inovações tecnológicas – era dos robôs e da inteligência artificial –, que impactam muito fortemente também no campos da política e das ideias.
Os padrões aceitos como universais e pouco mutáveis, todos eles herdados do iluminismo, da revolução industrial e da criação dos estados nacionais ainda no século XIX, começaram a se dissolver e passaram a não mais corresponder às realidades dos povos e aos formatos políticos de intervenção social. Ficaram velhos e foram perdendo apelo junto à opinião pública.
Se, antes, a divisão entre liberalismo e socialismo, entre capitalistas e trabalhadores, entre imperialismo e países periféricos tinha algum sentido e conformava a história do século XX com revoluções, golpes, experiências de governo e de Estado de todos os tipos, nos dias de hoje soa quase como tragédia.
Os dois arranjos representados pela social democracia clássica do pós-guerra e pelo neoliberalismo de Reagan e Thatcher não se firmaram como alternativas de longo prazo, mesmo que tenham trazido mudanças significativas às sociedades onde se instalaram.
Na Europa, por exemplo, com muita tradição política, a socialdemocracia gerou largos benefícios de justiça social, deu solidez por décadas às instituições públicas, ampliou o rol dos direitos sociais, alargou a democracia, mas não suportou ou não vem suportando as crises que assolam o continente e o mundo.
O neoliberalismo, uma tentativa de contornar o keynesiasnismo que salvara o capitalismo, conseguiu alguns resultados econômicos positivos na Inglaterra e Estados Unidos, porém faliu em sua pauta conservadora e não conseguiu fazer frente aos movimentos de conteúdo mais extremado de direita. Trump, dentro do Partido Republicano nos Estados Unidos e Johnson, no Partido Conservador inglês, são exemplos dessa falência.
Outros ideólogos surgiram para dar sentido político ao mundo em desalinho e esbarraram contra uma muralha invisível que ia se formando, pelo advento das novas tecnologias, o intercâmbio das informações e as novas relações sociais e de consciência, estas nascidas nos desvãos ideológicos e à sombra do poder velho.
Fukuyama, nos Estados Unidos, acalentado por toda mídia, e após a queda do regime soviético, falava na vitória final da democracia, como se ela, ao estilo ocidental e americano, fosse se plasmar a todas as nações do mundo. A tese morreu em poucos anos – o nacionalismo explodiu no leste europeu e no Oriente Médio, salvo pequenos intervalos com a chamada Primavera árabe, a visão teocrática e baseada em um poder de alta concentração continuou a se impor, até com mais truculência.
Pelo lado do Ocidente, o paradigma do Movimento Verde deu demonstração de vitalidade inicial entre os jovens, porém não se consolidou como alternativa de poder até porque não conseguiu produzir programas exequíveis de governo.
O pólo marxista renitente se esvaziou e em nenhum lugar do mundo é mais força motriz – não falamos da China, onde a discussão é outra, por conta de um estado absoluto e uma economia só reconhecida como de mercado por interesses comerciais ligeiros do Ocidente.
Os grupos e partidos beneficiados pelo chamado voto antissistema ou eurocéticos, vitoriosos na Grécia e com muito apelo na Itália e Espanha, parecem ter chegado ao limite. À frente de governos ou com posições de destaque no Parlamento, demonstraram-se frágeis, contraditórios, sem propostas coerentes e estáveis para dirigir um país.
No momento, em meio ao tumulto de ideias e de paradigmas, vemos movimentos de cunho restaurador, de um nacionalismo xenófobo e antiglobalista, querendo se afirmar em várias partes do mundo, tendo como centro principal os Estados Unidos, onde grupos religiosos, econômicos e políticos operam essa vertente sem qualquer pudor. A vitória de Jair Bolsonaro, em uma vertente tupiniquim, se insere nesse contexto.
Para onde o mundo vai? Para onde vamos no Brasil?
Ao certo, creio que ninguém tem uma resposta exata quanto aos desígnios do mundo e do Brasil. Muito se escreve sobre o futuro, sobre ideias, sobre governos e governabilidade. Mas nada se consolidou como paradigma que possa se abrir como uma perspectiva renovadora de forma estável, por décadas. Tudo está em aberto, por construir, em movimento.
Herdeiros que somos do iluminismo e da convencionada democracia ocidental, alguns postulados nos são caros e devem estar no centro de qualquer projeto: a democracia como valor universal, o inescusável respeito aos direitos humanos, a República, as liberdades individuais e coletivas, a busca da justiça social como um objetivo permanente, e a sustentabilidade (descartando-se o fundamentalismo, muito presente nessa área), o Estado laico, o internacionalismo, a paz e a solidariedade como os fios condutores nas relações entre as nações e o caminhar em direção a um mundo sem fronteiras e que supere o conceito de estrangeiro - nenhum ser humano é um estranho -, tudo alicerçado porém nas culturas afirmativas dos povos.
Os partidos, com larga funcionalidade na sociedade industrial e em virtude dos estados nacionais, claudicam em sua forma atual. Estão ainda contaminados pela concepção de classes antagônicas e se firmam na democracia indireta, quando a democracia direta escancarou a sociedade moderna, sobretudo nos últimos 10 anos. Ou mudam ou morrem de vez, não há saída para eles se ficarem com a cabeça encravada na política do século XX.
O Cidadania, assim entendendo o mundo e o Brasil, quer ser protagonista dessa nova jornada. Longe de possuir respostas definitivas, apenas se abre para buscá-las. Certamente cometerá muitos erros, porém não poderá ser acusado de errar por se negar a trilhar novos caminhos.
De partida, distancia-se do legado classista, embora tenha em sua formação uma histórica sensibilidade e solidariedade com os mais pobres e os trabalhadores. Não acredita em uma ideologia acabada, mesmo sabendo que é impossível elidir cortes ideológicos em um grupo e de amplitude nacional, com suas histórias e dificuldades regionais. Nem tem a certeza da possibilidade no mundo contemporâneo de se construir um paradigma único, mas talvez um comum programa de governo.
A história, segundo entendemos, empurrou para um encontro mais profícuo liberais e social democratas, os dois nascidos do ideário pós revolução industrial. A uni-los o ideal da democracia e da liberdade numa nova etapa histórica das relações das pessoas na sociedade e da economia, onde mercado e Estado não mais necessariamente se opõem num duelo de vida ou morte.
No Cidadania com certeza não estarão todos os liberais nem todos os socialistas e socialdemocratas. As clivagens e as diferenças internas nesses dois campos são inúmeras. Acreditamos, porém, que o Cidadania tem horizonte para se transformar em importante referência de centro-esquerda e contribuir de forma positiva para a nossa democracia e o nosso desenvolvimento.
Além das dimensões políticas e programáticas, o Cidadania tem por vocação a criação de uma nova formação política, longe dos modelos centralizados e verticalizados, totalizantes. Um dos seus dilemas é permitir ao máximo possível o plasmar das diferenças de ideias e concepções, ser mais movimento e transparência, sem, no entanto, perder a credibilidade e capacidade diretiva. Se não resolver esse dilema, qualquer partido que se pretenda novo já nasce em conflito e em processo de decadência.
O Cidadania não é um projeto para 100 anos e não tem qualquer vocação para a prática da hegemonia em seu sentido totalizante. Pretende crescer, aumentar bancadas, ser eleito para dirigir Executivos, tendo clareza de buscar alianças amplas, duradouras, honestas e fraternas com forças políticas afins. Não vemos o poder como uma dimensão de luta fratricida e sem princípios.
A ética e o combate à corrupção são cláusula pétrea para o partido. Como são também o respeito e o equilíbrio entre os poderes republicanos. O desrespeito e o desmontar desse equilíbrio seriam a tragédia da democracia.
Em um de seus poemas, o português José Régio diz não saber por onde ir, mas se nega a caminhar pela bitola das sugestões e dos pensamentos velhos e consolidados.
Temos as nossas convicções e não queremos também caminhar pela senda do oportunismo e dos arranjos sem ética e sem princípios. Importante dizer: não estamos perdidos.
O Cidadania vem de caminhos antigos e honrados e que fazem parte de uma digna história. São referências.
Agora queremos construir e trilhar caminhos novos, até desconhecidos. Sem essa atitude, nossa e de outros, não haverá o futuro que todos desejamos.
* Roberto Freire é presidente do Cidadania.
Fernando Henrique Cardoso: Preencher o vazio político
Um partido pode mudar de nome, mas de pouco adianta se não atualizar propósitos e práticas
No mês passado o PSDB, em congresso nacional, elegeu nova direção, que terá tarefa pesada: atualizar as diretrizes e, principalmente, as práticas do partido. Isso no momento em que o Brasil passa por uma tempestade e requer renovação. Com efeito, na recente eleição presidencial a marreta cega da História destruiu o que já estava nos escombros: o sistema político e partidário criado a partir da Constituição de 1988, que com o tempo se foi deformando. O País percebeu que as bases de sustentação do sistema partidário e eleitoral estavam em decomposição. Organizações empresariais, partidos e segmentos da sociedade civil chafurdavam na teia escusa da corrupção para sustentar o poder e obter vantagens.
Pode ter havido injustiças e exagero da parte de delatores e mesmo de “salvadores da pátria”. Mas o certo é que as más práticas atingiram o cerne do sistema de poder e levaram o povo à descrença. O governo atual nasceu desse sentimento e da insegurança pela presença crescente do crime organizado e da falta de bem-estar, agravada pela crise econômica. A campanha foi plena de negatividade: não à corrupção, não ao crime, não ao “sistema”. Mas rala na positividade sobre o que fazer para construir um sistema político melhor.
Reconhecer esta realidade implica fazer o mea-culpa da parte que cabe aos políticos do “velho sistema”. Mais do que isso, reconstruir a crença em mecanismos capazes de reforçar a democracia e levar o País a um crescimento econômico que propicie bem-estar à maioria da população. Será possível?
Essa é a tarefa pesada dos que se dedicam à política e não acreditam que basta o “carisma” ou a mensagem salvadora de um demagogo. Pior ainda quando a sociedade dispõe dos meios de comunicação para as pessoas se relacionarem saltando organizações, partidos incluídos. O “movimento” é desencadeado pelo contágio eventual provocado por uma mensagem que dispara nas redes. Basta ver a dor de cabeça que a última greve dos caminhoneiros deu ao governo, que não tinha sindicatos nem partidos com quem negociar. Não deve ser diferente do que está acontecendo na França com o movimento dos “coletes amarelos”.
O Estado e o poder do governo, contudo, não se coadunam com estímulos frequentes, às vezes erráticos, que partem das redes sociais. Requerem organização e alguma estabilidade para a implantação de políticas. Daí que, a despeito de as sociedades atuarem “em redes”, os partidos e o próprio Estado continuem sendo necessários à política. Não os partidos “como eram antes”, nem sem que haja o reencantamento da política. Árdua tarefa!
Com que meios preencher o vazio político e evitar, ao mesmo tempo, o predomínio do mero arbítrio dos poderosos? Vê-se no dia a dia o desencontro entre setores do governo – os da área econômica, os com experiência da disciplina e dos valores militares, os intoxicados por ideologias retrógradas e os que veem conspirações anticristãs, antiocidentais, etc. E, principalmente, entre o governo e partes da população. Disso deriva a sensação de que vivemos momentos de crise até mesmo institucional. Começam a aparecer propostas, umas tresloucadas (é só esperar e... haverá mais um impeachment, imaginam), outras mais institucionais (preparemo-nos para o... parlamentarismo), e no meio tempo, aos trancos e barrancos, a máquina pública anda, mas tão devagar que dá a sensação de estar quase parando e o País perdendo a corrida global.
Sem trombetear alarmismo e depois de reconhecerem que falharam, os partidos – em particular o PSDB –, devem pôr os pés no chão. O caminho mais imediato e disponível para religar o poder aos eleitores seria mudar a legislação eleitoral e instituir o voto distrital misto. Há projetos em andamento no Congresso que poderiam ser aprovados antes das próximas eleições municipais. Esse é o passo viável, por duas razões fundamentais: cabe aos parlamentares federais tomar a decisão, que não afetará de imediato o futuro de cada um deles, mas, sim, o dos vereadores, o que facilita a aprovação. Segundo, no nível municipal é mais visível a teia que liga os vereadores com os eleitores, mecanismo indispensável para fortalecer os partidos. Sem tais vínculos a tarefa de governar se confunde com a de formar coligações ocas. Mais ainda: a experiência mostra que querer resolver tudo de uma só vez mais desorganiza do que institui novas práticas. Melhor, pois, antes de falar em parlamentarismo fortalecer os partidos, mudando a circunscrição em que os representantes disputarão o eleitorado.
Além das medidas já aprovadas que dificultam a criação de partidos – os quais no geral são mais sopas de letras do que instituições para orientar o voto do eleitor –, é conveniente aumentar as exigências doutrinárias para a sua formação. Os partidos, para sobreviverem, terão de ser capazes de viver “nas redes” e explicitar a que vieram para além delas. Um partido como o PSDB pode mudar de nome, mas de pouco adianta se não atualizar seus propósitos e práticas.
Hoje, quando não há mais “muros de Berlim”, os partidos podem proclamar que o Estado não deve substituir o mercado e que este não resolve, por si, os problemas da desigualdade. E deveriam saber que, sem aceitar a diversidade e a regra da maioria, as ditaduras podem chegar longe na economia. Mas, vivendo como nós nos ares da liberdade, a troca não vale a pena, mesmo que traga solução rápida do crescimento e, com ele, a da pobreza: seu custo humano e político é muito alto.
Democracia, crescimento, emprego, inclusão social e segurança são os temas a serem enfrentados. Se um partido sozinho não consegue transformar esses ideais em políticas públicas, que faça alianças e crie força formando parte de um centro progressista que aponte ao eleitorado o rumo do futuro.
*Sociólogo, foi presidente da República
O Estado de S. Paulo: Clã Bolsonaro negocia migrar para nova UDN
Filhos do presidente articulam deixar PSL e ingressar em sigla em formação que pretende reeditar antiga União Democrática Nacional, símbolo da centro-direita no País
Marcelo Godoy e Pedro Venceslau, de O Estado de S.Paulo
Com o PSL em crise e sob suspeita de desviar verba pública por meio de candidaturas “laranjas” nas eleições de 2018, os filhos do presidente Jair Bolsonaro (PSL) negociam migrar para um novo partido, que está em fase final de criação. Trata-se da reedição da antiga UDN (União Democrática Nacional).
Segundo três fontes ouvidas pela reportagem em caráter reservado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) se reuniu na semana passada em Brasília com dirigentes da sigla para tratar do assunto. Ele tem urgência em levar adiante o projeto. Eleito com 1,8 milhão de votos, Eduardo teria o apoio de seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ). Com esse movimento, a família Bolsonaro buscaria preservar seu capital eleitoral diante do desgaste do partido.
Enquanto ainda estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, Jair Bolsonaro acionou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para que determinasse investigações sobre o caso.
As suspeitas atingiram o presidente da legenda, deputado federal Luciano Bivar (PSL-PE), e foram pano de fundo da crise envolvendo o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, que foi chamado de mentiroso por Carlos Bolsonaro depois de afirmar que tratara com o pai sobre o tema. Após cinco dias de crise, Bebianno deve ser exonerado do cargo nesta segunda-feira, 18, por Bolsonaro.
Além de afastar a família dos problemas do PSL, a nova sigla realizaria o projeto político de aglutinar lideranças da direita nacional identificadas com o liberalismo econômico e com a pauta nacionalista e conservadora, defendida pelo clã Bolsonaro.
No começo do mês, Eduardo foi ungido por Steve Bannon, ex-assessor do presidente americano Donald Trump, como o representante na América do Sul do The Movement, grupo que reúne lideranças nacionalistas antiglobalização.
O projeto do novo partido é tratado com discrição no entorno do presidente. Em 2018, a UDN foi um dos partidos – embora ainda em formação e sem registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – sondados por interlocutores do presidente para que ele disputasse a eleição, mas a articulação não avançou. Depois de anunciar a adesão ao Patriota, Jair Bolsonaro acabou escolhendo o PSL.
Assinaturas. A nova UDN é um dos 75 partidos em fase de criação, conforme o TSE. Segundo seu dirigente, o capixaba Marcus Alves de Souza, apoiadores já reuniram 380 mil assinaturas – são necessárias 497 mil para a homologação da legenda. O partido já tem CNPJ e diretórios em nove Estados, como exige a legislação eleitoral para a homologação. Ela tem em Brasília um de seus principais articuladores, o advogado Marco Vicenzo, que lidera o Movimento Direita Unida e coordena contatos com parlamentares interessados em aderir ao novo partido. A articulação envolveria ainda o senador Major Olímpio (PSL-SP), que nega.
Souza prefere não comentar as tratativas do partido que estão em curso. Ele, porém, admitiu que a intenção é criar o maior partido de direita do País. Como se trata de uma sigla nova, a legislação permite a migração de políticos sem que eles corram o risco de perder seus mandatos. “O único partido que tem o DNA da direita é a UDN. A gente não pode ter medo de crescer, mas com responsabilidade”, afirmou.
Souza deixou o Espírito Santo, onde atuou na Secretaria da Casa Civil do ex-governador Paulo Hartung, e mudou-se para São Paulo para concluir a criação da nova UDN, que adotou o mesmo mote de sua versão antiga: “O preço da liberdade é a eterna vigilância”. “Nosso sonho é que a UDN renasça grande e se torne o maior partido do Congresso”, afirmou seu presidente. Ele disse ainda que a legenda pretende apoiar o governo Bolsonaro e está aberta “para receber pessoas sérias do PSL e de qualquer partido”.
Palácio. Procurada pelo Estado, a assessoria do Palácio do Planalto informou que não ia se manifestar sobre o assunto. A reportagem procurou ainda as assessorias do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), do deputado Eduardo Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro, mas nenhuma delas se manifestou.
Bivar, presidente da legenda, também foi procurado, mas não respondeu ao Estado.
‘Sigla tem forte apelo popular’, diz historiador
Em processo de homologação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a UDN, sigla que pode abrigar o clã Bolsonaro, foi inspirada no partido que nasceu em 1945 para aglutinar as forças que se opunham à ditadura de Getúlio Vargas.
Com o discurso de moralização da política e contra corrupção, a frente unia originalmente desde a Esquerda Democrática – que romperia um ano depois com a sigla e fundaria o Partido Socialista Brasileiro – a antigos aliados de Vargas, como o general Juarez Távora e o ex-governador gaúcho Flores da Cunha, rompidos com o ditador.
Em 1960, o partido apoiou a eleição de Jânio Quadros, eleito presidente, e, em 1964 , a deposição do governo de João Goulart. “O PSL é um partido de aluguel, já a UDN tem um apelo histórico e popular. Os Bolsonaros podem usar isso”, disse o historiado Daniel Aarão Reis, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Líderes. Ele lembra que a antiga UDN, embora “muito ideologizada”, tinha um perfil heterogêneo. O mesmo pode acontecer com a nova versão do partido. Enquanto a versão original da UDN tinha líderes como o brigadeiro Eduardo Gomes, o jurista Afonso Arinos e os ex-governadores Carlos Lacerda (Guanabara), Juracy Magalhães (Bahia) e Magalhães Pinto (Minas), a nova legenda tem potencial para atrair lideranças do DEM ao PSDB, passando pelo MBL.
Entre os políticos que são vistos como “sonho de consumo” da UDN em 2019 está o governador de São Paulo, João Doria, que descarta a ideia de deixar o PSDB.
Cristovam Buarque: Partido sem Escola
Uma das artimanhas das forças políticas conservadoras é esconder os problemas da sociedade para desviar a atenção da população. Um exemplo é a obsessão com que muitos defendem a ideia de “escola sem partido”, para esconder a realidade de que nossos partidos e nossos políticos não passaram pela Escola. Para esconderem a falta de escolas com qualidade para todos, defendem que é preciso impedir que elas debatam livremente nossos problemas e soluções.
Querem evitar o despertar dos alunos para a necessidade do ensino com qualidade para todos, garantindo que o Brasil não desperdiçará seus cérebros; colocando os filhos dos pobres em escola com a qualidade daquelas onde os filhos dos ricos estudam. Além de esconder que no Brasil os pobres não têm escola com qualidade e os ricos têm escolas com qualidade medíocre, a “escola sem partido” levará professores e alunos a um campeonato de denúncias contra ideias dentro de sala de aula, onde será implantado o terror: a “escola sem partido” será “escola aterrorizada”.
Muito mais do que escola sem partidos, o Brasil precisa de partidos e políticos que tenham passado pela escola, que conheçam história e saibam que houve tempo de “escola sem partido”, na Rússia Soviética, na Alemanha nazista, no Portugal salazarista, na Itália fascista, na Espanha franquista, no Brasil da ditadura. Não sabem e não percebem os danos decorridos na formação da juventude durante aqueles períodos; ou sabem e desejam aqueles tempos de volta. Na verdade, eram tempos de escola com partido único: o partido no poder, com ideia única para explicar a realidade social, política e mesmo científica. Uma escola precisa de todos os lados do mundo das ideias, não de nenhum partido ou um partido único.
É certo que devemos impedir a dominação política por partidos, com narrativas que não respeitam outras opiniões e que tentam doutrinar, no lugar de ensinar. Isso tem ocorrido nos últimos anos, na Universidade de Brasília, por exemplo, onde é proibido debater a diferença entre golpe e impeachment e comparar 2016, no caso de Dilma, com 1992, no caso Collor. Ainda na UnB, filha da liberdade e da democracia, há hoje impeachment para manifestações de apoio ao Bolsonaro.
O caminho não é proibir o debate, denunciar o professor que manifesta uma opinião, o caminho é abrir o debate para todas as opiniões. Se na universidade prevalece uma única narrativa, a falha não é do partidarismo de alguns professores doutrinadores sem capacidade de diálogo. De fato, grande parte de nossos alunos universitários sofrem lavagem cerebral, acreditam em fantasmas históricos que seus partidos lhes ensinam, são intolerantes com ideias diferentes das que receberam como doutrina. A solução não é proibir o partido dominante, nem substituí-lo por uma nova dominação.
A solução não virá mais para os atuais universitários, já são geração perdida. A saída é investir na educação de base, com total liberdade para o debate de todas as ideias, todos os partidos — uma “escola sem censura” que defenda a necessidade de professores bem remunerados, bem preparados, bem dedicados, em escolas bem equipadas, todas públicas e com compromisso em horário integral para formar uma nova geração. Manter escolas nas atuais condições de penúria intelectual, e ainda mais sob censura, com os alunos transformados em denunciadores e não em participantes dos debates, será cair no desastre dos países que passaram por isso no passado. Precisamos de “partidos com escola”, e não de “escola sem partido”.
Quando olho os próximos anos, a sensação de alívio por não ter os compromissos da agenda do mandato (agora mesmo que escrevo da China onde participo de seminário sobre economia dos BRICS) é substituída pela sensação de frustração, por não poder votar contra “escola sem partido”, nem poder continuar a luta por um “país com escola” de qualidade para todos, criando eleitores e dirigentes educados. Fica a frustração de saber que meus substitutos provavelmente votarão pela “escola sem partido”.
Mesmo longe do parlamento, continuarei defendendo que a saída não é proibir partidos nas pobres escolas que temos, mas construir escolas de qualidade, onde todas as ideias e todos os partidos possam participar do debate, inclusive sobre “escola sem partido”, como atualmente. Isso não será permitido se a proposta de censura for aprovada, porque “partido sem escola” constitui um partido que deseja negar o direito de “partidos na escola”. (Correio Braziliense – 20/11/2018)
Jairo Nicolau: O triunfo do Bolsonarismo
Como os eleitores criaram o maior partido de extrema direita da história do país
Até o início do horário eleitoral, a visão dominante sobre as eleições de 2018 era a de que repetiria os padrões dos pleitos anteriores. Nem PT nem PSDB acreditavam no fenômeno Bolsonaro.
No sábado, véspera do primeiro turno das eleições, fui a uma festa de família em Nova Friburgo, minha cidade natal. Durante o dia, no inevitável passeio pela avenida principal da cidade, deu para perceber os sinais de campanha presidencial, o que não tinha ocorrido em nenhum momento no Rio de Janeiro: dezenas de cabos eleitorais balançando bandeiras, muita gente vestindo a camisa amarela com a foto de Bolsonaro estampada.
Em conversa com familiares, comecei a dimensionar a força do bolsonarismo na cidade. No grupo de 25 pessoas que jogam vôlei com a minha irmã, apenas ela e mais três disseram que não votariam no candidato do PSL; no grupo de vinte que jogam a tradicional pelada de fim de semana com o meu cunhado, apenas ele e mais quatro não iam votar em Bolsonaro. O mais inesperado foi ouvir relatos sobre antigos colegas de colégio, figuras silenciosas e discretas, que tinham se transformado em virulentos defensores de Bolsonaro nas redes sociais. Adotando uma “tática de enxame”, eles se especializaram em conjuntamente atacar páginas do Facebook de amigos que postassem qualquer crítica ao capitão.
Friburgo é uma cidade conservadora, mas saí de lá com a sensação de que Bolsonaro estava muito mais forte do que eu imaginava. De volta ao Rio, ao votar no primeiro turno, encontrei uma situação muito mais equilibrada. Meu passatempo, durante a longa espera, foi tentar identificar o voto dos eleitores das filas vizinhas. Alguns, atendendo ao pedido da campanha de Bolsonaro, chegaram com a camisa da Seleção brasileira. Vi muitos com adesivos de candidatos do PSOL e de Ciro Gomes. Será que as urnas em geral estariam mais próximas da maré bolsonarista vista em Friburgo ou do cenário mais equilibrado das filas de uma escola de Botafogo?
Já faz alguns anos que não ligo a tevê para acompanhar a apuração. Prefiro baixar o programa do TSE e abrir o site de um grande jornal, navegando conforme as minhas escolhas. Esse ano, porém, como os resultados demoravam a aparecer, resolvi seguir as previsões feitas pelas pesquisas de boca de urna. À medida que os resultados eram divulgados nos jornais televisivos e outros eram compartilhados via WhatsApp por amigos que estudam eleições, mais estupefato eu ficava.
No Rio de Janeiro, o juiz Wilson Witzel, candidato apoiado pela família Bolsonaro, chegava em primeiro lugar, desbancando Eduardo Paes, líder em todas as pesquisas que foram publicadas desde o começo do ano. Imediatamente, recebo mensagens de toda a parte. Quem é esse juiz? Em Minas Gerais, os petistas sonharam com o crescimento do candidato do Novo, um empresário chamado Romeu Zema. Mas não imaginavam que ele tirasse o governador Fernando Pimentel da disputa no segundo turno. A sensação de que essa era uma eleição de ruptura com a velha ordem partidária ficou clara quando apareceram os dados para o Senado de Minas, com a ex-presidente Dilma amargando o quarto lugar. Era isso mesmo? Sim. Uma ex-presidente vitoriosa em quatro turnos naquele estado estava atrás de outros três concorrentes.
Os resultados da noite deixaram os analistas de política sem adjetivos. O uso de analogias climáticas, embora meio desgastado depois de anos de crise (quem não se lembra da “tempestade perfeita”?), foi a opção. Estávamos diante de um “tsunami” eleitoral, do “furacão” Bolsonaro, da “avalanche” de votos do PSL. Restava falar da velha ordem política também com imagens de destruição. O sistema partidário estaria “em escombros”, “em ruínas”, teria vindo ao chão diante de uma “hecatombe” de renovação.
Afinal, quais eram as bases do sistema partidário que teria sido destruído no primeiro turno do pleito de 2018?
Vale a pena voltar no tempo e lembrar a grande instabilidade que marcou a primeira década da vida partidária após a redemocratização. Cinco partidos foram fundados ainda no regime militar: PDS, PMDB, PT, PDT e PTB. Entre 1985 e 1994, nada menos do que 68 partidos foram organizados e disputaram pelo menos uma eleição. Dentre esses, destacam-se o PFL, o PSDB, o PL, o PCdoB, o PSB e o PRN.
Mais do que pelo grande número de legendas, o período foi caracterizado pela crise que afetou os partidos tradicionais. Nas eleições presidenciais de 1989, os candidatos do PMDB e PFL – os dois partidos responsáveis pela vitória na eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral – tiveram um desempenho pífio. Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte que encerrara seu trabalho um ano antes da eleição, obteve 4,7% dos votos. Aureliano Chaves, ex-vice-presidente da República, alcançou apenas 0,9%.
A vitória de Fernando Collor pelo PRN, legenda à qual se filiou apenas para concorrer à Presidência, e o subsequente governo de Itamar Franco, presidente que se desfiliou do PRN e governou sem estar vinculado a nenhuma legenda, ilustram bem o quadro de crise do sistema partidário nos primeiros anos da década de 90.
Podemos definir o ano de 1994 como o início do sistema partidário com características mais ou menos estáveis, que perduraria por duas décadas até as eleições de 2014. Destaco três principais características desse sistema.
A primeira delas é a polarização entre PT e PSDB na disputa presidencial. Os dois partidos chegaram em primeiro ou em segundo lugar em todos os dez turnos disputados entre 1994 e 2014. Nas duas eleições em que o PSDB venceu no primeiro turno (1994 e 1998), o PT chegou em segundo lugar. Nos oito turnos em que o PT venceu (2002, 2006, 2010 e 2014), o PSDB chegou em segundo lugar.
A segunda característica é o papel central do PT no sistema partidário. Será difícil para os historiadores do futuro não chamarem esses vinte anos de “era do PT”. O partido ficou à frente da Presidência por mais tempo do que qualquer outro na história da República. Mesmo durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o PT conseguiu ser um ator relevante, comandando uma combativa oposição.
Para além do sucesso eleitoral, um aspecto que sempre chamou a atenção no PT foi a sua capacidade de organização. Enquanto os outros partidos mantiveram uma estrutura organizacional tênue, com baixo envolvimento dos filiados em suas atividades, o PT inovou ao apostar em uma estrutura capaz de mobilizar milhares de quadros para as suas fileiras.
Os cientistas políticos David Samuels e Cesar Zucco, no livro Partisans, Antipartisans and Nonpartisans: Voting Behavior in Brazil (2018), mostraram como a divisão PT/anti-PT foi importante na escolha dos eleitores. Caso raro, o principal concorrente do PT não foi outro partido, mas um sentimento genérico com nome próprio: antipetismo.
Uma terceira característica do sistema partidário brasileiro é a fragmentação. Contrastando com a disputa concentrada para a Presidência, o quadro no Congresso Nacional é de alta pulverização, tendência que vem se aprofundando desde os anos 90. Para se ter uma ideia dessa dispersão: em 1994, as quatro legendas mais importantes (PSDB, PMDB, DEM e PT) tinham, juntas, 308 cadeiras na Câmara dos Deputados; em 2014, passaram a deter apenas 210. A predominância dos quatro partidos não é por acaso. PT e PSDB controlaram a Presidência, enquanto o PMDB (depois MDB) e o PFL (depois DEM) foram centrais no controle do Congresso Nacional.
Depois da perplexidade com os resultados de boca de urna do primeiro turno divulgados pela televisão, voltei ao computador para analisar os dados oficiais da apuração. Ao abrir os resultados de deputado federal do Rio de Janeiro me dei conta que o sucesso de Bolsonaro tinha transbordado para os cargos proporcionais.
Quem é esse Hélio Lopes que chegou em primeiro entre os candidatos a deputado federal, elegendo-se com 345 mil votos, à frente de Marcelo Freixo? Encontro na internet a foto de Lopes. Lembro que recebi um santinho dele. Dias depois, me atualizo. Chamado por Bolsonaro de “Hélio Negão”, ele é subtenente do Exército e tentou ser vereador em Nova Iguaçu em 2016, quando recebeu 480 votos. Nas estatísticas não será considerado como um político que tenta um cargo pela primeira vez.
Numa eleição de tantas surpresas, nada foi mais espantoso do que a votação obtida pelo Partido Social Liberal para a Câmara dos Deputados. O partido obteve 11,3% dos votos e 10,1% das cadeiras. Havia conseguido eleger apenas um deputado federal nas quatro das cinco eleições que disputou antes de 2018. Era um dos partidos a serem barrados pela cláusula de desempenho. A filiação de Bolsonaro e de seus seguidores ao PSL, em março desse ano, mudou inteiramente a sorte da legenda.
O PSL foi o partido que teve o maior crescimento desde as eleições de 1990, quando é possível comparar com a primeira eleição do regime democrático, em 1986. Em 1990, o PRN do então presidente Collor obteve 8,3% dos votos, enquanto o estreante PSDB recebeu 8,7%. Ambos já contavam com um grande número de deputados e tinham o apoio de importantes lideranças regionais.
Outra característica singular do PSL é o grande número de eleitos que disputam um cargo pela primeira vez. Dos 52 deputados federais eleitos, trinta nunca haviam concorrido. Nunca um partido elegeu tantos novatos como o PSL. Guardadas as proporções, é um fenômeno semelhante ao da ascensão do partido do presidente francês Emmanuel Macron (La République en Marche!) e do Movimento 5 Estrelas, na Itália; são novos partidos que levam dúzias de cidadãos sem experiência prévia aos legislativos nacionais.
Os diversos perfis da bancada do PSL feitos pela imprensa destacam a sua heterogeneidade. O que os une, além da admiração por Bolsonaro, é o fato de se posicionarem na extrema direita do espectro partidário. Só no fim da noite de domingo do primeiro turno da eleição, quando já era possível estimar o tamanho das bancadas de cada partido, me dei conta de algo surpreendente: os eleitores haviam criado o maior partido de extrema direita da história das eleições brasileiras.
Quando teria começado a ruína dos partidos e de parte da tradicional elite política do país? Não são poucos os analistas que atribuem a origem de tudo às manifestações que varreram o país em 2013. O forte conteúdo antipolítica dos protestos teria ajudado a minar a confiança da população no sistema representativo.
Além de pedir aos manifestantes que não usassem camisas com símbolos partidários e promover a queima da bandeira dos partidos, os protestos lançaram alguns bordões que expressam uma visão realmente negativa da política. “Partidos não” e “Não me representa” eram palavras de ordem reiteradas inúmeras vezes quando as pessoas se aproximavam da Câmara Municipal ou da Assembleia Legislativa.
É difícil dimensionar se 2013 teve um efeito mais duradouro sobre a avaliação dos brasileiros acerca dos seus representantes. O fato é que nas eleições do ano seguinte o impacto não foi perceptível. As pesquisas de opinião não indicaram um aumento da desconfiança em relação às instituições e aos partidos. A taxa de abstenção continuou praticamente a mesma da eleição anterior. Fora do padrão, apenas um aumento dos votos nulos e em branco para deputado federal, particularmente nos estados do Rio e de São Paulo.
Somente uma força externa muito poderosa poderia abalar um sistema de partidos estruturado em duas décadas de competição política, com diversos mecanismos de autoproteção. A Operação Lava Jato cumpriu esse papel. As investigações afetaram diversas legendas, mas sobretudo as três mais importantes: PT, PSDB e MDB. O PT teve vários de seus dirigentes presos e investigados, entre eles o ex-presidente Lula. Os principais dirigentes investigados do MDB tinham foro privilegiado (eram senadores e deputados), mas o que se viu na maior seção do partido, a do Rio de Janeiro, com a prisão de Sérgio Cabral, Eduardo Cunha e Jorge Picciani, foi suficiente para fazer um estrago sem precedentes na legenda. Vários dirigentes do PSDB investigados também se beneficiaram do foro privilegiado, mas a revelação das conversas de Aécio Neves com o empresário Joesley Batista também amplificou muito a rejeição ao partido.
Olhando para trás e relembrando a maré de denúncias contra a elite política que circulou entre 2015 e 2018, percebo como os analistas subestimaram os efeitos da Lava Jato. A operação mudou o patamar de rejeição em relação aos principais partidos. Todos foram igualados por participarem sem pudor de gigantescos esquemas de corrupção.
Até o começo do horário eleitoral, a visão dominante dos cientistas políticos sobre as eleições de 2018 era a de que repetiria os padrões dos pleitos anteriores. Eles acreditavam que: a disputa pela Presidência se daria novamente entre PT e PSDB; a renovação parlamentar seria baixa; e o trio PSDB/PT/MDB continuaria dominando a política brasileira.
O argumento dos que defendiam a tese de que “essa eleição é igual às últimas” baseava-se em duas premissas. Primeiro, a importância que a estrutura partidária e a montagem das coalizões de apoio nos estados havia tido em pleitos anteriores. Segundo, a nova legislação eleitoral, que concentrou o tempo de propaganda eleitoral e o dinheiro do fundo eleitoral nos grandes partidos; juntos, MDB, PSDB, PT e PP ficaram com 44% do dinheiro.
A mesma visão parece ter orientado as ações dos dirigentes partidários. O PSDB optou por lançar Geraldo Alckmin, uma liderança tradicional, que já havia sido candidato à Presidência. O ex-governador de São Paulo, mais do que qualquer um dos nomes ventilados pelo partido, tinha a cara da velha política. O PSDB teve como prioridade a montagem de palanques estaduais e o apoio dos partidos para conquistar o que havia sido o melhor ativo de outras eleições: o tempo de propaganda na tevê.
A estratégia do PT também mirou o passado. A ideia parecia simples. Lula liderava as pesquisas com enorme vantagem. O que, por si só, seria uma evidência de que o eleitorado queria uma nova edição da época de ouro dos governos petistas. Como as pesquisas mostravam que um número expressivo de eleitores estaria disposto a votar em um nome indicado por Lula, a equação estava fechada. Confiando na força do ex-presidente e na teoria de transferência de votos, o PT se deu ao luxo de fazer a mais estreita coalizão eleitoral desde 1989. Só conseguiu o apoio do PCdoB – que retirou a candidatura de Manuela D’Ávila à Presidência – e do PROS.
Nada, porém, supera a crença dos partidos na manutenção da velha ordem do que o comportamento dos partidos do centrão (DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade). É interessante lembrar que alguns deles haviam sido sondados pelo PT e outros pela candidatura de Ciro Gomes. Bolsonaro gostaria de ter o senador Magno Malta como seu vice, mas o PR não aceitou. Depois de semanas de negociação, os partidos resolveram apoiar qual candidato? Geraldo Alckmin.
PT e PSDB se prepararam para enfrentar um ao outro. Nenhum dos dois acreditava no fenômeno Bolsonaro. No último debate do primeiro turno na Rede Globo, a certa altura Alckmin escolheu Haddad para responder uma de suas perguntas. Durante minutos os dois falaram como se estivessem em 2014. Enquanto isso, Bolsonaro concedia uma entrevista nos seus termos à Rede Record do bispo Edir Macedo.
Fui mais cético que meus colegas de ofício sobre a possibilidade de que a eleição de 2018 repetisse o padrão das eleições anteriores. Minha desconfiança se devia a duas razões. A primeira, mais genérica, pode ser resumida no sentimento de que, depois de três anos de crise política, dificilmente as estruturas do sistema partidário não sairiam abaladas. Lembro-me de uma conversa com a cientista política Maria Hermínia Tavares de Almeida, que também compartilhava do meu ceticismo, em que ela fez a pergunta definitiva: “Depois de tudo que aconteceu nesses anos, as eleições não vão mudar nada?”
A segunda razão é que venho há anos acompanhando a movimentação do candidato Bolsonaro. Por intermédio de um amigo que compartilha o material do candidato, assisti aos seus vídeos postados nas redes sociais, e os mais impressionantes deles mostravam o acolhimento efusivo que recebia de seus seguidores pelos aeroportos do país. Mas, apesar de não desprezar a força de Bolsonaro, minha expectativa sobre o que seria a eleição presidencial se revelaria totalmente equivocada. Consulto os slides de uma apresentação que fiz em março deste ano sobre o tema. Estimava que Bolsonaro teria algo em torno de 15% a 20% dos votos.
Minha aposta era que cinco candidatos (Marina, Alckmin, Ciro, Bolsonaro e o candidato do PT) disputariam entre si as duas vagas para o segundo turno; todos eles com potencial de votação semelhante, entre 10% e 20% dos votos. Uma pessoa cujo nome não lembro e que compartilhava de avaliação semelhante chegou a propor um número mágico: nesse cenário, o candidato que tivesse 17% dos votos passaria para o segundo turno.
Meu equívoco maior se deu quando projetava os resultados do segundo turno. Mais de uma vez, fui perguntado em debates e aulas sobre as chances de Bolsonaro vencer as eleições. Na resposta, sempre me lembrava do caso francês. Bolsonaro é candidato de um segmento específico do eleitorado, é um candidato de nicho, que lembra o desempenho do partido de extrema direita da França. Lá, a Frente Nacional consegue até chegar ao segundo turno, mas todas as forças do espectro político (da direita republicana à esquerda comunista) se juntam contra o partido, que é sempre derrotado. Não me lembro, mas provavelmente devo ter dito uma frase que muitos falavam em meados do ano: “O candidato do PSL será derrotado por qualquer um no segundo turno.”
Bolsonaro saiu do nicho. Esse é o fenômeno mais impressionante da campanha presidencial de 2018 e será o tema incontornável dos estudos sobre o comportamento político no Brasil nos próximos anos.
Como um candidato com uma história tão à direita no espectro político, com dezenas de vídeos em que revela seu racismo, sua homofobia e seu menosprezo pelas mulheres, foi capaz de conquistar uma parcela tão expressiva de eleitores de alta renda e alta escolaridade? Fui a São Paulo em junho e percebi que Bolsonaro já era o preferido dos motoristas de Uber e dos trabalhadores do hotel onde me hospedei. Em setembro, em nova viagem, soube que a comunidade judaica o apoiava em peso. O mesmo acontecia com a elite da cidade, outrora eleitora do PSDB.
O mais impressionante é que uma grande parte do eleitorado passou a apoiar Bolsonaro sem conhecer minimamente suas ideias. Recolhido no hospital ou em casa desde o atentado que sofreu em 6 de setembro, Bolsonaro compareceu somente aos dois primeiros debates da campanha. Sem dispor de tempo no horário eleitoral gratuito, também não detalhou nenhum dos seus projetos para o país. Minha impressão é que seus eleitores, ao votarem nele, imaginam escolher uma espécie de João Doria nacional.
Outra hipótese, mais óbvia mas não menos intrigante, é a que vê no antipetismo uma razão forte para Bolsonaro ter saído de seu nicho. A maré bolsonarista deveria menos aos méritos do candidato do que a uma força inercial da opinião pública. Dito de outro modo, qualquer candidato que disputasse contra o PT acabaria vencendo.
Usei o adjetivo “intrigante” no parágrafo acima por uma razão muito simples. Onde estava o antipetismo tão visceral que ninguém foi capaz de dimensioná-lo? Aos olhos de agora, parece que todo mundo já sabia da força do antipetismo, mas nenhuma pesquisa de opinião feita antes de a campanha começar foi capaz de capturá-lo. Ao contrário, as pesquisas mostravam que Lula reerguia o petismo e que o partido já recuperava seu tamanho como legenda preferida do país. Havia inclusive uma hipótese para explicar a força do petismo: “O governo Temer e a prisão do Lula teriam ressuscitado o PT.”
Estudos sobre o desenrolar da campanha eleitoral de 2018, particularmente sobre o papel das redes sociais, devem mostrar a evolução do antipetismo. Meu palpite é que tanto a ampliação do antipetismo, como a mudança de patamar desse sentimento (de um estágio relativamente leve para um visceral) deve-se à eficácia do que chamarei, na falta de expressão melhor, de máquina de propaganda da campanha de Bolsonaro.
As eleições para prefeito do Rio de Janeiro em outubro de 2016 e a greve dos caminhoneiros, em maio de 2018, mostraram a força de uma nova forma de comunicação e mobilização social: o WhatsApp. Falo especificamente desse instrumento porque ele é realmente uma inflexão na forma de os brasileiros se comunicarem. De novo, não tenho estudos, mas posso observar na minha rotina que o WhatsApp é o grande responsável pela inclusão de milhões de cidadãos de baixa renda e baixa escolaridade na era digital.
Somente a comunicação via redes sociais, cultivada nos últimos anos no país, poderia explicar a força e a rapidez com que as ondas de opinião se propagaram nessas eleições. Antes, velhas ondas de campanha demoravam dias para se formar e precisavam do “boca a boca” para se propagar. Agora, a propagação da informação faz-se de maneira veloz, em escala geométrica – como provavelmente ocorreu na impressionante campanha que levou o juiz Witzel a saltar de um dígito nas pesquisas feitas na quarta-feira antes da eleição para 41% dos votos válidos no primeiro turno.
A campanha também foi invadida por uma onda de fake news. Assisti a dezenas de vídeos, quase todos pró-Bolsonaro, com montagens toscas, adulterações de fatos e estatísticas inventadas. A Justiça Eleitoral não se preparou para lidar com o fenômeno. Diferentemente do que tinha feito em outras eleições, quando controlava os desvios e agressões da propaganda de rádio e televisão, nesse ano o silêncio foi a sua tônica.
Mas nem tudo foi fake news. Depoimentos e trechos de eventos foram difundidos com eficácia pela campanha do PSL. Ouvi pastores e lideranças empresariais pedirem voto para o Bolsonaro. Vi compararem algumas propostas do candidato com as do PT. Acabo de assistir a um vídeo em que um bispo finaliza a sua homilia repetindo, e sendo efusivamente aplaudido pelos fiéis, o principal bordão da campanha bolsonarista: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.”
Bolsonaro é, a meu juízo, o maior fenômeno da história das eleições no Brasil. Muitos o comparam com Collor em 1989, mas sua força e abrangência são bem maiores. Uma coisa parece certa. Com Collor, vimos a emergência de um fenômeno propagado pelas redes de televisão. Bolsonaro não só nos mostrou que a era da televisão está se encerrando, como uma nova era começa: a das campanhas feitas nos subterrâneos da sociedade, por meio das redes sociais.
Embora essa seja uma análise ainda inicial, minha sugestão é que o pleito desse ano é um exemplo do que os cientistas políticos chamam de “eleição crítica”: uma disputa que desestrutura o padrão de competição partidária vigente.
Enumero quatro elementos que demonstram que as eleições deste ano marcam o encerramento do sistema partidário que vigorou por duas décadas: o fim da polarização entre PT e PSDB nas eleições presidenciais; o fim da centralidade do primeiro como força organizadora do sistema partidário; o declínio dos dois maiores partidos de centro (PMDB e PSDB); e a emergência de um novo e expressivo partido de direita (PSL).
A onda bolsonarista foi tão forte que, nos dias que se seguiram ao primeiro turno, os prognósticos sobre o resultado do segundo turno podiam ser resumidos em duas perguntas: Qual será a diferença a favor do candidato do PSL? Será que ele superará o desempenho de Lula em 2002? (Nesse ano, o candidato do PT recebeu 61,3% dos votos válidos, a maior votação já obtida por um candidato a presidente.) As pesquisas publicadas na primeira semana após o segundo turno reforçaram a ideia de vitória por grande margem. Na pesquisa do Datafolha, o deputado do PSL vencia com 58% dos votos válidos; na pesquisa Ibope vencia com 59%.
Em razão da grande vantagem confirmada nas primeiras pesquisas, Bolsonaro manteve a mesma estratégia adotada no último mês de campanha do primeiro turno: priorizou a difusão de mensagens por intermédio das redes sociais, não participou de eventos públicos e nem compareceu aos tradicionais debates promovidos pelos principais meios de comunicação do país. A diferença é que sua campanha chegou ao rádio e à televisão.
Com apenas oitos segundos, o ex-capitão havia sido quase invisível nos meios tradicionais de comunicação no primeiro turno. No segundo, com os dez minutos do programa eleitoral e centenas de inserções, ele teve que dar uma atenção especial ao velho (e para ele novo) formato de comunicação.
Se pudermos recorrer a uma metáfora esportiva, a estratégia de Bolsonaro lembrou a dos times de futebol que, vencendo por larga vantagem, “jogam contra o relógio”. Deixam o tempo passar, trocam passes para o lado até que o juiz aponte para o centro do gramado.
Na campanha de Haddad, em contrapartida, inicialmente nada parecia funcionar. A tentativa de organizar uma frente democrática foi um fiasco. O petista recebeu apoio crítico do PDT e Ciro Gomes preferiu não declarar seu voto; Fernando Henrique Cardoso e outras lideranças nacionais do PSDB também preferiram não se manifestar; Marina Silva deu seu apoio quinze dias depois do domingo do primeiro turno. Chegavam notícias de que até mesmo os dirigentes do PT não acreditavam na sorte de seu candidato e temiam uma derrota humilhante. Em mais de uma conversa com amigos chamei a atenção para a “solidão de Haddad”. A sensação era outra: a do time que está sendo derrotado por uma grande diferença e conta os segundos para que o jogo acabe.
A incapacidade de Haddad e do PT para ampliar o seu arco de alianças foi relativamente compensada por um movimento de apoio, também cultivado nas redes sociais, que contou com grandes atividades de rua na última semana antes do pleito. Foi provavelmente por causa desse movimento que o candidato do PT não sofreu a derrota que se desenhava no começo do segundo turno. A comparação dos votos dos dois turnos, incluindo os votos nulos e em branco no cálculo, mostra que Haddad acabou crescendo mais (passou de 27% para 40% dos votos totais), do que Bolsonaro (passou de 42% para 50%).
Escrevo as linhas finais desse texto poucos minutos após a confirmação de que Bolsonaro é o novo presidente do Brasil. Escuto muitos gritos, panelas batidas e fogos para celebrar a vitória. O volume se assemelha ao das manifestações contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Numa eleição de tantas novidades cabe registrar mais essa. Pelo menos no Rio de Janeiro, nunca tinha visto uma vitória eleitoral ser tão celebrada.
Ainda vou passar muitas semanas analisando os dados das eleições de 2018. Mas como não podia deixar de ser, começo observando o que ocorreu em Nova Friburgo: no primeiro turno, Bolsonaro obteve 63% dos votos válidos, Ciro Gomes, 16% e Haddad, 10%. No segundo turno, Bolsonaro obteve 73%. Já na minha zona eleitoral, no Rio, o quadro foi bem mais equilibrado no primeiro turno: Bolsonaro obteve 44% dos votos, Ciro, 30% e Haddad, 13%; no segundo turno Bolsonaro chegou aos 54%.
Olho os números e me dou conta de como Bolsonaro foi bem votado em outras áreas da cidade do Rio de Janeiro. Enquanto isso, os gritos pró-Bolsonaro e contra o PT continuam a ecoar lá fora. Realmente, estamos diante de um fenômeno eleitoral diferente de tudo que eu já tinha visto.
*JAIRO NICOLAU é cientista político e professor da UFRJ, é autor de Representantes de Quem?: Os (Des)Caminhos do seu Voto da Urna à Câmara dos Deputados
PPS lança o Manual do Candidato e da Candidata com orientações para a disputa eleitoral de 2018
O PPS acaba de lançar o Manual do Candidato e da Candidata. A publicação tem como objetivo preparar os candidatos e candidatas do partido para as eleições deste ano.
O livreto aborda questões gerais da política com foco na realidade social e política brasileira e traz os valores e princípios que norteiam as ações formadoras de quem disputará o próximo pleito. Ele também contém as propostas formuladas na Conferência Nacional “A Nova Agenda do Brasil”, promovida pela FAP, além de trechos da proposta do PPS para um Programa de Governo.
Faça o download do Manual do Candidato e da Candidata do PPS
O Manual apresenta ao candidato as informações necessárias para compreender e utilizar os mais diversos e modernos recursos que o auxiliarão na busca de votos. Além disso, traz ainda leis e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assim como a Resolução Eleitoral e as normas do PPS para as convenções que serão realizadas entre os dias 20 de julho e 05 de agosto.
Trata-se de um material mais que necessário para que dirigentes partidários e quem vai assumir candidatura nas unidades da Federação tenham ao seu dispor todos os passos a serem dados em busca do sucesso pessoal ou partidário.
Cláudio de Oliveira: A instrumentalização partidária e eleitoral dos sindicatos
De 1982 a 1989, fui militante do antigo PCB. Com os velhões do Partidão, aprendi que não se deve transformar os sindicatos e associações profissionais em instrumentos da política partidária.
Antigos militantes me diziam que, de 1922 a 1958, o PCB aparelhou as “entidades de massa”, com enfraquecimento de ambos.
O “aparelhismo” causou prejuízos para os órgãos de classe, que perderam representatividade e, assim, força de atuação e mobilização das categorias. Ao se fecharem em um único partido, deixaram de representar os filiados a outros partidos ou os sem filiação, caso da maioria dos trabalhadores. Para o PCB, que demonstrava atitude antidemocrática de não respeitar o pluralismo da sociedade brasileira.
A partir dos anos 1960, o Partidão passou a entender os sindicatos e associações profissionais como instituições suprapartidárias, compreendidas como órgãos da sociedade civil, com autonomia em relação ao Estado, independentes dos partidos e pertencentes ao chamado movimento democrático geral.
Foi assim que o PCB começou a atuar nos sindicatos e instituições como OAB e ABI, considerando que elas representavam não só os comunistas do PCB, como também os socialistas do PSB, os trabalhistas do PTB, os liberais do PSD e da UDN, e muitos profissionais sem filiação partidária.
Aquelas instituições, pluralistas e de caráter suprapartidário, ao lado de outras como a CNBB, foram muito importantes na resistência ao regime ditatorial de 1964. Atuaram decididamente na campanha pela convocação da Constituinte, na luta pela Anistia aos exilados e presos políticos, e nas mobilizações das Diretas já, por exemplo.
Ontem, em visita ao Campus da Unesp da cidade de Rio Claro, a 173 Km de São Paulo, onde o meu filho faz uma graduação, vi um cartaz da Apeoesp, convocando a comunidade universitária para um debate composto exclusivamente de representantes do PT.
Se eu fosse estudante da Unesp, iria ao debate e ouviria com o devido respeito todos eles, vários dos quais consagrados pelo voto popular. Mas, gostaria de ouvir também as posições políticas de representantes do Psol, PCdoB, PSB, PDT, PPS, PSDB, PV, Rede.
E até do DEM, partido do atual ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, para ouvir quais são suas propostas, em que nelas concordo e quais delas divirjo, para saber bem combatê-las, se fosse o caso.
Ao ver o cartaz da Apeoesp, lembrei-me do meu queridíssimo camarada Vulpiano Cavalcanti (1921-1988), militante comunista desde 1934, que costumava repetir:
– Não basta lutar, é preciso saber lutar.
* Cláudio de Oliveira, jornalista e cartunista
Roberto Freire – Fundo Partidário e TV: é hora de mudar
As discussões em torno das necessárias mudanças que devem ser feitas no sistema político-partidário nacional esbarram, em muitos momentos, no senso comum de que o grande problema da democracia brasileira seria a quantidade excessiva de partidos em funcionamento no país. Não são raras as propostas que estabelecem mecanismos de controle ou restrição à criação de novas legendas, mas todas elas não passam de soluções fáceis e equivocadas para um problema complexo.
Ao contrário do que muitos imaginam, as graves distorções do modelo eleitoral brasileiro não decorrem da possibilidade de serem criadas novas agremiações. Partido político, afinal, é direito de cidadania e não deve ser tutelado, regulamentado ou restringido pelo Estado ou por qualquer legislação. Basta observarmos o que acontece nas democracias mais avançadas do mundo, onde não há nenhuma lei que coíba o surgimento de novas legendas. Um exemplo ilustrativo vem dos Estados Unidos, país no qual funcionam plenamente mais de 100 partidos (embora se pense que sejam apenas dois, o Democrata e o Republicano). Há, inclusive, a possibilidade de candidaturas avulsas – sem ligação com qualquer partido político – para os diversos níveis de disputa no sistema eleitoral norte-americano.
Por outro lado, é evidente que as graves falhas do modelo brasileiro precisam ser corrigidas o mais rápido possível. A maior de todas as distorções talvez seja o acesso indiscriminado e irrestrito dos partidos políticos aos recursos do Fundo Partidário e ao tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Com as facilidades para que todas as legendas recebam o dinheiro do Fundo, criou-se no Brasil um amplo mercado de negociações espúrias e tentativas de enriquecimento fácil à custa do dinheiro público, com uma profusão de pedidos de registro de novos partidos interessados exclusivamente em receber tal financiamento.
Guardadas as devidas proporções, é algo semelhante ao que ocorre com parte do sindicalismo, cada vez mais dependente dos valores provenientes do chamado imposto sindical. O que se vê é uma proliferação de sindicatos e o esfacelamento do movimento sindical brasileiro, já tão cooptado, o que faz com que algumas centrais passem a existir quase unicamente em função do dinheiro que recebem por meio das contribuições sindicais compulsórias. Há, ainda, uma terceira vertente dessa grave distorção: as igrejas e templos religiosos que, por força de uma imunidade tributária assegurada por lei, muitas vezes proliferam como mero negócio.
De volta à reforma política, o grande debate que deve ser levado adiante para racionalizar o sistema eleitoral brasileiro não envolve nenhuma restrição à possibilidade de serem criadas novas legendas, mas ao acesso das agremiações ao Fundo Partidário e ao tempo de TV. Nossa proposta é de que apenas os partidos que atingirem, pelo voto, uma representação mínima na Câmara dos Deputados tenham direito a esses recursos. Seria uma espécie de cláusula de barreira, mas não aos mandatos. Os partidos que não alcançarem um índice mínimo poderiam funcionar normalmente, bem como o parlamentar eleito por essas legendas assumiria e exerceria o mandato conferido pela população, mas essas agremiações ficariam sem a verba partidária e o tempo na TV.
Outra vantagem da proposta é a maior facilidade de sua tramitação no Congresso Nacional. A alteração poderia ser feita por meio de uma simples lei ordinária, ao contrário do que seria necessário para a aprovação de uma cláusula de barreira restritiva aos mandatos e partidos. O Supremo Tribunal Federal, que já se debruçou sobre a matéria e declarou a inconstitucionalidade da medida, entende que qualquer mudança só poderia valer a partir de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) – que precisa ser aprovada por maioria qualificada de três quintos dos parlamentares em dois turnos de votação na Câmara e no Senado.
Não é tutelando os partidos ou cerceando a liberdade da cidadania de criar novas legendas que o Brasil avançará nas discussões sobre a reforma política. A necessidade de organizar nosso sistema eleitoral não pode resultar na aprovação de medidas que façam o país regredir. É possível eliminar distorções e corrigir rumos sem afrontar a democracia ou controlar o que deve ser livre. (Diário do Poder – 10/08/2016)
Roberto Freire é deputado federal por São Paulo e presidente nacional do PPS
Fonte: pps.org.br