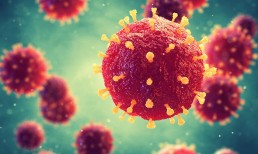pandemia
Fernando Gabeira: Os caminhos do tecnopopulismo
Sem a cloroquina econômica, com o País mais pobre, Bolsonaro cavalgará para onde?
De modo geral já se conhece como triunfam os populistas. Interpretam as frustrações populares em tempos de crise econômica. Criticam o distanciamento das elites e tendem a valorizar a democracia direta: acham que, uma vez submetidos a escrutínio popular, toda a sua agenda é majoritária.
Ainda estamos por construir uma teoria sobre o declínio do populismo porque, em termos históricos, ele acabou de se instalar em bases novas, num contexto transformado pela revolução digital. A pandemia deu-nos uma pista.
Populistas como Trump e Bolsonaro tendem a afirmar que os problemas têm soluções simples. Diante da complexidade do novo coronavírus, não conseguiram reagir, exceto pela negação.
O fato de ambos se terem apegado à cloroquina como uma saída mágica é, de certa forma, compreensível. A existência de um remédio eficaz colocaria um ponto final em todo o drama.
Mas, como se diz no Brasil, o buraco era mais embaixo. A complexidade da pandemia exigia respostas nacionalmente integradas, aliança com a ciência médica, uma visão mais flexível de gastos na emergência, solidariedade pelo sofrimento das pessoas.
Tanto Trump como Bolsonaro foram incapazes de cumprir esse roteiro. A insensibilidade talvez seja o fator mais impactante no seu fracasso.
No entanto, a pandemia foi o elemento inesperado que precipitou a demonstração da falsidade da tese de que os problemas dos países são muito fáceis de resolver desde que se eleja o homem certo para o papel. Trump já sentiu os efeitos e corre o risco de ser derrotado nas eleições. Bolsonaro, também assustado, saiu em campanha eleitoral, apesar da distância no tempo.
Nem sempre há pandemias. Porém a rapidez com que os acontecimentos se desenrolam é um fator que sempre ajudará a demonstrar que as soluções não são simples e isso encurtará a vida política dos populistas.
No caso brasileiro, existe um fator tradicional. Quase todos os eleitos prometem combater a corrupção. Alguns, no curso de seu governo, como foi o caso de Collor e mesmo de Lula, acabam sendo envolvidos em denúncias.
Bolsonaro trazia um potencial explosivo na sua prática anterior à chegada ao poder. É o método que utilizou para contratar funcionários em seu gabinete e nos de seus filhos.
As investigações prosseguem no seu mandato. Não têm o poder de derrubá-lo. Mas o obrigam a negociações, a buscar apoio em juízes que certamente pedirão algo em troca por seus favores. O resultado disso é que, por necessidade, Bolsonaro tem de se conciliar com as forças que, na campanha eleitoral, ele insinuou que combateria.
De modo geral, o populismo se escora na democracia direta e afirma que para realizá-la é preciso remover os obstáculos institucionais. Bolsonaro não conseguiu demolir o STF e o Congresso. A prisão de Fabrício Queiroz foi um marco que o fez compreender que precisaria de ambos. Daí partiu para um acordo com o Centrão no Congresso e a distribuição de cargos, como sempre se fez no Brasil.
A bandeira anticorrupção foi para o espaço. Só restava agora empunhá-la contra seus adversários, governadores que também são potenciais candidatos à Presidência.
Ao compreender que o movimento não passaria numa área do eleitorado, Bolsonaro precipitou o mergulho no passado. Não mais combateria a corrupção, exceto na retórica, mas iria apoiar-se nos setores mais fisiológicos do Congresso e concluiria sua transição buscando novos eleitores, escorado no clientelismo, e não mais em demandas de coerência. Sua viagem ao Nordeste, montado a cavalo e usando um chapéu fake de vaqueiro, é a expressão visual de sua metamorfose.
Outro fator que tem peso é a relação dos tecnopopulistas com a imprensa profissional. Eles a incluem no sistema decadente que pretendem destruir. Consideram-na um lixo desprezível e articulam sua comunicação por meio das redes sociais e pequenos veículos que possam comprar com sua verba publicitária. A tática é insultá-la sempre que possível, produzir fatos e oportunidades negativas que possam despertar sua indignação, imperando em suas páginas e telas pela crítica que provocam.
Há duas brechas nessa tática. A primeira delas é que a complexidade da pandemia revitalizou a importância de uma imprensa profissional, associada à ciência, produzindo informações confiáveis para atenuar o desastre sanitário. A segunda brecha é também vital. Apostar apenas nas redes sociais como um espaço em que vale tudo.
Não é mais tão fácil como no passado. Grandes empresas ameaçam retirar sua publicidade se não houver controle do discurso do ódio. E agências especializadas vasculham os perfis inautênticos. O Facebook já derrubou muitos ligados à defesa de Bolsonaro e ataques aos seus adversários.
Ainda faltam elementos essenciais nessa análise. Um deles é a própria economia. O populismo floresceu porque há muito não se sentia um crescimento real do padrão de vida. Enquanto a vida melhorava, era tolerável a relativa distância das elites em relação ao povo. Sem a cloroquina econômica, com o País mais pobre, Bolsonaro cavalgará para onde?
William Waack: O vírus e a loucura
Filósofos andam céticos quanto ao mundo político pós-pandemia O mundo pós-pandemia não vai ser muito diferente do que era até o começo deste ano, talvez só um pouco pior. Do ponto de vista da ordem internacional, a China vai registrando importante vitória tecnológica e política. Ajudada pelos Estados Unidos, que se isolam cada vez mais e despertam no resto do mundo, pela primeira vez, um sentimento de pena em relação aos americanos, no lugar de admiração, respeito ou raiva – como costumava acontecer antes do vírus.
Do ponto de vista das sociedades ricas, acentua-se o egoísmo típico trazido pelo crescimento de desigualdades e concentração de renda em escala global. Da perspectiva dos mais pobres, o fim da esperança de que miséria fosse algo a ser liquidado ali na próxima esquina da história. No geral, morre a ideia de que “valores universais” (como direitos humanos, ou sociedades abertas, ou democracia liberal) fossem se impor de maneira mais ou menos “automática” na linha do tempo.
É a hora de os filósofos falarem da pandemia, e as ideias acima são do pensador-celebridade francês Bernard-Henri Lévy. Ele acaba de publicar já em inglês The Virus in The Age of Madness (em tradução livre: O Vírus na Era da Loucura), lançado no circuito internacional da propagação de ideias por meio de debates e conversas com outras celebridades como Fareed Zakaria (GPS), Thomas Friedman (New York Times) e Francis Fukuyama (American Interest). Está no YouTube para quem prefere assistir em vez de ler.
É difícil resumir em poucas palavras a sofisticação profissional de um Bernard-Henri (defensor de ideias liberais), mas algumas de suas frases são contundentes: “A epidemia veio da China, a resposta do Partido Comunista chinês foi eficiente e eles estão conseguindo vender para o resto do mundo o seu padrão de comportamento”. O título do livro não é só uma provocação. Um dos mais conhecidos “intelectuais públicos” está mesmo convencido de que vivemos uma “competição de loucuras” como resposta ao vírus.
Fala da “sombria alegria” com a qual se abraçou o vírus enxergado como não só mais uma pandemia (disso já tratavam os filósofos gregos uns quatro séculos antes de Cristo), mas como uma expressão de “coisa real”, de “história real”, de “tragédia verdadeira”, ao contrário do mundo das notícias, que se parecem nos tempos “pós-históricos” (Levy) em que vivemos como “eventos irreais”, como “eventos fake”. “Um vento de loucura está varrendo o mundo”, afirma.
O vírus não introduziu nada excepcionalmente novo, apenas acentuou ou escancarou tendências, problemas e dilemas já existentes, tanto na política quanto na economia. E tem até um lado que se diria vantajoso, segundo o filósofo: “Tornou evidentes a duplicidade e a inadequação”, além do oportunismo, de alguns dos personagens políticos citados por ele (nesta categoria negativa são Trump, Putin, Maduro e Bolsonaro).
Eles se esmeram na postura da “negação da realidade”, diz Levy, que dedica menções pouco simpáticas também aos que ele chama de “profilatocratas, vegetocratas e ecolocratas” (não só em alemão se inventam palavras no discurso filosófico), além dos defensores de políticas identitárias. Nesse sentido, tomando todos os “ismos” em curso, registra-se uma “competição de loucura” como resposta à pandemia, que nada tem de inédito, o mundo já lidou com isso muitas vezes antes, “e nem é tão ruim quanto parece”.
Mas não se pense que só o grande circuito intelectual global está dando atenção a filósofos. O recente congresso anual da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), no começo desta semana, trouxe um filósofo para examinar com produtores rurais, economistas e técnicos do setor o que se imagina que venha a ser o mundo pós-pandemia. “Daqui uns três anos ninguém vai se lembrar que teve a pandemia”, vaticinou Luiz Felipe Pondé, o filósofo convidado.
Fernando Exman: Politizar vacina é negativo para o país
Brasil se posiciona na corrida global contra a covid-19
O governo definiu seu lado na corrida global pela vacina contra a covid-19. Fez uma análise técnica e optou por associar-se ao projeto desenvolvido pela Universidade de Oxford, que foi licenciado para a farmacêutica britânica AstraZeneca e terá a Fiocruz como parceira.
A notícia é capaz de produzir um relativo alívio psicológico à população, em meio à certeza de que nos próximos dias será alcançada a assombrosa marca de 100 mil vítimas do coronavírus no país. Por outro lado, poderá conturbar novamente as relações político-federativas, se essa agenda não for conduzida com moderação.
O presidente Jair Bolsonaro deve evitar a tentação de politizar o assunto. A vacina é esperada por milhões de famílias, por empresas e investidores que aguardam as condições necessárias para a retomada das atividades. Apenas a massificação de uma ou mais vacinas garantirá previsibilidade aos agentes econômicos.
Só ela permitirá o retorno completo de trabalhadores e consumidores às ruas em segurança, sem o risco de sistemas de saúde entrarem em colapso. Por isso está em curso uma corrida mundial protagonizada tanto por empresas quanto por governos. A imprensa americana aponta risco político semelhante por lá.
Segundo o jornal “The New York Times”, cientistas de dentro e de fora das agências oficiais temem que o presidente Donald Trump aumente a pressão para que autoridades sanitárias aprovem uma vacina contra a moléstia no máximo até outubro. Um mês antes do pleito nacional, quando o presidente buscará a reeleição.
Nos EUA, a vacina pode servir de trunfo político para um presidente que relativizou os riscos representados pelo novo coronavírus e, agora com dificuldades na disputa, parece tentar se reposicionar no debate e melhorar sua imagem entre os eleitores. Aqui, a controvérsia apresenta nuances. Tem como pano de fundo a rivalidade entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria.
O presidente também menosprezou o vírus. A área técnica, contudo, tinha uma estratégia traçada desde o início do ano e logo definiu que não entraria para valer na corrida pelo desenvolvimento de uma vacina própria.
O plano desenhado ainda na gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta foi preparar o parque tecnológico brasileiro para produzir em massa alguma das vacinas a serem desenvolvidas no exterior, assim que ela estivesse pronta e testada.
Essa visão tem como fundamento a certeza de que, embora legítimos, os esforços para a produção de uma vacina “made in Brazil” poderiam deixar o país para trás no combate à pandemia e desperdiçar recursos públicos durante uma grave crise econômica.
Os números mostram que essa opção estratégica foi racional. Hoje há, segundo o Ministério da Saúde, 231 vacinas contra covid-19 sendo desenvolvidas no mundo. Dessas, 33 já estão em fase clínica - etapa em que a testagem começa em seres humanos e são feitas análises de segurança e em grandes grupos de amostragem.
É um momento essencial para que os pesquisadores obtenham as informações mais concretas sobre a segurança de se massificar essas vacinas. Os Estados Unidos têm 58 vacinas em desenvolvimento. Dessas, 6 em fase clínica de testagem. A China possui um total de 32 projetos desenvolvidos, sendo 11 em fase clínica.
O Canadá conta com 16, mas apenas 1 em fase adiantada. O Reino Unido dispõe de 2 vacinas em fase clínica de teste de um total de 9, enquanto a Rússia tem 1 uma em estágio mais avançado e outras 7 em fase pré-clínica.
O Brasil tem 6 vacinas em desenvolvimento, mas nenhuma dessas em fase clínica de pesquisa. Autoridades do governo gostam de dizer que a vacina Oxford/AstraZeneca está na fase mais adiantada de testes com seres humanos.
Citam, inclusive, o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto a esse estágio. E aqui cabe um registro: valem-se justamente do respaldo de um organismo internacional tão criticado por integrantes do próprio Executivo, principalmente pela ala ideológica e antiglobalista da administração federal.
Pode ser um sinal positivo de despolitização do tema. O governo também considerou a garantia de acessar a vacina de forma segura, eficaz e rápida, além da possibilidade de fortalecer o complexo industrial e a transferência de tecnologia.
A medida provisória que tratará do assunto irá prever recursos para pagar a AstraZeneca e, também, investir no Instituto Tecnológico em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). Outro ponto positivo, ainda de acordo com integrantes do Executivo, é o Brasil poder participar da atual etapa de pesquisa clínica. Isso permitirá que se verifique como o produto interage com o clima local e reage na população brasileira, a qual tem as suas especificidades e características genéticas.
Mesmo assim, na semana passada Bolsonaro ironizou, nas redes sociais, a parceria conduzida pelo governo de São Paulo com a China para a produção de uma outra vacina. O Instituto Butantan, de São Paulo, também mantém conversas com a Rússia no mesmo sentido e com a declaração o presidente acabou por alimentar os questionamentos que já vinham sendo feitos por seus apoiadores na internet. “Se fala muito da vacina da covid-19. Nós entramos naquele consórcio lá de Oxford.
Pelo que tudo indica, vai dar certo e 100 milhões de unidades chegarão para nós. Não é daquele outro país não, está OK, pessoal? É de Oxford”, afirmou o presidente. Os apoiadores foram além, escrevendo nas redes que paulistas serviriam de cobaia para uma vacina chinesa.
A politização dessas tratativas destoa do status das relações que o Ministério da Saúde conseguiu construir nos últimos meses com Estados e municípios. A pasta tem garantido que insumos e equipamentos cheguem para todas as administrações locais de acordo com suas necessidades, mesmo que governadas por adversários de Bolsonaro.
É esse o relato elogioso que secretários estaduais, municipais e também parlamentares estão fazendo chegar ao Planalto - um apoio que dá tranquilidade ao presidente na sua decisão de manter o general Eduardo Pazuello como ministro interino da Saúde.
Monica de Bolle: Imunidade 'natural' e falácia
Tratemos de cuidar das vidas, pois só assim teremos chance de cuidar, também, da economia
Com Denise Garrett **
Há vários artigos científicos recentes usando modelos epidemiológicos para estudar os limiares a partir dos quais a suposta imunidade coletiva “natural”, isto é, a alcançada pela exposição ao vírus e não por uma vacina, seria observada. Todos esses estudos, sem exceção, qualificam suas premissas e advertem sobre o uso indevido de suas análises para orientar as políticas de reabertura em países distintos. O artigo de Tom Britton, Frank Ball, e Pieter Trapman, publicado na Science no fim de junho, adverte explicitamente: “Nossas estimativas devem ser interpretadas como uma ilustração a respeito de como a heterogeneidade populacional afeta a imunidade coletiva, e não como um valor exato ou mesmo a melhor estimativa” (ver “A mathematical model reveals the influence of population heterogeneity on herd immunity to SARS-CoV-2”). Outros estudos com modelagens distintas de heterogeneidade populacional fazem advertências muito semelhantes.
O estudo de Britton et al. faz dois cortes de heterogeneidade populacional: idade e interação social. Idade é importante pois sabemos que, ainda que muitos jovens possam ser acometidos por casos graves da doença, os mais velhos são os que apresentam maior suscetibilidade ao SARS-CoV-2. Interação social pois sabemos que os chamados “supertransmissores” da doença são pessoas que interagem com muitas outras, frequentemente desencadeando surtos em suas comunidades. No modelo usado os autores calculam a imunidade coletiva entre 43% e 60%. O artigo explicita o problema de suas premissas: não se sabe o verdadeiro fator de reprodução do vírus, menos ainda qual o grau de imunidade conferido ou sua duração após a recuperação do paciente. Todos os estudos científicos publicados, seja após revisão por pares ou em estágio de preprint (sem revisão de pares) apresentam as mesmas fragilidades, sempre amplamente reconhecidas.
Ainda assim, o economista Samuel Pessôa escreveu artigo para a Folha de S. Paulo no qual considera a possibilidade de imunidade coletiva “natural” ao redor de 20% de infectados na população, sem levar em conta as premissas não comprovadas cientificamente em que se ancoram todos os estudos desse tipo. Estudos também mostram que mesmo que se atinja a imunidade coletiva, casos continuam se acumulando. Trata-se de efeito que infectologistas chamam de overshooting, onde o número final de pessoas infectadas ultrapassa o ponto de corte para a imunidade coletiva. Análises como a de Samuel são perigosas, sobretudo nesse momento em que o debate sobre reabertura de escolas e da economia de forma mais geral se apresenta no Brasil em meio a uma epidemia descontrolada que brevemente alcançará os 100 mil óbitos – esse número não incorpora os muitos casos de síndrome respiratória aguda (SRAG) sob investigação país afora.
Mesmo que o ponto de corte para a desconhecida imunidade coletiva estivesse ao redor de 20%, considerando os dados até o momento, estamos longe de atingir esse patamar. Na Itália, país devastado pela doença no início do ano, a prevalência de covid de acordo com os inquéritos epidemiológicos foi relativamente baixa. Na região mais atingida, a Lombardia, a prevalência foi de apenas 7,5%. Na Espanha a prevalência foi de 5%, e de 11% em Madrid. Na cidade de São Paulo, a prevalência geral estava em 11% no mês de julho, sendo que os mais pobres que vivem na periferia são desproporcionalmente mais afetados pela doença. Em alguns bairros da cidade de Nova York, a prevalência pode ter alcançado 20%. Estas estimativas são importantes, mas devem ser interpretadas com cautela pois muitas vezes os testes usados nos inquéritos de soroprevalência têm sensibilidade e especificidade distintas, tornando difíceis as comparações – esse, alias, é o caso no Brasil. Além disso, não sabemos quanto tempo a imunidade natural dura e nem sua consistência – ela pode ser bastante variável uma vez que é determinada por fatores diversos como idade, comorbidades, marcadores genéticos, carga viral de exposição, entre outros. Ainda mais importante, é o número de pessoas que morreriam desnecessariamente até que essa imunidade coletiva indefinida fosse alcançada. Por fim, há o problema das sequelas. Ainda que pacientes recuperados tenham alguma imunidade variável, os relatos sobre sequelas respiratórias, cardíacas, vasculares, renais, hematológicas, neurológicas, são cada vez mais frequentes.
É inestimável o estrago social e econômico que pode ser causado por políticas de reabertura sustentadas por artigos e cálculos sobre uma imunidade natural ainda incerta. Estamos diante de um agente infeccioso não apenas novo e letal, mas que causa doença sistêmica em muitas pessoas, tornando-as dependentes do sistema de saúde por longos períodos, quiçá permanentemente. Tratemos de cuidar das vidas, pois só assim teremos chance de cuidar, também, da economia
*ECONOMISTA, PESQUISADORA DO PETERSON INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS E PROFESSORA DA SAIS/JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
**MÉDICA, EPIDEMIOLOGISTA, E VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO SABIN, EM WASHINGTON
O Globo: ‘Países com controle do vírus terão investimento', diz Monica de Bolle
Para professora da Universidade Johns Hopkins, países como EUA e Brasil, que não conseguiram conter pandemia, serão mais afetados na economia
Henrique Gomes Batista, O Globo
SÃO PAULO - Professora da Universidade Johns Hopkins, em Washington, Monica de Bolle, avalia que os resultado econômicos pelo mundo começam a mostrar que é falsa a dicotomia entre salvar vidas ou a economia.
Países que controlaram melhor a pandemia, como os europeus, estão se saindo melhor que EUA, Brasil ou o México. E a incerteza não afeta apenas comércio e serviços neste momento, tende a piorar o investimento e as contas públicas.
Já é possível dizer que os países que controlaram melhor a pandemia estão em melhor situação econômica?
Com os dados do segundo trimestre de 2020 vimos que, no período, tanto os países europeus como os Estados Unidos tiveram quedas muito expressivas. Os resultados foram praticamente iguais, por exemplo, olhando a queda do PIB da Alemanha ou dos Estados Unidos.
Mas o que diferencia a Alemanha dos EUA, olhando dois países maduros, é que na Alemanha a situação hoje está sob controle e a vida está voltando ao normal há algum tempo. Nos EUA, como a epidemia continua em expansão e fora de controle, a gente vai ver efeitos ainda muito pronunciados na economia.
O terceiro trimestre irá refletir esta diferença?
Sim. Temos que levar em conta que a Europa, nesta época, pode ser muito afetada pela redução da atividade do turismo, há uma questão sazonal importante. Mas há indicadores na Europa, de uma maneira geral, mostrando esta retomada. Nos EUA já está sendo discutido um novo pacote fiscal, o terceiro. Na Europa ninguém está fazendo isso.
Nos EUA os pedidos de seguro-desemprego voltaram a crescer. E há outro problema: seguro-desemprego é por pouco tempo, o governo tinha feito um ajuste para pagar um adicional de US$ 600 semanais até o fim de julho, isso acabou, e agora há 30 milhões de desempregados que vão parar de receber estes cheques.
Há uma disputa política pela prorrogação deste seguro-desemprego. Os pequenos negócios estão reabrindo, mas as vendas não estão bem. Se os EUA tivessem feito um lockdown mais consistente, com regras e comunicação claras, talvez estivesse reabrindo como na Europa.
E os outros países?
A China é um caso à parte, por ser o primeiro país afetado, tem uma capacidade de fazer medidas como testes em massa, rastreamento de casos, isolamento total, controlar a circulação da população que nenhum outro país tem. Não é replicável em outros países. Mas Nova Zelândia, Vietnã, Coreia do Sul, países menores cuja atuação foi muito determinada para controlar rápido a epidemia, logo em seguida começaram a retomar a economia.
E em países de renda baixa?
É a mesma situação. Se olharmos para a América Latina, há países que conseguiram fazer algum controle da epidemia. Além do Uruguai e da Costa Rica, que são países pequenos, há a Colômbia e o Chile, por exemplo, que fizeram algum controle da epidemia, muito maior que o Brasil ou o México. E a economia nesses países tende a reagir muito melhor que no Brasil, pois é possível reabrir de forma mais consistente, sem a incerteza enorme.
Isso afeta os investimentos?
No comércio e nos serviços isso é evidente. Mas, ao olharmos os dados mais macroeconômicos, a incerteza leva ao fim dos investimentos. Países como o Brasil não terão investimento, enquanto os países com controle do vírus terão algum investimento. O descontrole com o vírus afeta a capacidade de recuperação futura.
É falso o dilema entre salvar pessoas ou a economia?
Este sempre foi um falso dilema. A economia só funciona com pessoas. Se elas não puderem circular livremente, estiverem em risco ou com incertezas, a economia não funciona. O que para a economia é o vírus, não as medidas de controle. A definição mais perfeita disso foram os frigoríficos. Você viu a quantidade deles que fecharam as portas devido a surtos de Covid? Como serviços essenciais, tinham a autorização para funcionar, mas, por causa do vírus, tiveram de parar.
Quando conheceremos os vencedores e perdedores da pandemia?
Nos resultados do terceiro trimestre vamos começar a ver uma diferenciação e até o fim do ano vamos ter uma ideia muito clara. Até porque países como EUA, Brasil e México não têm mais capacidade de controle da pandemia, eles têm alguma capacidade de mitigação, mas controlar como algumas nações europeias fizeram, não têm como fazer.
Podemos ter um momento econômico ainda pior que o do segundo trimestre?
É difícil dizer, pois no segundo trimestre tivemos o fechamento da economia, todo o impacto inicial da pandemia. Agora acho que nem faz mais sentido fazer lockdown, a pandemia está descontrolada. Acredito que os números altos da epidemia vão continuar, variando por regiões, e isso vai afetar a economia americana, mas de forma diferente do lockdown, não será tão concentrado.
O descontrole da pandemia também gera impacto fiscal?
Sim, já é irreversível a pressão para se aumentar a carga tributária no Brasil. O que o governo gastou para lidar com a crise foi absolutamente ineficaz, com a exceção do auxílio emergencial. A gente já tem uma situação crítica de déficit público, tanto pelo gasto extraordinário do governo como pela queda da arrecadação. Sem ter como cortar gastos, há o aumento da carga.
Agora, que aumento de carga? Na minha opinião não é esta nova CPMF que o Paulo Guedes quer fazer. Para mim, isso passa por aumento da alíquota do Imposto de Renda e tributação de lucros e dividendos, coisas que podem ser feitas por lei complementar e que têm efeito relevante sobre carga e progressividade. O retorno da CPMF pode ser um complicador para a recuperação da economia, é um imposto que gera ônus, de grande ineficiência.
Míriam Leitão: Sinais de melhora no mundo em crise
Há cinco semanas tem melhorado a previsão da recessão deste ano, no Boletim Focus do Banco Central, e o tamanho da queda ficou quase um ponto percentual menor. A mediana era uma retração de 6,5%, agora é de 5,6%. A confiança empresarial subiu. A bolsa acumula alta de mais de 60% desde o seu piso em março. O que significa tudo isso? O país está vivendo a maior crise da sua história, os ativos variáveis sobem por falta de opção de rentabilidade, mas a economia tem tido pequenos alívios. Está, contudo, muito longe do fim desse túnel no qual entrou com a pandemia. O mundo todo está com uma recuperação muito desigual e volátil.
A alta das bolsas dá a falsa impressão de que a economia voltará rapidamente ao que era antes da crise, até porque as ações costumam antecipar os movimentos futuros da conjuntura. Mas o que está acontecendo tem a ver com outro fenômeno. É resultado de uma injeção de recursos nunca vista por parte dos bancos centrais mundo afora. Para se ter uma ideia, na crise de 2008, o banco central americano demorou cinco anos para elevar em 8,2 pontos percentuais o seu balanço monetário. Desta vez, em apenas quatro meses o volume de dólares despejados pelo Fed na economia chegou a 13,7 pontos do PIB dos EUA. É essa montanha de dinheiro, que foge dos juros baixos em todo o mundo, que corre em direção às bolsas. E também ao ouro — considerado um ativo de proteção — que na semana passada bateu novo recorde. No Brasil, a bolsa já subiu 61% desde o seu pior momento em 23 de março, mas ainda está 16% abaixo do que estava em 23 de janeiro.
Várias instituições estão revendo os dados da queda do PIB, atenuando a recessão prevista antes. Isso é bom, evidentemente. Mas não se pode perder a visão de que se for 4,7%, como o governo prevê, ou 5,6%, que é a atual mediana do mercado, continua sendo a maior recessão da história. E o país ainda não havia se recuperado das quedas de 2015 e 2016.
Na balança comercial, a corrente de comércio do Brasil em julho ficou 18% abaixo do mesmo mês do ano passado. As exportações tiveram uma queda leve, de 3%, na mesma comparação, porque houve forte aumento nas vendas de produtos agropecuários e da indústria extrativa, especialmente para a China. A exportação para os chineses, diga-se de passagem, cresceu 24%, enquanto para os EUA despencou 37%. Já a venda de produtos manufaturados teve forte recuo de 12%. A queda de 35% nas importações sugere que o consumo interno continua fraco, e a indústria permanece sem fôlego para importar matéria-prima. Foi pela queda mais intensa da importação que se atingiu o saldo de US$ 8 bilhões na balança.
Esta semana vão sair diversos indicadores, indústria, desemprego, inflação e o Banco Central decidirá o que fazer com os juros que estão em 2,25%. Há uma parte do mercado que acredita em nova queda de 0,25%, mas há quem aposte em permanência apesar de a inflação dos últimos 12 meses estar bem abaixo da meta de 4%. O IBGE divulga hoje o resultado da indústria em junho, que deve vir com uma forte alta, na comparação com maio, mas uma grande queda em relação ao mesmo período do ano passado. A estimativa do banco ABC Brasil é de crescimento de 9% de um mês para o outro, mas um recuo de 10% sobre o mesmo período do ano passado. Isso tudo quer dizer que o setor recuperou apenas parcialmente as perdas que teve com a pandemia. Entre março e abril, a retração na produção industrial chegou a 26%. Em maio, houve alta de 7%. O crescimento de junho será o segundo consecutivo.
Dados positivos apenas atenuam a grande crise vivida no país e no mundo. Mais do que a coleção de números de cada semana, o fundamental é que o Brasil e o mundo ainda vivem os rigores de uma pandemia e a enorme incerteza que isso traz. A economia mundial está superando seu pior momento, mas não se sabe quando voltará a ser o que era antes da pandemia. Na Europa, países industriais como a Alemanha estão melhores do que os que são mais dependentes do turismo, como França, Espanha e Itália. A recuperação por lá está sendo assimétrica. Os Estados Unidos estão discutindo um novo socorro de um trilhão de dólares, no meio da polarização do processo eleitoral no qual o presidente Trump, em queda nas pesquisas, cria conflitos para ver se melhora nas intenções de voto.
Paulo Hartung: Visões, possibilidades e tendências do pós-pandemia
Mostra-se plausível que o trio saúde, sanidade e sustentabilidade se estabeleça de vez
O amanhã sempre ocupa a mente humana, ainda mais em tempos de crises angustiantes e desestabilizadoras. Nesse sentido, mesmo que ainda envolvidos numa longa travessia dramática, o cenário atual da pandemia pauta cada vez mais os nossos olhares e pensamentos para o que virá.
O nevoeiro das dúvidas ainda é denso, mas pelo que já se vivia antes da covid-19, e também em função dos comportamentos que estamos experimentando ou incrementando neste momento absolutamente desafiante, já se pode vislumbrar um quadro de possibilidades e tendências para o pós-crise.
A pandemia acabou por evidenciar nossas mazelas e fragilidades socioeconômicas, adicionando ainda mais dor e desamparo a este tempo horrendo. Assim, mais que uma tendência, as reformas estruturantes colocam-se como um dever de casa cívico e institucional do qual não podemos abrir mão se quisermos constituir um Brasil verdadeiramente civilizado.
O Estado precisa se digitalizar, modernizar seu arcabouço legal e se libertar do sequestro secular operado por grupos de interesse instalados dentro e ao redor das máquinas governativas. É urgente melhorar o sistema tributário, atualmente um obstáculo ao crescimento do País.
A educação básica demanda um esforço prioritário de qualificação do processo de ensino-aprendizagem, fundamental para promover a autonomia cidadã e tornar viável a inclusão produtiva. Ciência e tecnologia devem ser vistas como uma fronteira para avançarmos rumo um desenvolvimento amplo e consistente.
A corrosão da globalização, patrocinada por populistas de diferentes estaturas, ganhou novos fatos e argumentos. Para uns, a crise expôs a vulnerabilidade do modelo, principalmente a interdependência das cadeias produtivas e a divisão internacional do trabalho segmentado. O fechamento de fronteiras e a “guerra” entre países por insumos e equipamentos para enfrentar a pandemia adicionaram calor às discussões.
Mas fatos da geopolítica abalam qualquer certeza sobre o enfraquecimento da globalização. O acordo de recuperação econômica da União Europeia reforça parâmetros de integração, assim como as parcerias globais que se firmam para a vacina contra o novo coronavírus.
E temos ainda a disputa eleitoral nos Estados Unidos, que contrapõe projetos antagônicos quanto a temas cruciais – clima, sustentabilidade, acordos comerciais etc. –, estando na dianteira Joe Biden, defensor de soluções articuladas planetariamente. Ou seja, sobre a globalização, a tendência é o acirramento dos debates acerca de seus fundamentos e alcance.
O eco planetário de acontecimentos locais, regionais e nacionais ganhou vigor extraordinário e a pandemia amplifica a agenda do respeito às diferenças e da busca da igualdade social.
A digitalização da vida expandiu-se de modo inédito, colocando-se como alternativa de conexões as mais diversas. Tornou-se importante para questões que vão do universo das afetividades, passando por soluções comerciais, até a viabilização do trabalho remoto nos mais variados segmentos. A digitalidade cria efeito em cadeia em outros segmentos, como o mercado imobiliário, afetando desde o desenho dos centros urbanos, passando por questões de mobilidade, até o design das residências, que estão virando o local de trabalho.
Mostra-se plausível que o trio saúde, sanidade e sustentabilidade se estabeleça de vez. O interesse por processos sustentáveis, que põe os olhos do mundo sobre a tragédia amazônica, por exemplo, deve firmar parceria com outros fatores de vida saudável, como cuidados com a saúde física e emocional e preocupações com questões sanitárias, especialmente a conexão entre zoonoses e segurança alimentar.
As múltiplas carências do País, que já havia entrado na pandemia com fragilidades, ensejaram a dinamização da sociedade civil, fenômeno que se deve consolidar. Um exemplo é o movimento de líderes empresariais, investidores e grupos econômicos junto ao governo em defesa da Amazônia.
A humanidade ocupa-se de pensar o amanhã não por mero exercício de futurologia, mas porque, como observa Santo Agostinho, o futuro – “a esperança presente das coisas futuras” – é uma das marcas cruciais do presente, a única dimensão temporal que verdadeiramente usufruímos para existir.
Além das expectativas do hoje, inspiram o olhar em perspectiva “a lembrança presente das coisas passadas e a visão presente das coisas presentes”. É assim, pois, que seguimos, com a colheita de impressões fortes do que se passou e se passa, a pensar os dias que virão. Afinal, o futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas o que estamos construindo hoje, em memórias, sonhos, desejos, palavras, projetos e ações.
*Economista, presidente executivo da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), membro do Conselho do Todos pela Educação, foi governador do Estado do Espírito Santo (2003-2010 e 2015-2018)
Pablo Ortellado: Politização da vacina pode comprometer imunização
Pesquisas têm mostrado correlação entre posicionamento político e disposição a tomar vacina contra Covid
Se tudo der certo, entre dezembro e janeiro, o Brasil poderá começar a imunizar a população, seja com a vacina de Oxford e da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, seja com a vacina da Sinovac, em parceria com o Instituto Butantã.
Para que as vacinas nos tirem da crise, porém, não será necessário apenas que elas se mostrem eficazes na terceira fase dos testes clínicos, será necessário também que uma população politicamente polarizada se disponha a ser vacinada.
Depois de meses de uma extenuante política de distanciamento social, seria de se esperar uma população ansiosa para se vacinar e retomar a normalidade. Mas não é isso o que mostram estudos em diferentes países.
Uma pesquisa coordenada pela Universidade de Hamburgo mostrou que a disposição a se vacinar contra a Covid na Alemanha caiu de 70% em abril para 61% em junho (com um preocupante índice de 52% na região da Bavária). Nos Estados Unidos, pesquisa do YouGov realizada em julho mostrou que 25% dos americanos não tomariam a vacina e 28% não tinham certeza se tomariam.
Um elemento particularmente preocupante das pesquisas é como a disposição a se vacinar contra a Covid correlaciona com posições políticas. Na pesquisa do YouGov, eleitores democratas são mais propensos a se vacinar (61%) do que republicanos (45%). O índice baixa para 34% entre os que pretendem votar em Donald Trump.
A contaminação política funciona também no sentido oposto: pesquisa da Reuters/ Ipsos de maio mostrou que 36% dos americanos tenderiam a não se vacinar se a vacina fosse recomendada pelo presidente Trump.
Não temos ainda pesquisas no Brasil medindo a disposição a se vacinar contra a Covid e correlacionando essa disposição com posicionamento político e crença em boatos —mas está na hora de investigar o problema, já que há risco concreto de uma baixa adesão à vacina comprometer uma saída segura da quarentena.
Nas mídias sociais e no WhatsApp, há algumas semanas circula desinformação sobre as vacinas para a Covid com forte teor político. Boa parte desses boatos e rumores mentirosos se apoia na postura antichinesa que o bolsonarismo tem adotado.
Se a vacina desenvolvida pela Sinovac vingar, poderemos ver uma intensificação das campanhas de desinformação promovidas pelo bolsonarismo que antagoniza tanto com a China, como com o governador João Doria, responsável pelo Instituto Butantã.
Em termos muito concretos: pode ser que não cheguemos à imunidade de rebanho com uma campanha de vacinação que tenha vacina com eficácia de 75% e adesão de apenas 60% da população.
*Pablo Ortellado, professor do curso de gestão de políticas públicas da USP, é doutor em filosofia.
José Casado: O pandemônio é de Bolsonaro
Presidente finge que não é com ele
Na terça-feira 18 de junho do ano passado, Jair Bolsonaro pediu ao ministro Luiz Henrique Mandetta “a cabeça” de “esquerdistas” do Ministério da Saúde. À tarde, o deputado Helio Lopes (PSL-RJ) entregou a Mandetta a lista de “suspeitos”. Foi a primeira intervenção presidencial direta na gestão da Saúde.
Nove meses depois, quando o Brasil contava duas centenas de mortos, o ministério havia estabelecido com estados e municípios uma coordenação sobre a pandemia. Mas Bolsonaro decidiu intervir na Saúde.
Na segunda-feira 16 de março, decretou todo o poder à Casa Civil da Presidência na definição das “prioridades” contra o vírus. Nomeou 27 pessoas — ministros (20), presidentes de bancos públicos (4), especialistas da Saúde (2) e advogado (1).
O “Comitê de Crise” do Planalto completará cinco meses na próxima semana, com o país ultrapassando 100 mil mortos num quadro de descontrole da doença. É impossível saber quantas mortes seriam evitáveis. É certo, no entanto, que dois ministros e 80 dias depois de um general no papel de interino, a intervenção de Bolsonaro na Saúde resultou na perda de comando da crise. É evidente a calamidade gerencial no governo.
Não falta dinheiro. Ministério Público e Tribunal de Contas tentam desvendar mistérios em torno de despesas (R$ 912 milhões) em aventais, toucas e álcool em gel, ou em “atendimento pré-clínico remoto” (R$ 144 milhões).
Há meses pedem explicações sobre a lentidão nos repasses federais (R$ 13,8 bilhões) aos estados e municípios. Também não conseguem entender por que o Rio, com alta taxa de mortalidade, tem recebido menos recursos per capita (R$ 30) do que Roraima (R$ 108,39).
Bolsonaro finge que não é com ele, repassa a culpa a governadores e prefeitos e segue na campanha pela reeleição. Mas o funesto pandemônio governamental na pandemia tem suas digitais na autoria, além da assinatura estampada no Diário Oficial.
Hélio Schwartsman: A catástrofe
Obras como a de Richard Horton é com o que de melhor podemos contar na pandemia
Richard Horton é o editor-chefe do periódico médico britânico “The Lancet”, no qual foram publicados alguns dos mais importantes estudos sobre a Covid-19. Se há alguém que acompanhou de perto e em detalhe o surgimento e a evolução da pandemia, é ele. É dessa posição privilegiada que ele escreveu “The Covid-19 Catastrophe”, um dos primeiros “instant books” sobre a epidemia.
A principal vantagem desse tipo de obra é que ajuda a organizar o caos. Se o jornalismo é o primeiro rascunho da história, os “instant books” são sua versão ampliada e passada a limpo. Oferecem um relato mais ordenado e holístico de eventos ainda em andamento.
Para Horton, o mundo falhou, daí o termo “catástrofe” que consta do título do livro. Os riscos de uma pandemia viral são conhecidos pelo menos desde os anos 80, com a eclosão da Aids. Ainda assim, fizemos pouco para aprimorar a vigilância epidemiológica, que, para funcionar, precisa ser uma iniciativa global e não de nações isoladas.
E, se o mundo inteiro errou, o fracasso é ainda mais vexaminoso para alguns países ricos, normalmente funcionais e cientificamente avançados, como os EUA e o Reino Unido. Eles tiveram o privilégio de observar antes o que aconteceu na China e em algumas regiões da Europa e, ainda assim, preferiram não acreditar no que estava por vir e não se prepararam adequadamente para enfrentar a doença.
Horton tenta encontrar as razões para tantas falhas e apontar caminhos para melhorarmos. Nada de revolucionário, apenas mudanças de bom senso.
O ponto fraco de livros instantâneos reside justamente no fato de que os acontecimentos ainda estão em curso. Horton entregou os originais no fim de maio e há coisas no livro que já ficaram velhas. Seja como for, até que a Covid-19 se torne oficialmente um evento pretérito e objeto de estudo de historiadores, obras como a de Horton é com o que de melhor podemos contar.
Merval Pereira: Organizando a bagunça
A quarentena, período em que ocupante de um cargo público fica impedido de empregar-se no setor privado para não utilizar informações privilegiadas a que tenha tido acesso durante seu período no governo, é uma figura nova na legislação brasileira, e, assim como se origina na concepção médica de isolamento para evitar o contágio de uma doença - como no nosso caso agora, com a pandemia da Covid-19 -, tem acepção mais ampla que começa a ser debatida à medida que os fatos políticos vão se desenrolando.
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, defendeu recentemente uma quarentena de 8 anos para que um membro do Ministério Público ou juízes possam entrar na carreira política. O prazo hoje é de seis meses, o que parece muito pouco mesmo, mas 8 anos é a mesma pena da Lei de Ficha Limpa, que torna inelegível por esse período o político punido.
A proposta surge justamente no momento em que a Operação Lava-Jato vem sendo criticada com mais veemência, e diversos setores da vida nacional se mobilizam para inviabiliza-la. Embora a retroatividade de uma eventual medida não seja razoável nem juridicamente aceitável, os meios políticos identificam no ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro o objeto dessa quarentena, que também impediria que procuradores mais notórios da Lava-Jato possam eventualmente se candidatar em 2022.
A retroatividade poderia, temem alguns, ser aplicável caso a mesma interpretação da Lei de Ficha Limpa dada pelo STF, que atingiu todos os políticos já condenados em segunda instância no momento de sua decretação, seja adotada agora, como regra para o registro de uma candidatura.
Há também propostas de quarentena para indicações para o Supremo Tribunal Federal (STF). Ministros da Advocacia-Geral da União (AGU) ou o Procurador-Geral da República não poderiam ser indicados para uma vaga no Supremo saindo diretamente de um desses cargos. O caso do Procurador-Geral Augusto Aras é exemplar dessa inadequação, pois ele vem , aos olhos de seus próprios pares no Ministério Público, exercendo o cargo não como representante da classe, mas como candidato à vaga do ministro Celso de Mello, que se aposenta compulsoriamente em novembro. O bate-boca que teve com colegas na recente reunião do Conselho Superior do MPF, inclusive destratando a subprocuradora-geral Luiza Fricheisein com comentários considerados machistas, é o sinal de que aumenta a cada dia o distanciamento entre Aras e os membros do Ministério Público Federal.
Assim, como aponta Toffoli, juízes devem cumprir uma quarenta longa para não usarem seus cargos para fazerem favores ou tornarem-se famosos diante de possíveis eleitores, também os titulares da AGU, como foi Toffoli no governo do PT, e da PGR não deveriam usar os cargos para agradar o presidente do momento para conseguir um assento no Supremo.
O debate sobre a presença dos militares, da ativa e da reserva, no governo do presidente Bolsonaro abrange um outro tipo de “quarentena”. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já se posicionou a favor de uma legislação que exija que os militares que queiram participar de um governo vão para a reserva antes de assumir cargos, especialmente os de cunho político como ministro de Estado.
Essa é uma abordagem específica de uma questão mais global, que é o uso excessivo de militares em postos da administração federal, tendo mais que dobrado esse número em relação a governos anteriores.
Outra questão relacionada à separação de Poderes no presidencialismo é o hábito brasileiro de parlamentares nos diversos níveis de governo fazerem parte do Executivo, com a possibilidade de pedirem licença dos cargos para os quais foram eleitos para exercerem funções como secretários municipais e estaduais ou ministros.
No presidencialismo puro como nos Estados Unidos, um parlamentar tem que renunciar a seu mandato para aceitar ser ministro no Governo Federal ou nos executivos estaduais ou municipais. Isso porque o Legislativo é um Poder igual ao Executivo e ao Judiciário, não havendo razão para esse intercâmbio de funções, inclusive com o nomeado podendo escolher a remuneração de parlamentar ou da função para a qual foi nomeado.
Essa medida evitaria também que o presidencialismo de coalizão seja deturpado pelo famoso toma-lá-dá-cá. A coalizão se daria em torno de conceitos de programas e projetos. Evidentemente que outro tipo regime, como o parlamentarismo, implica outra concepção. Nele, para ser ministro de Estado é preciso ser parlamentar, são os partidos majoritários e suas coligações que formam o governo.
Juan Arias: Em carta ainda inédita, bispos do Brasil se declaram estarrecidos com a política suicida de Bolsonaro
Bispos afirmam que até a religião é usada neste momento “para manipular sentimentos e crenças, provocar divisões, difundir o ódio, criar tensões entre igrejas e seus líderes”
No Brasil, o país com o maior número de católicos no mundo, 152 bispos assinaram uma carta dura, ainda não divulgada, contra o Governo e seu presidente, Jair Bolsonaro, na qual afirmam que o país “passa por um dos momentos mais difíceis de sua história”, que eles definem como” tempestade perfeita”, já que une, de acordo com os bispos, “a crise sem precedentes na saúde ao avassalador colapso da economia”.
A carta dos bispos aos católicos brasileiros é uma condenação dura e contundente da atual política bolsonarista. É especialmente importante pela dureza das acusações, pelo uso de uma linguagem sem a clássica diplomacia da Igreja e por ser assinada também pelo cardeal Claudio Hummes, um dos maiores amigos do papa Francisco e que, portanto, nunca teria firmado tal documento sem a sua aprovação prévia.
Foi o pontífice argentino quem revelou que havia escolhido como papa o nome de Francisco, para lembrar São Francisco de Assis, porque o cardeal brasileiro, no momento em que conquistou a maioria dos votos no Conclave, o abraçou e lhe pediu: “Nunca se esqueça dos pobres”. O cardeal Hummes é prefeito emérito do Dicastério da Cúria Romana para o Clero, onde esteve à frente até 2010 como responsável pelo cuidado de todos os sacerdotes do mundo.
Existem hoje na Igreja Católica poucos documentos tão duros contra um Governo, e menos ainda como o de Bolsonaro, cujo presidente se declara católico praticante e conservador. Estamos acostumados, no máximo, a condenações por parte da Igreja Católica de Governos de cunho comunista ou simplesmente da esquerda, dificilmente de conservadores e de direita, os quais, pelo contrário, a Igreja sempre encheu de elogios e privilégios, como fez na Espanha com o ditador general Franco ou no Chile com Augusto Pinochet. Ainda me lembro da visita do Papa João Paulo II ao Chile, sua familiaridade e simpatia no trato com o ditador dentro do palácio presidencial. No Brasil, nem nos tempos da ditadura militar foram publicados documentos tão fortes da Igreja como o atual dos 152 bispos contra Bolsonaro.
Sempre se dizia que na Igreja Católica duas instituições eram as melhores do mundo: seus serviços secretos e sua diplomacia. E essa diplomacia sempre foi proverbial em documentos endereçados a Governos e governantes. Desta vez, porém, os bispos brasileiros usaram uma linguagem contundente, dura, de aberta condenação contra o Governo e o presidente. Basta este parágrafo da carta para julgar a força de condenação que os bispos quiseram dar a seu documento:
“O desprezo pela educação, cultura, saúde e pela diplomacia também nos estarrece. Esse desprezo é visível nas demonstrações de raiva pela educação pública; no apelo a ideias obscurantistas; na escolha da educação como inimiga; nos sucessivos e grosseiros erros na escolha dos ministros da educação e do meio ambiente e do secretário da cultura; no desconhecimento e depreciação de processos pedagógicos e de importantes pensadores do Brasil; na repugnância pela consciência crítica e pela liberdade de pensamento e de imprensa (...).” E continua: “na indiferença pelo fato de o Brasil ocupar um dos primeiros lugares em número de infectados e mortos pela pandemia sem, sequer, ter um ministro titular no Ministério da Saúde.”
Segundo os bispos, até a religião é usada neste momento no Brasil “para manipular sentimentos e crenças, provocar divisões, difundir o ódio, criar tensões entre igrejas e seus líderes”. E eles acabam recordando as enigmáticas palavras do apóstolo Paulo quando alerta em sua Epístola aos Romanos que “a noite vai avançada e o dia se aproxima; rejeitemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz” (Rm 13,12).
No documento, os bispos condenam abertamente o atual Governo e a política totalitária do presidente Bolsonaro. Dizem, sem rodeios: “Analisando o cenário político, sem paixões, percebemos claramente a incapacidade e inabilidade do Governo Federal em enfrentar essas crises”. E os bispos lançam uma condenação taxativa quando afirmam que o atual Governo “não coloca no centro a pessoa humana e o bem de todos”, mas, ao contrário, “a defesa intransigente dos interesses de uma economia que mata, centrada no mercado e no lucro a qualquer preço”. Vocábulos como “desprezo”, “raiva”, “grosseiro” e “repugnância” nunca tinham sido vistos em um documento importante como este firmado por 152 bispos católicos. Lembro-me de que, quando era correspondente deste jornal no Vaticano, um bispo da Cúria Romana me mostrou um pequeno dicionário de palavras “fortes” que nunca deveriam ser usadas em documentos assinados pela hierarquia da Igreja, nem sequer pelo Papa.
Citando o papa Francisco em relação à crise do meio ambiente, com a guerra contra a Amazônia e o massacre dos indígenas, os bispos recordaram suas palavras quando escreveu por ocasião do Dia do Meio Ambiente: “Não podemos pretender ser saudáveis num mundo que está doente. As feridas causadas à nossa mãe terra sangram também a nós”.
Agora, Bolsonaro e seu Governo sabem que, além do clamor majoritário do Brasil contra os crimes cometidos por ele e por seu Governo contra todas as minorias, somado ao desastre na questão da pandemia e da educação, terá que enfrentar esta condenação da Igreja Católica, a maior confissão religiosa do mundo e deste país. Bolsonaro sabe que não se trata de um inimigo fácil, pois conta com 1,31 bilhão de seguidores no mundo, dos quais 110 milhões apenas no Brasil. Não é um exército pequeno. E é forte por estar desarmado, ou melhor, armado apenas com a força da fé.