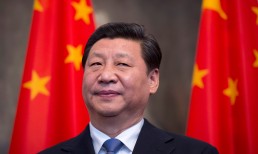O Estado de S. Paulo
Luciano Huck & Michael Sandel: 'Precisamos repensar nossa sociedade para reconstruir um senso de solidariedade'
Filósofo americano defende que a pandemia oferece a chance para se planejar um acesso social igualitário
Texto: Luciano Huck / Foto: Rafael Haddad
Conheci Hellena Mary há 3 anos. Moradora da área rural de Orobo, cidade próxima a Bom Jardim, Pernambuco, mãe de 3 filhos, ela trabalhava como cozinheira em uma casa de família quando eu recebi pelo celular um videoselfie em que ela discutia e questionava o “jeitinho brasileiro”: “O problema está em todos nós como povo, porque a gente pertence a um país onde a esperteza é a moeda que é sempre valorizada. Um país onde a gente se sente o máximo porque consegue puxar a TV a cabo do vizinho. A gente frauda a declaração do Imposto de Renda para pagar menos. Onde há pouco interesse pela ecologia, onde as pessoas atiram lixo na rua e depois reclamam da prefeitura que não limpa os bueiros. Camarada bebe e vai dirigir. Pega um atestado que está doente só para faltar ao trabalho. Viaja a serviço da empresa e o que faz? Se o almoço foi R$ 10, ele pega a nota de R$ 20. Entra no ônibus e senta e, se tem um idoso vindo, finge que está dormindo. E quer que o político seja honesto? O brasileiro está reclamando do quê? Como matéria-prima deste país, temos muito coisa boa. Mas falta muito para a gente ser o homem e a mulher de que nosso país precisam. Antes de culpar alguém, a gente tem que fazer uma auto-reflexão”. Dessa maneira muito franca e intuitiva, Hellen Mary discutia ética e fazia uma provocação tão incômoda quanto necessária.
A milhares de quilômetros dali, em Massachusetts (EUA), um norte-americano ministrava naquele ano um dos cursos mais notórios e concorridos da Universidade de Harvard. Batizado de “Justice”, o curso tinha como tema central reflexões sobre ética. O professor, Michael Sandel, é um dos filósofos mais respeitados da atualidade. A forma como pensa e como leciona fez dele uma celebridade planetária. Já falou para estádios com mais de 10 mil pessoas no Japão e foi eleito pela China Newsweek a “personalidade estrangeira mais influente” de 2011. Seu livro Justice virou best-seller traduzido em dezenas de línguas.
Ao longo da vida, sempre gostei de conectar, construir conexões improváveis. E foi assim que, naquele 2016, eu procurei o professor Sandel. Para minha surpresa, ele topou vir ao Brasil para discutir ética e o “jeitinho brasileiro”. Foi antológico o encontro dele com a cozinheira pernambucana no programa que eu apresento, o Caldeirão.
Em meio à pandemia, em isolamento voluntário, li que Sandel está lançando um novo livro, The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good? (na tradução literal: “A Tirania do Mérito: O Que Aconteceu com o Bem Comum?”.) Na obra, o professor argumenta que, para superar as crises que estão agitando o mundo, precisamos repensar as atitudes em relação ao sucesso e ao fracasso que acompanharam a globalização e a crescente desigualdade. Sandel mostra a arrogância que uma meritocracia gera entre os vencedores, detalha o julgamento severo que impõe sobre os que foram deixados para trás e traça as terríveis conseqüências disso sobre boa parte da sociedade. O filósofo oferece uma maneira alternativa de pensar sobre o sucesso. Mais atento ao papel da sorte nos assuntos humanos, mais propício a uma ética de humildade e solidariedade e mais afirmativo a dignidade do trabalho, ele aponta para uma visão mais esperançosa de uma nova política do bem comum.
Na última terça-feira, isolado em sua casa próxima a Boston, Sandel topou uma nova conversa, sobre os conceitos do livro e sobre o impacto da crise do covid-19 sobre uma sociedade já demasiadamente desigual.
Em tempo: depois daquele encontro de 2016, Hellena Mary perdeu o emprego de cozinheira. Como milhões de brasileiros, ela não esmoreceu e resolveu empreender. Abriu um ateliê de costura na mesma cidade. Como milhões de brasileiros também, ela acaba de sofrer um baque com a pandemia. O coronavírus forçou-a a fechar o negócio e a ficar em casa com as crianças. Espera conseguir sobreviver com o auxílio emergencial do governo de R$ 1.200 até a vida voltar ao “normal”.
Luciano Huck: Seu livro Justiça e seu curso em Harvard discutem dilemas éticos que enfrentamos e deveremos enfrentar na sociedade moderna, com provocações bastante interessantes. Em um dos exemplos hipotéticos, você fala da programação de carros autônomos e da necessidade de definir a reação do veículo a uma situação de trânsito onde restam apenas duas opções de condução: uma atropelaria um grupo de crianças e a outra provavelmente mataria o condutor. Essa pandemia está criando novos e enormes conflitos éticos. Como no sistema de saúde de países que perderam o controle da pandemia, em que médicos estão tendo que tomar decisões sobre quem vive e quem morre. A Itália e a Espanha estão enfrentando esse dilema médico e abertamente optaram por usar a idade cronológica como critério, priorizando também aqueles que têm melhores chances de recuperação. Além disso, a mulher casada e com filhos pequenos deve ter prioridade sobre a viúva com filhos adultos? Suas analogias teóricas se tornaram realidade em nossas vidas diárias. Como você vê isso?
Michael Sandel: A atual crise tornou real e urgente alguns dos dilemas éticos que discuti no livro. Um deles tem a ver com o acesso aos ventiladores pulmonares nos hospitais. Assim como você mencionou, na Itália e em outros lugares, médicos e hospitais tiveram que fazer escolhas morais contundentes quando havia mais pacientes precisando desesperadamente dos ventiladores pulmonares do que ventiladores disponíveis. Portanto a pergunta é: você deve dar prioridade à primeira pessoa que chegar ou deve dar prioridade à pessoa com maior probabilidade de sobreviver? E a questão da idade? Alguém mais jovem e com mais anos pela frente deve ter prioridade? E, para uma pessoa idosa, é justo decidir com base na idade? E depois há a questão da contribuição para a sociedade. Suponha que médicos e enfermeiras que estão trabalhando tão duro para tentar salvar as pessoas e cuidar delas tenham prioridade caso adoeçam. Alguns argumentam que eles devem poder ir para a frente da fila porque, se puderem ser salvos, poderão ajudar a salvar os outros. Esses foram os dilemas que debatemos na sala de aula e que eu já havia discutido no meu livro Justiça, como exemplos hipotéticos. Mas a pandemia tornou esses dilemas éticos realidade.
Vou dar outro exemplo no qual nos deparamos com um tipo semelhante de dilema: quando, e em que circunstâncias, devemos enviar as pessoas de volta ao trabalho para que a economia possa começar a se mover novamente. Há grandes debates sobre isso agora em muitos países. Devemos estar dispostos a sacrificar um certo número de vidas para que possamos retomar a economia? Se sim, isso significa que estamos colocando um valor monetário na vida? Eu acho que temos que agir com muito cuidado na reabertura da economia para garantir que tenhamos testes suficientes para o vírus, para que não fiquemos em uma posição em que, em prol da reabertura da economia, estaremos sacrificando vidas. E é claro que as vidas que serão sacrificadas primeiro provavelmente serão as vidas das pessoas pobres que são forçadas a voltar ao trabalho, que não têm o luxo daqueles que podem ficar em casa e trabalhar remotamente. Acho que devemos ter em mente como a questão da desigualdade incide nessa escolha, porque, de certa forma, os trabalhadores dos quais dependemos mais imediatamente hoje, os que são mais essenciais, geralmente são pessoas que não recebem muito dinheiro e que, em circunstâncias normais, não recebem nem sequer muito reconhecimento.
Luciano Huck: Estivemos juntos no Brasil três anos atrás. Você visitou favelas e também frequentou os circuitos mais abastados. Você viu de perto nossa realidade. O Brasil é um dos países com a maior taxa de desigualdade sócio-econômica do planeta e aqui, mas não só aqui, estamos passando pela pandemia com flertes abertos com o autoritarismo. Você vê a democracia em risco?
Michael Sandel: Sim, acho que são tempos muito perigosos para a democracia. Vimos isso antes mesmo da pandemia, quando muitas pessoas, frustradas com a política comum e a corrupção, estavam se voltando para figuras populistas. Havia uma espécie de reação contra décadas nas quais quase todos os ganhos econômicos ficaram com o topo (da pirâmide) e a pessoa de classe média não se beneficiou muito. Isso certamente foi verdade nos EUA nos últimos 40 anos. Assim, houve o fortalecimento de figuras populistas hiper nacionalistas que prometeram dar voz às frustrações, à raiva e ao ressentimento. E essa raiva e ressentimento eram compreensíveis. Mas os candidatos que foram eleitos a partir disso estão agora governando no meio de uma crise para a qual estão mal preparados. E, portanto, acho que, devido ao aprofundamento da desigualdade, agora agravada por essa enorme crise de saúde pública, as tensões no sistema e os danos da desigualdade estão sendo escancarados e seu efeito é aumentado. Vemos o que já estava lá, mas de uma maneira ainda mais perigosa. E, portanto, acho que devemos ter muito cuidado com a tendência a políticas e soluções autoritárias para as frustrações que as pessoas sentem. Penso que os principais partidos partilham a culpa por criar as circunstâncias que levaram os eleitores a abraçarem figuras autoritárias perigosas que agora, infelizmente, têm a responsabilidade de lidar com esta crise.
Luciano Huck: Estamos experimentando algo muito único que só acontece em guerras. Decisões que normalmente teriam levados meses, anos ou décadas para se tornar realidade estão levando dias ou semanas. E acho que, antes da pandemia, como você disse, já estávamos vivendo tempos estranhos, com a ascensão de líderes autoritários com forte tendências antidemocráticas, negacionistas, populistas e etc. e ondas de manifestações de massa expressando descontentamento com a política e com as lideranças sociais e econômicas, principalmente na América Latina e na Europa nos últimos anos. Então, para ir um pouco mais fundo nisso, qual o efeito da pandemia nessa relação descontente entre sociedade e política?
Michael Sandel: Estávamos experimentando, mesmo antes da pandemia, a perda da solidariedade. E, agora que a pandemia chegou, vemos que somos todos mutuamente dependentes. Nós somos contagiosos um para o outro. Em meio a crise, ouvimos muitos políticos com o mesmo slogan: "Estamos todos juntos nisso". De certa forma, é um slogan inspirador, porque a crise revela nossas vulnerabilidades compartilhadas ou dependência mútua. Mas, por outro lado, o slogan "Estamos todos juntos nisso" soa vazio porque ele se insere no contexto de profundas desigualdades. Não é verdade que todos estamos nos sacrificando na mesma medida. Alguns de nós podem trabalhar em casa. Outros estão em contato físico uns com os outros, precisam disso para sobreviver economicamente e são expostos de forma mais direta e imediata ao risco. Precisamos tentar usar esta ocasião para repensar nossas sociedades e nossas economias para reconstruir um senso de genuína solidariedade, para que as vozes autoritárias não sejam as únicas que expressam o sentimento de raiva, ressentimento e frustração. As vozes mais responsáveis precisam encontrar uma maneira de lidar com essas profundas desigualdades para que possamos realmente dizer, e acreditar, que “Estamos todos juntos nisso".
Luciano Huck: Nos últimos anos, tenho ampliado minhas áreas de interesse em políticas públicas e venho garimpando boas idéias em todo o país para questões que considero necessárias. E pude constatar que, em alguns temas de grande importância, como educação, segurança pública ou as reformas do Estado, a sociedade civil e o poder público já produziram muitas propostas e projetos de qualidade. Mas que em outros, como a situação das favelas, não é trivial encontrar caminhos prontos e consistentes para apontar soluções. E eu acredito que estamos correndo o risco de esta pandemia ampliar ainda mais o fosso da desigualdade no Brasil. No caso da educação, por exemplo, para mim a ferramenta mais poderosa para gerar oportunidades e mobilidade social, a pandemia tende a acentuar a diferença entre escolas públicas e privadas. Embora quase todos os estudantes no Brasil tenham um telefone celular, o nosso sistema de ensino público continua analógico. Além disso, provavelmente teremos um enorme problema de evasão escolar. Isso já é historicamente um problema no Brasil após as férias escolares, então imagine ao voltar depois de uma crise de saúde que gerou um isolamento de meses. E, mais do que isso, haverá uma enorme pressão familiar para que os jovens contribuam de alguma forma para a renda familiar, fortemente afetada pelo desemprego. O que você acha disso, sobre educação, acesso e desigualdades?
Michael Sandel: Acho que você está certo de como essa pandemia poderá exacerbar as desigualdades, incluindo as desigualdades educacionais. Mas ela também oferece uma oportunidade para repensarmos o acesso à educação, à saúde e ao apoio à renda. Às vezes, grandes crises nacionais e globais podem ser ocasiões para uma espécie de renovação moral e cívica. E acho que é disso que precisamos. Penso que o nosso desafio não é apenas um desafio de saúde pública. Acho que é um desafio ético e moral. Lembro que você mencionou as favelas, onde é muito difícil manter o distanciamento social, dada a proximidade em que as pessoas vivem. Quando visitei seu programa de TV, Luciano, e conversamos sobre o "jeitinho brasileiro", uma das coisas mais marcantes da discussão é que tínhamos pessoas de todas as origens sociais e econômicas. Havia advogados e professores, cozinheiros e faxineiros, todos discutindo juntos. E, quando visitamos uma favela e conversamos com alguns jovens, uma discussão informal, sobre justiça e violência, e sobre o que cidadania realmente significa, o que me impressionou é que as pessoas não precisam apenas de ajuda educacional, econômica e de saúde, mas também precisam e querem ter uma voz e poder sentir que suas vozes são ouvidas. Um dos maiores desafios e oportunidades que temos é encontrar maneiras de criar um diálogo civil, discussões e debates sobre como alcançar algumas dessas reformas em educação e saúde e apoio à renda e lidar com problemas de violência, que incluem as vozes de todos. Seu programa, com a presença de pessoas de todas essas origens, é um exemplo do tipo de discussão que precisamos regularmente, porque isso contribui para um tipo saudável de democracia. Isso é realmente o que significa democracia. Não apenas votar a cada eleição, mas também deliberando entre si através de linhas de classe, raça, etnia e formação econômica. Sobre o bem comum. E é nisso que não somos muito bons hoje em dia. Bem, você faz um trabalho maravilhoso nisso, mas precisamos espalhar mais disso por toda a nossa sociedade.
Luciano Huck: Quando você diz dar “voz ao povo”, a primeira imagem que me veio à mente é sobre as oportunidades de educação e mobilidade social. No seu novo livro A Tirania do Mérito, que será lançado em setembro, você argumenta que, para superar as crises que estão prejudicando nosso mundo, devemos repensar as nossas atitudes em relação ao sucesso e ao fracasso. Você pode detalhar essa sua opinião?
Michael Sandel: Penso que, se olharmos ao longo das últimas décadas da globalização, tem sido uma globalização muito orientada para o mercado. Isso criou vastas desigualdades. Mas esse não é o único problema. Não é apenas o fato de que a maioria dos benefícios foi para aqueles que estão no topo. As atitudes que temos em relação ao sucesso são tais que aqueles que chegam ao topo acreditam que o fizeram por conta própria e que não estão em dívida com mais ninguém. Eles, portanto, sentem que merecem. E quanto àqueles que não tiveram as mesmas oportunidades, como uma educação universitária, e que não atingiram o sucesso, nós dizemos que eles não se empenharam o suficiente e não fizeram por merecer algo melhor. Então acho que precisamos questionar essa forma de pensar. O que tentei fazer no meu novo livro é questionar a arrogância dos bem-sucedidos que acreditam: “Eu sou bem-sucedido porque consegui meu sucesso pelo meu esforço e, portanto, eu não tenho senso de obrigação para com os menos afortunados que eu”. Visto que, se eu tiver uma percepção mais apurada, posso ressignificar o sucesso: “Trabalhei duro e também tive muita sorte: uma família que me apoiou, os professores que me ensinaram, as oportunidades educacionais que tive, a sociedade em que eu cresci. Portanto, devo aos meus concidadãos certas obrigações. Não é só meu trabalho”. Este é o tipo de orientação que estou tentando argumentar, um maior senso de solidariedade no bem comum, decorrente de uma consciência maior daqueles que tiveram a sorte de não o terem feito sozinhos. Há a frase: "lá, exceto pela graça de Deus ou pelo acidente da Fortuna, eu vou". Se tivermos um senso mais agudo da sorte, um senso mais aguçado de graça, mesmo para alcançar o que alcançamos, acho que estaremos mais conscientes em relação às nossas obrigações para com aqueles que não chegaram ao topo, mas que merecem as mesmas oportunidades, respeito e reconhecimento social. Portanto, é uma mudança moral e também uma questão de reorganizar a economia. É uma questão de como encaramos nosso sucesso e nossos relacionamentos um com o outro.
Luciano Huck: As empresas mais admiradas ou as mais bem-sucedidas da últimas décadas foram aquelas que tiveram a capacidade de se mostrarem mais eficientes, com culturas internas ancoradas na meritocracia. Você está colocando a questão da meritocracia na vanguarda de outra discussão. No Brasil, é muito difícil discutir esse tópico, porque os pontos de partida aqui não são iguais. Aqui vivemos uma espécie de loteria do código postal, em que o lugar em que você nasceu praticamente determina onde você vai viver e morrer. A mobilidade social no Brasil é praticamente inexistente. Estudos mostram que, se você nasce em uma família pobre, para atingir a média da classe média são necessárias nove gerações. Uma tragédia. A pandemia aumenta ainda mais essa desigualdade de oportunidades e torna a discussão sobre meritocracia um sonho ainda mais distante. Como isso soa para você?
Michael Sandel: Você levantou um ponto muito importante. Um dos problemas com a meritocracia é que não cumprimos os princípios meritocráticos que proclamamos. A "loteria do código postal", como você diz, tem um efeito enorme sobre quem recebe uma boa educação, quem vai para a faculdade, quem consegue bons empregos. Esse é um dos problemas com a meritocracia. Mas há também um segundo problema: ela incentiva atitudes em relação ao sucesso para que os vencedores menosprezem os perdedores e não os identifiquem como concidadãos. Portanto, a meritocracia, mesmo no local onde se trabalha, é prejudicial à solidariedade. Pense na imagem de uma escada, onde os degraus indicam onde você pousa na ordem social e econômica. Um problema com a meritocracia é que, se você nasceu em uma família que fica nos degraus mais baixos, é muito difícil subir para os degraus mais altos, porque você não tem a chance de ir para a faculdade e obter uma boa educação para competir pelos melhores empregos. Esse é um problema. Mas, mesmo quando tentamos melhorar a capacidade das pessoas de subir os degraus da escada, também precisamos nos preocupar com algo além da mobilidade social: qual a distância entre os degraus da escada? Como parte do que vem acontecendo nas últimas décadas, não só é difícil subir de um degrau para outro, como também os degraus ficaram cada vez mais distantes uns dos outros. A escada se esticou. A distância entre os degraus superiores e inferiores é cada vez maior. E nós temos que lidar com os dois problemas, creio, ao mesmo tempo. Mobilidade social, sim, mas também desigualdade como tal, o que significa tornar a vida melhor e mais digna, mesmo para aqueles que, por qualquer motivo, não escalam os degraus. Eles também devem viver vidas dignas.
Luciano Huck: Desde que a pandemia começou, venho dizendo toda semana que a solidariedade deve ser mais contagiosa que o vírus. E, no Brasil, a sociedade civil (população não governamental) se mobilizou sem precedentes para tentar mitigar a fome e a extrema pobreza que invadiram repentinamente a vida de tantas famílias. Ao te ouvir, fico refletindo se isso não faz parte do caráter geral que todos compartilhamos por termos aceitado passivamente o status quo dessa disparidade socioeconômica assustadoramente alta, que não resolvemos até hoje e virou parte da “paisagem” brasileira.
Michael Sandel: Penso que a sociedade civil tem um papel extremamente importante a desempenhar. Nós falamos sobre política e governo e tentamos encontrar alternativas para as perigosas tendências autoritárias que estamos vendo agora. E tudo isso é muito importante. Mas vimos como os principais partidos políticos falharam e como esse fracasso levou à eleição de figuras autoritárias hiper nacionalistas no Brasil e em outras partes do mundo, inclusive nos EUA, meu país. Acho que precisamos procurar a sociedade civil para ajudar a criar fontes de solidariedade, porque não são apenas as políticas do governo que nos mantêm unidos, mas também as organizações, incluindo organizações locais, que podem trabalhar para promover o acesso à educação, podem tentar levar cuidados de saúde para pessoas que não podem pagar por isso, que podem tentar lidar com o problema da violência nas favelas e outras comunidades... As instituições locais da sociedade civil são muito importantes. Especialmente nas áreas de saúde e educação, as organizações comunitárias têm um papel muito importante a desempenhar na construção do tipo de solidariedade que, com muita freqüência, nossos políticos deixam de apoiar e promover. A mídia também tem um papel muito importante na tentativa de promover um diálogo civil mais substantivo, respeitoso. A democracia precisa desse diálogo. Ele precisa chamar a atenção de pessoas de todas as origens sociais e econômicas. E, se a mídia presta atenção apenas aos tipos de provocações mais sensacionalistas e ultrajantes, o discurso público se transforma em uma espécie de jogo de gritos onde ninguém está ouvindo um ao outro. As pessoas estão simplesmente reforçando e gritando sua própria opinião. A mídia tem um papel importante a desempenhar na criação de um tipo melhor de discurso público.
Luciano Huck: Alguns setores no Brasil, como bens e serviços, ganharam um enorme significado durante essa pandemia. Nosso setor agrícola, em particular, está fazendo um trabalho espetacular. Não tivemos nenhum problema de produção ou fornecimento durante esta pandemia. Estamos exportando alimentos para o mundo inteiro como nunca antes. A cadeia de produção está muito bem organizada e criou protocolos de saúde que estão funcionando muito bem. Nossos profissionais de saúde estão mais dedicados do que nunca ao sistema público, e até mesmo os entregadores que estão nas ruas diariamente, e que até meses atrás eram invisíveis e rechaçados por muitos, se tornaram parte fundamental de nossas vidas cotidianas, o que gerou um enorme respeito da sociedade por todos esses profissionais do campo, das ruas, dos hospitais e das rodovias. Como você vê essa mudança?
Michael Sandel: Existe um potencial para essa crise levar a uma reavaliação fundamental de quem realmente contribui mais para nossas vidas sociais e econômicas. De quem realmente dependemos diante de uma crise como essa? Como você diz, as pessoas de quem dependemos não são banqueiros de Wall Street. Não são pessoas que, nos últimos 40 anos, ganharam milhões, bilhões de dólares enquanto trabalhadores comuns enfrentaram salários estagnados. As pessoas de quem dependemos agora são prestadores de cuidados de saúde, médicos e enfermeiros, mas também entregadores, caminhoneiros, policiais e bombeiros, pessoas que mantêm os supermercados abertos, que fornecem nossa comida e a levam para o supermercado ou mesmo para nossas casas. No entanto, nos últimos 40 anos, pessoas que realizam trabalhos como esses não apenas perderam terreno economicamente, como também não foram respeitadas. Isso remonta ao que chamei de "tirania do mérito" no meu novo livro. Um dos lados sombrios da meritocracia é que tendemos a acumular todas as recompensas e todo o reconhecimento social naqueles que ganham muito dinheiro. Eles se tornam os emblemas do sucesso. Mas o que esta crise está mostrando é que aqueles que realmente fazem contribuições valiosas para o bem comum, aqueles que estão nos mantendo vivos, aqueles que mantêm a sociedade funcionando não são os ricos, não são os mais ricos. São, na maioria das vezes, pessoas que lutam para sobreviver. E, no entanto, são eles de quem o resto de nós depende. Portanto, espero que, com isso, possamos reconstruir nossas sociedades e nossas economias para reconhecer, não apenas para aplaudir essas pessoas e agradecê-las, mas também para garantir que suas recompensas econômicas correspondam à importância da contribuição que fazem. Essa é a minha esperança. Mas vai depender do tipo de economia que criarmos quando começarmos a emergir desta crise.
Luciano Huck: Temos discutido quando vamos reiniciar a economia, mas acredito que também deveríamos discutir de que forma vamos reiniciar a economia. Te ouvindo, acredito que temos uma grande oportunidade de mudar a narrativa que tem estado presente nos debates nos últimos anos. Quando reiniciarmos as economias mundiais, teremos a chance de entender que estamos mais interconectados do que nunca. Que podemos e devemos mudar a narrativa pós-pandêmica, adotando políticas menos divisivas e mais fraternas, mais inclusivas. Se você puder compartilhar, qual conselho você desejaria passar para o Brasil, pensando não no que estamos experimentando agora, mas no que virá a seguir?
Michael Sandel: Eu acho que o que vem a seguir, para o Brasil e para todos nós que estamos enfrentando essa crise, depende de como pensamos e agimos durante a crise. Claro, todo mundo quer prever quando o vírus desaparecerá, quando haverá uma vacina e quando podemos voltar ao trabalho. Voltar ao trabalho criará um novo aumento no vírus? São questões de previsão e, para a previsão, contamos com especialistas em saúde pública, médicos e cientistas e precisamos confiar em seu julgamento e sabedoria. Mas, além de prever o que essa crise trará e quando ela terminará, devemos encarar isso como um desafio para criar um tipo diferente de sociedade. Essa pandemia chegou em um momento em que estávamos profundamente divididos. Tínhamos vivido um período de crescente desigualdade e de profundas divisões partidárias, raiva, frustração e ressentimento. E, se voltar ao trabalho, se reabrir a economia significa simplesmente voltar à raiva, ressentimento, partidarismo e corrupção que tínhamos antes, não teremos aprendido nada. Portanto, nosso maior desafio é realmente aprender com essa crise e a usar como uma oportunidade para refletir sobre o que deu errado em nossa vida social, econômica e política. De modo a emergirmos com uma economia na qual podemos dizer com mais verdade do que agora que “Estamos todos juntos nisso" - ou pelo menos que estamos caminhando na direção de uma maior solidariedade. Minha esperança é que estejamos nos movendo em direção a uma sociedade em que, em nossos debates políticos, perguntaremos primeiro: “O que devemos uns aos outros como cidadãos e como podemos promover a política do comum? O que nos une de maneira que nos tornará mais fortes?”
Luciano Huck: Professor Michael Sandel, muito obrigado. É uma honra poder conversar com você e compartilhar algumas de suas ideias, certo de que você está ajudando a iluminar o caminho. Fique bem, protegido e saudável.
O Estado de S. Paulo: Basta razão convincente para afastar Bolsonaro', diz historiador
Segundo José Murilo de Carvalho, há ‘tempestade perfeita’ formada por crise econômica, crise política e novo coronavírus
Wilson Tosta, O Estado de S.Paulo
RIO - Na crise aberta pela demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, o historiador José Murilo de Carvalho vê indícios de um governo que começa a se despedir antes do previsto. A crise política agravada pelo confronto de Moro com o presidente Jair Bolsonaro, as dificuldades econômicas e a pandemia do novo coronavírus se aliam em uma “tempestade perfeita”, que torna a sobrevivência do governo “cada vez mais difícil”, avalia. Segundo ele, a fragilidade da base parlamentar de Bolsonaro torna essa possibilidade muito factível.
“Basta haver uma razão convincente de impedimento para que, sem apoio sólido no Congresso, ele (Bolsonaro) possa ser afastado por impedimento”, afirma o historiador, ao comparar a crise atual com aquelas que envolveram os governos Dilma Rousseff e Michel Temer. Para ele, os últimos movimentos de Bolsonaro, livrando-se de possíveis rivais, como Moro, acenando ao Centrão e lançando um plano econômico que lembra o regime militar, tendem a aumentar o seu isolamento. A Bolsonaro, avalia, restaria uma base popular cada vez menor.
O que a saída de Moro, um dos representantes do chamado ‘tenentismo de toga’, significa para a Lava Jato e para o País?
A Lava Jato já estava sendo esvaziada. Se o presidente quiser controlar a PF, a operação será sepultada de vez pelas mãos de quem prometia moralização. Inclusive porque o presidente está agora buscando apoio da ala podre da política.
Bolsonaro quer controlar a PF porque teme investigações contra ele e seus filhos?
Tudo indica que é a razão principal do atrito com Moro. É de notar que o presidente só falou no (filho) 04 (Jair Renan, o mais novo), saltando os zero um (senador Flavio Bolsonaro), zero dois (vereador Carlos Bolsonaro) e zero três (deputado Eduardo Bolsonaro).
O governo Bolsonaro se sustentará até dezembro de 2022?
É cada vez menos provável a sobrevivência dele até o final. Teríamos, além da crise econômica e da pandemia, uma crise política. Tempestade perfeita.
No que a crise atual se parece e se diferencia quando comparada com as crises do impeachment de Dilma e do caso Joesley, no governo Temer?
O presidente atual é mais frágil, por não ter um partido forte que o sustente. Dilma tinha apoio, mas insuficiente. Temer tinha base sólida. Hoje, basta haver uma razão convincente de impedimento prevista na legislação, por exemplo, crime de responsabilidade, para que, sem apoio sólido no Congresso, ele (Bolsonaro) possa ser afastado.
E com outras crises de nossa República, como as dos governos Jânio e Collor, que também pregavam combate à corrupção e mudanças conservadoras? Há comparação?
Jânio era um moralista autêntico e sincero. Só não tinha convicções e paciência democráticas. Collor teve problemas dentro da própria família. Ambos não tinham base parlamentar.
Em um curto espaço de tempo, o presidente Bolsonaro demitiu Luiz Henrique Mandetta, esvaziou Paulo Guedes, demitiu o chefe da PF, provocando a saída de Moro da Justiça, e buscou apoio no Centrão. Qual é a lógica desses movimentos em sequência?
É uma jogada arriscada tirar os dois ministros mais populares e agora minar a posição de Paulo Guedes com a criação de comissão para formular um programa chamado Pró Brasil. O presidente afasta possíveis concorrentes, mas perde crescentemente apoio popular.
Bolsonaro está rearrumando a direita, buscando outra base social, livrando-se de possíveis rivais em 2022 e procurando apoio nos velhos esquemas políticos? Ou está apenas protegendo o seu clã de investigações?
(Está) Livrando-se de rivais e protegendo a prole.
O governo pode, na prática, se tornar um governo militar, tocado pelos generais?
Pelo menos, um governo dependente dos ministros militares. O que é ruim para o governo, ruim para os militares, ruim para o País. Para o governo, por ficar dependente deles. Para os militares, porque qualquer fracasso pode ser jogado sobre a corporação, embora eles não a representem no governo. O envolvimento da imagem da corporação será difícil de ser evitado. Para o País, (é ruim) porque gera insegurança.
O plano econômico anunciado esta semana por militares, com medidas que alguns disseram lembrar o regime militar, é sinal de militarização?
O Pró Brasil lembra um pouco a política desenvolvimentista de (presidente Ernesto) Geisel. Mas lembra também o PAC de Dilma. Nenhum funcionou. A diferença é que, paralelamente, ele (Geisel) começou o processo de desmilitarização da política quando o chamado milagre começou a derreter. Um processo inverso. O crescimento econômico não podia mais ser avalista da ditadura.
O que as mudanças no governo indicam: Bolsonaro está recomeçando, em bases iliberais, ou caminha para o seu fim?
Mais peso estatal na política econômica não precisa ser necessariamente um mal, embora seja incompatível com a política idealizada pelo ministro da Economia (Paulo Guedes). Mas fazê-lo fora da negociação política é um mal. O isolamento do governo crescerá restando-lhe uma base popular cada vez mais restrita. A probabilidade de um fim de governo aumenta.
Rolf Kuntz: Campanha eleitoral sobre cadáveres
Agenda presidencial dá prioridade à reeleição sobre a segurança e a vida das pessoas
Foi uma quinta-feira tenebrosa. Mais 407 mortes, um recorde sinistro, foram comunicadas oficialmente. Em Manaus, ambulâncias corriam de hospital em hospital com doentes em busca de uma vaga. Em São Paulo, a Prefeitura liberou enterros à noite e anunciou a abertura emergencial de 13 mil sepulturas. Num site jornalístico, um médico descrevia a experiência de ser a última pessoa vista por um moribundo, sem a presença de familiares. Enquanto isso, no Palácio do Planalto, o presidente cuidava das prioridades mais altas da República Bolsonariana, incluída a exoneração do chefe da Polícia Federal (PF), Maurício Valeixo. Naquela altura, outra ação de grande importância na agenda palaciana havia aparecido no Diário Oficial. Os brasileiros poderão, graças a um decreto redentor, comprar até 550 unidades de munição por mês. Portaria anterior, anulada pelo mesmo ato, fixava o limite de 600 unidades por ano.
A demissão do ministro da Justiça, Sergio Moro, consumou-se na sexta-feira. Ele havia resistido à exoneração do diretor-geral da Polícia Federal. Havia tentado até negociar a nomeação de um substituto, segundo afirmou, para evitar um desentendimento maior num momento de pandemia. Não deu certo. Não se sabe se ele usou a palavra pandemia na conversa com o presidente. De toda forma, é difícil dizer se isso faria alguma diferença. A segurança e a vida dos brasileiros, como já sabia qualquer pessoa razoavelmente informada, estão fora das prioridades presidenciais.
Segurança, vida e bem-estar sempre estiveram longe do primeiro plano desde o começo do mandato. Há um ano, o desemprego superava 12% e os desempregados eram mais de 12,5 milhões. Mas no alto da agenda estavam as armas de fogo, apresentadas como itens fundamentais para a tranquilidade e o futuro dos brasileiros.
Revólveres, pistolas e fuzis continuam tratados como questões de alta importância, enquanto governos estaduais e municipais correm atrás de respiradores, improvisam hospitais de campanha e - apesar desse empenho - têm de providenciar câmaras frigoríficas para abrigar vítimas da pandemia. Armas, no entanto, nem são agora a mais alta prioridade presidencial. O assim chamado chefe de governo - governante seria uma palavra muito estranha - vem cuidando principalmente de seus interesses políticos pessoais e da proteção dos valores familiares, aqui entendidos como os de sua família.
Cuidar da reeleição tem sido a atividade mais notória do presidente. Essa prioridade é evidente desde o ano passado, mas o jogo tem-se tornado mais intenso. Essa preocupação se torna quase chocante quando o tratamento da pandemia é subordinado às eleições de 2022.
Candidatos potenciais, como os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, são tratados como rivais e até como inimigos. A redução do isolamento e a rápida liberação das atividades econômicas, bandeiras do presidente e de seus aliados, escancaram o interesse eleitoral. São orientações contrárias àquelas seguidas em vários Estados, incluído São Paulo, e envolvem uma aposta em ganhos de popularidade.
A demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde foi parte desse jogo. Além de seguir, no essencial, as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), aceitas também pelo governo paulista, o ministro havia se tornado muito mais popular que o presidente. Não foi, no entanto, apenas um caso de ciúme. Um ministro disposto a dar prioridade à vida, atendendo mais à ciência do que aos interesses de seu chefe, podia ser um estorvo.
A demissão de Mandetta, a exoneração de Maurício Valeixo e a saída de Moro são fatos estreitamente articulados. Desde o ano passado o presidente procura controlar, ou enfraquecer, os principais organismos de investigação.
Seu interesse podia estar vinculado, inicialmente, à proteção de um filho suspeito de irregularidades na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A prática da rachadinha havia sido evidenciada por declarações de Fabrício Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro na Alerj. O assunto continua quente. Mas os problemas ficaram mais complicados com as investigações sobre fake news e sobre a organização da passeata golpista realizada em Brasília no dia 19, um domingo.
Por que o deputado Eduardo Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a prorrogação da CPI das Fake News? Além disso, quem ignora a atuação do gabinete do ódio? Mas há outros motivos de preocupação para o presidente. Seu nome, em princípio, está fora da investigação sobre a passeata golpista, mas sua presença é inegável e o inquérito pode produzir efeitos secundários.
Percebido o erro, o presidente declarou amor às instituições e tentou maquiar os fatos. O objetivo da manifestação, disse ele a um grupo, foi a defesa da volta ao trabalho. Mesmo com a pandemia? A pandemia, admitiu, ainda ameaça as pessoas. “Lamentamos as mortes”, disse. E acrescentou: “Enfim, é a vida, né? Tem gente que vai morrer”. Em outra ocasião ele havia dito em sua língua peculiar: “Haverão mortes (...) Paciência”. Bolsonaro é isso mesmo.
* Jornalista
Bolívar Lamounier: A democracia na era pós-pandêmica
Pela primeira vez teremos uma ótima chance de liquidar o patrimonialismo
No século 19, a democracia liberal apenas engatinhava, mas sua morte já era dada como iminente. Um caso de mortalidade infantil.
Nunca é demais lembrar que a democracia liberal (ou representativa) só começa a se configurar no século 19. Cento e cinquenta anos atrás, com a parcial exceção do Reino Unido e dos Estados Unidos, o mundo se dividia em países desabridamente autoritários e em embriões de democracia. Estes últimos existiam em sociedades oligárquicas, nas quais o jogo político se limitava a pequenos grupos de elite – proprietários e “notáveis” –, a uma minúscula parcela da população habilitada a votar e a uma vasta maioria analfabeta, empregada em atividades rurais e completamente excluída da vida pública. Tomando a nuvem por Juno, os críticos do liberalismo julgavam estar vendo um cemitério, quando, na verdade, se tratava do início de uma construção cheia de opções e possibilidades.
Nas primeiras décadas do século 20, na esteira da Revolução Russa e da ascensão do fascismo, passou-se a entender que a causa mortis da democracia seria sua congênita debilidade. Anêmica, ela não teria como resistir à maré montante dos embates entre capital e trabalho. A 2.ª Guerra Mundial liquidou o fascismo como forma de organização política, mas fortaleceu o comunismo soviético, dando ensejo a um terceiro prognóstico para o fim da democracia. A radicalização ideológica entre direita e esquerda, engendrada internamente em cada país e turbinada de fora para dentro pela guerra fria entre Estados Unidos e URSS, seria a nova causa mortis. Esse prognóstico tinha mais substância, basta lembrar as tragédias a que sucumbimos, Brasil, Argentina e Chile, aqui mesmo, no Cone Sul latino-americano. Fato é, no entanto, que a democracia representativa, bem ou mal, ressuscitou. Atualmente, os piores casos de antiliberalismo político devem-se muito mais à propensão tirânica de certos líderes – Hugo Chávez e Nicolás Maduro, na Venezuela; Viktor Orbán, na Hungria; Recep Erdogan, na Turquia – do que a causas supostamente universais.
No presente momento, com o mundo engolfado na monstruosa pandemia de covid-19, ninguém se surpreenderá com o reaparecimento dessa antiga discussão. Agora, já mais que centenária, é plausível considerar que a democracia liberal integra um grupo de altíssimo risco. Não poucos autores já quebram a cabeça em busca de um título, esfalfando-se para não recair no consagrado Crônica de uma Morte Anunciada. O mais invocado é uma reversão da interdependência mundial, cada país se ensimesmando, cuidando mais de seus problemas internos e alterando o papel do Estado na economia. Em recente entrevista ao Washington Post, Henry Kissinger insistiu na perda de hegemonia dos Estados Unidos, vale dizer, na redução do poder relativo de seu país em relação às outras grandes potências – em relação à China, notadamente –, uma vez que isso significaria a debilitação do ideário liberal perante o regime ferreamente totalitário de Xi Jinping.
Parece-me fora de dúvida que o mundo pós-pandêmico passará por grandes transformações, mas não necessariamente desafios que ponham em xeque a própria sobrevivência da ordem liberal-democrática. Os autores que cogitam de uma forte presença do Estado e certa ressurreição do nacionalismo precisam se lembrar de que nenhuma democracia e nenhum sistema político jamais se configurou como um embate entre massas “equipotentes”, iguais em peso e massa, como bolas numa mesa de bilhar. Entre o tosco clientelismo da política local (quem nomeia a professora rural, o agente dos correios, etc.) e o topo, no qual grandes organizações públicas e privadas fixam prioridades e executam as medidas necessárias à acumulação de capital, a distância é imensa. No Brasil, por exemplo, minha intuição é de que tal estrutura permanecerá, mas pela primeira vez teremos uma ótima chance de liquidar o patrimonialismo (o sistema dos “amigos do rei”) e alterar decisivamente a estrutura do investimento público. Em vez de desperdiçar recursos de maneira criminosa – na construção de estádios, por exemplo –, haveremos de entender que nossas prioridades “acumulativas” terão que ver com ciência e tecnologia, biotecnologia, saneamento básico, ampliação dos serviços de saúde e, naturalmente, educação básica. Chance, também, de levarmos a sério o imperativo da reforma política. No quadro dessa reorientação, a transparência e as divergências próprias da democracia serão uma grande alavanca, e não um obstáculo, como cinicamente afirmam os pregoeiros do autoritarismo.
Muitas vezes o barato sai caro. Atentando apenas para os ínfimos custos de produção chineses, o mundo deixou a cargo daquele país praticamente toda a produção de insumos médicos. Se os governantes dos países democráticos tiverem alguma coisa entre as duas orelhas, tratarão de alterar o quanto antes esse modelo.
* Sócio-diretor da Augurium Consultoria, é membro das Academias Paulista de Letras e Brasileira de Ciências e autor do livro ‘Liberais e antiliberais’ (Companhia das Letras, 2016)
Affonso Celso Pastore: Estadistas, populistas e a pandemia
Temos na Presidência um populista obcecado pelo objetivo de reeleger-se
No início do ano, foi publicada uma excelente biografia de Frank Ramsey, um cientista ligado à Universidade de Cambridge, que em sua curta vida de apenas 27 anos deixou contribuições marcantes nos campos da filosofia, da matemática e da teoria econômica. Na economia, uma de suas contribuições foi uma modelagem matemática que permitiu responder à pergunta: “Quanto a sociedade deve poupar para favorecer as próximas gerações?”. Quanto mais deixarmos de consumir no presente, mais investiremos elevando o produto, o consumo e o bem-estar das populações no futuro. Para responder qual é a distribuição ótima entre as gerações, os economistas contemporâneos incluem uma taxa de desconto para trazer a valor presente o consumo das gerações futuras. Taxas de desconto mais elevadas favorecem um consumo maior da geração presente, e planejadores que dão um peso elevado ao bem-estar das gerações futuras preferem taxas de desconto mais baixas. Ramsey tinha um profundo senso ético e grande apreço pelo bem-estar das próximas gerações, o que o levou a utilizar uma taxa de desconto nula, dando peso igual a todas as gerações.
Em um horizonte bem mais curto do que o de uma geração, a pandemia impõe aos governos uma escolha semelhante. A adoção do afastamento social poupa vidas à custa de uma recessão no presente, cujos efeitos são parcialmente atenuados por medidas que impeçam a quebra de empresas e compensem a queda de renda dos menos favorecidos, em troca de um crescimento mais vigoroso adiante. No outro extremo, o afastamento social é abolido na esperança de evitar uma recessão no presente, porém à custa de um enorme número de mortes e de menor crescimento futuro. Se o governante responsável pela decisão tiver respeito pelo futuro do país, decidirá como se tivesse uma taxa de desconto baixa ou mesmo nula, respeitando as recomendações dos cientistas e optando por um isolamento social mais rígido. Mas se o objetivo for manter sua popularidade elevada no curto prazo para favorecer sua reeleição, atirará às urtigas o futuro do país usando uma taxa de desconto muito alta.
Sempre acreditei que os estadistas têm taxas de desconto bem menores do que populistas, e minha convicção cresceu ainda mais ao ouvir o discurso de Boris Johnson quando deixou o hospital curado do coronavírus. Tendo inicialmente manifestado dúvidas com relação à eficácia do afastamento social e sido criticado fortemente por esse erro, não hesitou em curvar-se humildemente às evidências dos cientistas do Imperial College of London, voltando atrás em sua posição e decretando a continuidade do afastamento social em todo o território inglês. Como um excelente biógrafo de Churchill, não pode ser surpresa que tenha feito o discurso típico de um estadista, conclamando o povo à união na guerra contra o vírus. Boris Johnson viu a cara da morte e reduziu sua taxa de desconto para um nível muito mais baixo do que a de populistas de direita, dos quais Trump é um exemplo que é imitado por Bolsonaro.
Em um momento difícil como este, é natural que no Brasil haja divergências. Empresários que construíram suas empresas com o duro trabalho de décadas temem perdê-las ou a duras penas ter de reconstruí-las. Pessoas humildes em cujas casas pobres vivem inúmeros familiares perderam sua renda, passando a viver de transferências do governo. Nos dois casos, a tentação é atribuir a culpa ao distanciamento social e, quando cai o número de mortes, ambos lutam para que este acabe, sem se dar conta que a queda do número de mortes é a consequência do afastamento ocorrido anteriormente. A experiência do Japão e de Cingapura mostraram que é um erro abandonar precocemente a quarentena. Caberia ao governo explicar à sociedade a inevitabilidade da quarentena, trabalhando em um protocolo de saída que evite um aumento do contágio, e não se acovardando em tomar as medidas compensatórias que reduzam o custo durante o período de isolamento.
Mas não temos na Presidência um estadista, e sim um populista que, obcecado pelo objetivo de reeleger-se, tem uma taxa de desconto muito elevada, desprezando as consequências de seus atos sobre o futuro do País. Em vez de seguir o exemplo de Boris Johnson, reconhecendo humildemente seus erros e buscando unir os cidadãos, a intolerância e o radicalismo de Bolsonaro o levam a agredir todos os que divergem de suas ideias. Em vez de unir o País, ele o divide, com consequências muito negativas para o presente e para o futuro.
*Ex-presidente do Banco Central e sócio da A.C. Pastore & Associados
Eliane Cantanhêde: Suicídio
Com mortes e caos econômico e social, Bolsonaro só vê ele, filhos e Adélio
Uma imagem vale mais do que mil palavras, e a do superministro Paulo Guedes no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, na sexta-feira, diz tudo. O único de máscara, em mangas e sem sapatos, o segundo pilar do governo parecia seguir, só de meias, os passos do já ex-ministro Sérgio Moro. Ou seja, está se lixando para o cargo e para Bolsonaro. Fim de festa.
Com o governo esfarelando, um militar de alta patente define o clima: “Muita tristeza”. Junto com o governo, esfarelam-se os sonhos de por ordem na bagunça, combater com Moro a corrupção e o crime organizado, recuperar com Guedes a economia, os empregos e a esperança. Seria impossível com um tenente rechaçado, depois um parlamentar inútil. Mas só agora eles admitem. Talvez, tarde demais para descolar as Forças Armadas do desastre. Triste mesmo.
Jair Bolsonaro é incansável em seus movimentos suicidas, envolto em sombras, combatendo inimigos por toda parte, fazendo só o que lhe dá na cabeça. Ou o que os filhos lhe põem na cabeça. Por que a obsessão em demitir o delegado Maurício Valeixo da Polícia Federal? Em nomear um pau-mandado na PF do Rio, sua base? E abrir crise na PF e derrubar Moro, o maior troféu do governo, dias depois de Mandetta e em meio ao caos?
Moro resumiu numa única palavra, ao pedir “a razão” de tudo isso. A resposta está na psicologia, egolatria, medo, culpa e na proteção dos filhos 01, 02 e 03 de investigações sobre rachadinhas, fake news, gabinete do ódio e organização e financiamento de atos golpistas. Ante pandemia, mais de 4 mil mortos, o desespero de empresários, empregados e Ministério da Economia, Bolsonaro só pensou nele e nos filhos.
Completamente perdido na pandemia, com escavadeiras abrindo covas a mil por hora, economia implodindo, governo esfarelando, miséria disparando e violência ameaçando, Bolsonaro foi acusado, nada mais, nada menos, por Sérgio Moro, e nada mais, nada menos, de exigir acesso aos relatórios de inteligência e às investigações sigilosas da PF. Essas sobre os filhos e amigos e aquelas contra inimigos. Um arsenal político que ditadores adoram.
Mas, depois de saracotear por aí contra o isolamento, tudo o que o presidente ofereceu à Nação no seu pronunciamento foi um personagem bonzinho e simples, que economiza com piscina, menu e gabinete. Até da triste história familiar da mulher ele falou. Há quem tenha achado comovente. Certamente não é o caso de Judiciário, Legislativo e parte do próprio Executivo. Nem de OAB, ABI, mundo empresarial e financeiro e grandes democracias.
O pronunciamento foi sobre ele, ele e ele. Por que demitir Valeixo? Porque, depois de milhares de horas de investigações, a PF não concluiu o que “ele” queria: que a facada foi um complô, quem sabe da China comunista? E Valeixo não atropelou as leis e o MP-RJ nas investigações sobre Marielle, o condomínio da Barra da Tijuca e as namoradas do filho 04 - que, aliás, traçou metade das vizinhas, típica questão de Estado. Valeixo tinha de fazer isso? Sim, “ele” queria. “Eu sou a Constituição.”
O novo ministro da Justiça chega no fim da festa, sem PF, Coaf e a aura de Moro. O delegado Alexandre Ramagem, que deve migrar da Abin para a PF, vai precisar comer muito feijão para ficar parrudo como Valeixo e convencer a corporação de que não é um Fernando Segóvia, o indicado político que resistiu só 99 dias no cargo no governo Temer. E... que vai seguir o manual.
A Bolsonaro e Moro resta uma acareação jurídica, política e midiática. Bolsonaro não entende nada dessa seara, como de tantas e tantas outras, mas Moro estará em seu habitat. Se um afunda, o outro emerge na política, o que pode dar em tudo ou nada, mas passa a ser o grande pesadelo de um ser conturbado e sob risco real de impeachment.
Vera Magalhães: Bola com o Supremo
Como no mensalão, Judiciário assume o protagonismo da crise política
Sairá do Supremo Tribunal Federal o caminho para que Jair Bolsonaro enfrente o terceiro processo de impeachment de um presidente eleito em 28 anos. A bola, mais do que nunca nos últimos anos, está com os 11 ministros da principal corte do País. E olha que desde o mensalão o protagonismo do STF tem sido grande. Mas a conjuntura leva a que, desta vez, algumas coisas sejam diferentes.
O primeiro componente inédito é a vigência, há um ano, de um inquérito sigiloso, sem prazo e com abrangência grande e escopo para investigar fake news contra ministros do próprio tribunal. É ele, como escrevi na quarta-feira, que dará o fio da meada para que se trace uma cadeia de comando na rede de destruição de reputações que grassa nas mídias sociais e alimenta o bolsonarismo.
Graças a ele Bolsonaro perdeu as estribeiras em plena crise do novo coronavírus e decidiu demitir o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, assumindo inclusive o risco de perder Sérgio Moro e ganhar seu mais competitivo rival em 2022. O desespero com o inquérito foi maior que o medo de perder Moro.
Pouco ou nada vai adiantar Bolsonaro ter alguém “seu” no comando da PF para tentar esvaziar o inquérito-bomba: as provas coletadas até aqui estão em poder do ministro Alexandre de Moraes, seu relator, e ele também já se precaveu e também assegurou que os policiais e delegados designados para comandar a investigação não sejam trocados.
O segundo ineditismo do papel do Supremo nessa crise é que são muitas, e de diferentes magistrados, as decisões que tolheram os arreganhos autoritários de Bolsonaro nos últimos meses. O presidente viu caírem desde as tentativas de ditar a estratégia de combate à pandemia do novo coronavírus até as investidas para reduzir acesso da sociedade a informações públicas.
Não é obra do acaso. Que integrantes de blocos até ontem conflitantes dentro do STF passem a atuar de forma coesa na contenção do presidente é um divisor de águas político e pode ser determinante para que as investigações em curso – duas delas com Alexandre de Moraes e uma com Celso de Mello – deem ao Congresso, ali do outro lado da Praça dos Três Poderes, o caminho jurídico do impeachment.
E aqui entra o terceiro fator inédito, a saideira do decano. Celso de Mello deixa o Supremo em novembro, depois de 31 anos. Dono de posições que foram paradigmáticas para a Corte em julgamentos como o do mensalão, desde o ano passado ele tem pontuado com ênfase os riscos à democracia representados por ações e palavras de Bolsonaro.
É dele a relatoria de um mandado de segurança questionando a demora da Câmara em analisar pedidos de impeachment e, desde sexta-feira, também está com ele o novo inquérito para apurar as denúncias de Sérgio Moro.
Candidato à sua cadeira em novembro, o procurador-geral da República, Augusto Aras, tentou dar uma no cravo e outra na ferradura ao colocar Moro na situação de co-investigado. Acabará por fazer do ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato, ao lado do decano, peça fundamental de abrir a picada para o embasamento jurídico do processo de impeachment.
Não é por acaso o silêncio de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Os dois sabem que o enredo, agora, se desenrola no Judiciário. É de lá que sairá o roteiro para que a Câmara, e depois o Senado ajam. Até lá, há fatores políticos a alinhar. O principal é a definição de se o Centrão vai embarcar no governo ou fazer o que fez no impeachment de Dilma: leiloar seu preço com os dois lados até a undécima hora.
Os prazos são exíguos: Mello pendura a toga em novembro, e Maia deixa a cadeira em fevereiro do ano que vem. Por isso, e porque há um vírus a combater e uma economia em frangalhos para tentar recuperar, o ritmo será intenso.
Vera Rosa: Saída de Moro do governo antecipa a disputa eleitoral para 2022
Ex-ministro vira desafiante de peso a uma possível reeleição e, como algoz do presidente, alimenta a polarização com a esquerda
BRASÍLIA - A saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, não só indica o agravamento da crise política e uma guinada no governo como põe as cartas na mesa para a disputa eleitoral de 2022. Até hoje, o presidente Jair Bolsonaro era um jogador praticamente solitário no campo da direita e da extrema direita, mas agora terá Moro como desafiante de peso.
Bolsonaro já se apresentou como candidato a novo mandato, embora, nos bastidores da política, 2022 seja visto como o ano mais imprevisível dessa temporada. Com a renúncia, Moro jogou o governo nas cordas e abriu caminho para um processo de impeachment. Na prática, ao denunciar que o presidente agia para interferir politicamente na Polícia Federal e queria monitorar relatórios de inteligência, preocupando-se com o rumo de investigações no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-juiz da Lava Jato expôs o que opositores de Bolsonaro classificam como “farsa” do combate à corrupção.
Moro se tornou o principal algoz do presidente e alimenta agora a polarização com a esquerda. Em um tempo de pandemia de coronavírus, com Bolsonaro distribuindo cargos em troca de apoio no Congresso e prestes a se casar de papel passado com partidos do Centrão – a quem sempre chamou de “velha política” –, aliados de Moro dizem que “a Lava Jato pulou fora do governo” para não naufragar com ele.
“É o princípio do fim desse governo”, resumiu o deputado Capitão Augusto (PL-SP), coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública. “Vemos com preocupação esta postura intransigente do presidente Jair Bolsonaro, que o fez perder um dos seus grandes aliados na luta pela construção de um Brasil mais justo e honesto”.A cúpula do PT, por sua vez, iniciou a campanha do “Fora Bolsonaro”.
Em post publicado no Twitter, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – que foi condenado por Moro e ficou 580 dias preso – disse não saber como as instituições ainda não reagiram a Bolsonaro. “É preciso começar o Fora Bolsonaro porque não é possível a gente permitir que ele destrua a democracia”, afirmou o petista.
É preciso começar o Fora Bolsonaro porque não é possível a gente permitir que ele destrua a democracia. As instituições já deveriam ter reagido. A única coisa que o Bolsonaro não faz é dizer onde está o Queiroz e quem mandou matar a Marielle. Ele não responde nada.
Filiação
Em seu pronunciamento, Moro deu todas as pistas de que almeja uma candidatura ao dizer estar disposto a servir o Brasil a qualquer tempo. “Independentemente de onde esteja, sempre foi estar à disposição do País’’, disse. O Podemos, partido do senador Álvaro Dias (PR), é um dos que querem filiar o ex-ministro.
“A saída do ministro Sérgio Moro (...), uma opção do presidente da República, representa o afastamento do governo Bolsonaro do sentimento popular e do combate à corrupção. É a derrota da ética”, afirmou Dias, em nota. No Congresso a bancada lavajatista já se move para lançar o ex-juiz como candidato ao Palácio do Planalto, em 2022.
Na prática, a ferida aberta no bolsonarismo com a demissão do titular da Justiça, até então o mais popular da equipe, é maior do que se imagina. O agora ex-ministro escancarou bastidores de conversas com Bolsonaro com detalhes que deixaram a República perplexa. Ao relatar pressões para defenestrar o então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, Moro afirmou: “Falei ao presidente que seria interferência política. Ele disse que seria mesmo”.
A abertura de inquérito no STF para investigar quem organizou e financiou manifestações em defesa da ditadura militar, no domingo, é apenas uma das pontas dessa história. Há uma CPI das Fake News no Congresso em andamento e outras apurações em curso, envolvendo até mesmo filhos de Bolsonaro.
O Estado apurou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, (DEM-RJ), não pretende autorizar agora um processo de impeachment contra Bolsonaro. Apesar da pressão sofrida por líderes de vários partidos, Maia disse a interlocutores com quem conversou ontem que é preciso cautela.A avaliação é de que, embora haja uma grave deterioração do governo Bolsonaro, a pandemia do coronavírus no Brasil deve adiar qualquer decisão sobre impeachment neste momento.
Há na cúpula do Congresso e até do Supremo a percepção de que é preciso aguardar os próximos capítulos da crise. O argumento é o de que não há impeachment sem povo na rua – o que não deve ocorrer nos próximos dias, por causa da covid-19 – e sem o desmoronamento da economia. Mesmo assim, políticos observam que tudo pode mudar a qualquer instante.No Planalto, Bolsonaro aparece agora como um presidente fraco e encurralado. Vem perdendo apoio até mesmo da ala militar do governo.
Os generais não planejam abandoná-lo, mas, em conversas reservadas, admitem que Bolsonaro pode ter trilhado caminho sem volta por ouvir mais o núcleo ideológico, conhecido como “gabinete do ódio”, do que seus antigos companheiros de jornada.
Carlos Pereira: O ‘cavalo de pau’ do populismo do governo Bolsonaro
Se Bolsonaro sobreviver ao crivo das instituições de controle, terá de também apelar para a população de baixa renda, até então negligenciada
Presidentes minoritários que se recusam a construir coalizões em ambiente multipartidário percebem, cedo ou tarde, que os custos dessa estratégia se tornam proibitivos.
'Imprensa não é fácil', disse Moro a Bolsonaro, ao comentar capa do Estadão
No início do mandato, inebriam-se de sua popularidade alcançada com a vitória eleitoral. Em vez de construírem pontes com os partidos e canais institucionais de representação política, preferem desenvolver conexões diretas e polarizadas com núcleo duro de seus eleitores, numa espécie de campanha perpétua típica de populismos.
Embora no curto prazo essa estratégia possa ser bem-sucedida, ela é muito arriscada, pois tende a desgastar as relações do presidente com os outros Poderes. Ao primeiro sinal de fragilidade do presidente, legisladores tendem a dar o troco, e este pode custar a própria sobrevivência do governo.
Mesmo desgastado, o presidente Bolsonaro vinha sendo capaz de obter apoio político de uma parcela da população. Entretanto, ao dar ênfase aos impactos negativos do isolamento social na economia e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos de contágio e gravidade da pandemia, até eleitores congruentes com seu governo decidiram abandoná-lo.
Ao perceber que investigações sobre os organizadores de ato público contra as instituições democráticas poderiam comprometer pessoas do seu governo e familiares, decidiu demitir o diretor da Polícia Federal, batendo assim de frente com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, salvaguarda moral do seu governo.
As acusações de Moro apontam para potenciais crimes de responsabilidade. Como tentativa desesperada de proteção, procurará construir, mesmo que de forma tardia e talvez não tão republicana, coalizão no Congresso para evitar um impeachment. Por outro lado, sem Moro, a perspectiva é que uma parcela ainda maior de eleitores, especialmente os que acreditam no combate à corrupção, deixe de apoiar o governo.
Portanto, se Bolsonaro sobreviver ao crivo das instituições de controle, cenário cada vez menos provável, terá de também apelar para a população de baixa renda, até então negligenciada, para ter alguma base social. As transferências emergenciais de recursos por conta da pandemia podem ter criado oportunidade para o “cavalo de pau” do populismo de Bolsonaro.
*PROFESSOR TITULAR DA FGV-EBAPE DO RIO DE JANEIRO
Maílson da Nóbrega: Boas novas e riscos do ‘orçamento de guerra’
Passada a crise, cabe realizar uma criteriosa reflexão sobre como devem tramitar as PEC
O “orçamento de guerra” é uma iniciativa positiva e sem paralelo institucional. A emenda constitucional permite suspender, durante a crise da covid-19, as restrições que nos protegem contra aventuras fiscais e creditícias.
Em seus pontos altos, destacam-se a criação do comitê gestor, a autorização para o Banco Central adquirir títulos do Tesouro e papéis privados no mercado de capitais e o caráter temporário das medidas. Não há registro de evento legislativo de tal envergadura. Tradicionalmente, cabiam ao Poder Executivo as medidas na área de finanças públicas. No regime militar, essa era uma das hipóteses em que se podiam baixar decretos-leis.
Sua aprovação reflete três novidades no Congresso: 1) a percepção do vácuo de poder derivado do déficit de liderança do presidente da República; 2) a coordenação das preferências parlamentares pelos presidentes das duas Casas do Congresso, o que já fora feito na reforma da Previdência, dada a renúncia do presidente Jair Bolsonaro a exercer o papel de coordenador do jogo político do presidencialismo de coalizão; e 3) a qualidade técnica dos quadros do Congresso, compreendendo o corpo competente dos consultores da Câmara dos Deputados e do Senado, bem como da recente e promissora Instituição Fiscal Independente do Senado.
O “orçamento de guerra” foi aprovado rapidamente porque, além dessas novidades, fez-se vista grossa para as regras regimentais sobre tramitação de emendas constitucionais. A não observância dos dias de interstício entre votações nas comissões e no plenário assegurou o célere andamento da emenda e a aprovação do projeto a toque de caixa, em comissões e em duas votações no plenário. Claro, essa inédita velocidade foi justificada diante de uma situação excepcional.
Em todo o mundo, propostas de emenda constitucional obedecem a um rito legislativo mais complexo do que o de leis ordinárias. Afinal, cuida-se de alterar o estatuto fundamental do país. É preciso que se permita discussão mais demorada. A votação em dois turnos assegura um espaço para reflexão sobre o que passou no primeiro. Exige-se número mínimo de sessões e um intervalo de tempo entre as votações. Nos Estados Unidos, emendas constitucionais precisam ser ratificadas por três quartos das assembleias legislativas estaduais. Levam até quatro anos para sua ratificação. Num exagero, a Emenda 23, aprovada em setembro de 1789, foi ratificada em maio de 1992.
Se foi justificado o rito sumário da emenda do “orçamento de guerra”, é preciso evitar que ele se torne permanente. Na verdade, há que rever o regimento para assegurar que propostas de emendas constitucionais tenham mais tempo para debate, reflexão e aprovação. Elas não estão sujeitas a veto. Emendas constitucionais são promulgadas pelo presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado. Parlamentares já se deram conta de que esse é o caminho para obter a aprovação de medidas populistas, pois conseguem se livrar do veto presidencial, na verdade, um apelo à ponderação É preciso cuidado com o uso abusivo de emendas constitucionais.
A característica detalhista da Constituição de 1988 é um convite à sua permanente alteração. Dispositivos que poderiam constar de legislação ordinária e até de decretos presidenciais viraram mandamento constitucional. O texto cuida de aspectos como o lugar onde deve morar o juiz, cinco tipos de polícia, muitos direitos e poucos deveres. O Brasil é provavelmente o único país onde reformas como as da Previdência ou do Sistema Tributário Nacional precisam de mudanças na Constituição. Diferentemente disso, o presidente americano, Donald Trump, conseguiu empreender uma reforma tributária sem recorrer a emenda constitucional. O ex-presidente Maurício Macri mudou por lei o regime previdenciário argentino.
A Constituição tem 250 artigos, além dos 114 que compõem o Ato das Disposições Transitórias. Daí por que, em apenas pouco mais de 31 anos, ela já foi emendada 105 vezes antes da emenda do “orçamento de guerra”. A Constituição americana tem sete artigos e foi emendada apenas 27 vezes em quase 223 anos. Na prática, foram 18 emendas, pois o Bill of Rights (Carta de Direitos) poderia ser considerado uma única emenda, e não as dez constantes do texto, que foi aprovado num único ato.
Repetindo, nossa Carta Magna é um convite a mudanças. Várias propostas de emenda constitucional (PEC) que circulam no Congresso são verdadeiras pautas-bomba, capazes de infligir sérios danos às finanças públicas e, assim, à capacidade do País de crescer e gerar renda e empregos. É o caso da PEC que equipara os salários de bombeiros de todo o País aos vencimentos dos bombeiros do Distrito Federal, uma temeridade.
Passada a crise, cabe realizar uma criteriosa reflexão sobre como devem tramitar as PECs. A interpretação da norma permitiu a aprovação célere do “orçamento de guerra”, mas pode ter sido o germe que tornará possível tomar decisões prejudiciais ao futuro do País.
SÓCIO DA TENDÊNCIAS CONSULTORIA, FOI MINISTRO DA FAZENDA
Marco Aurélio Nogueira: O pão de cada dia
Ficar em casa é atitude de solidariedade, respeito ao próximo e responsabilidade
Quarenta dias depois de iniciado o confinamento domiciliar recomendado pelos órgãos sanitários, duas questões chamam atenção quando se observa a cena brasileira. Ambas são de natureza comportamental.
Em que pesem todos os alertas e apelos médicos, as mortes que se acumulam, uma parte da população não aceita ficar em casa. Movimenta-se, aglomera-se sem necessidade, criando o ambiente de que necessita o vírus para se espalhar. São pessoas que parecem imunes à dor e à solidariedade. Para elas, o problema é sempre dos outros.
Há que fazer um desconto nessa constatação. Muitos simplesmente não podem ficar em casa. Precisam trabalhar, ganhar o pão de cada dia, tocar a vida. Outros não têm como se isolar, vivem em habitações exíguas, sub-humanas, em bairros de densidade demográfica tão alta que as casas parecem formar um monólito indivisível. Sem levar na devida conta essas circunstâncias, não conseguiremos ir além de uma leitura moralista da situação.
Há, porém, uma fatia importante da população que não se enquadra nesses casos. São pessoas que jogam futebol ao ar livre, fazem atividades em grupo, não dispensam os contatos interpessoais. Também não tomam precauções nem procedem com cautela. Enchem os belvederes em dia de sol, levam os filhos para brincar nos parquinhos, frequentam bares, vão às “feiras do rolo” que continuam a se realizar, como na Sé, em São Paulo.
Sabe-se que continuam a ocorrer bailes funk em periferias urbanas. Em Manaus, onde a epidemia tem sido particularmente devastadora, noticiou-se que o Estádio Carlos Zamith, que funcionou como centro de treinamento para a Copa do Mundo de 2014, abrigou uma festa regada a bebidas alcoólicas. Em Blumenau, uma multidão invadiu os shopping centers reabertos pela prefeitura, sendo recebida com aplausos pelos lojistas.
É um assombro que haja tanta indiferença justamente entre nós, com nossa alma latina, sempre pronta a se derramar em lágrimas e a se comover com a desgraça alheia.
Algumas dessas pessoas pretendem-se “ativistas”. Protestam contra o isolamento, fazem carreatas, detonam políticos e autoridades, agitam faixas e bandeiras nos portões de palácios e quartéis. Aceitam o obscurantismo anticientífico e o negacionismo, atacam as instituições e pregam a volta da ditadura, como se isso fosse um desejo da maioria dos brasileiros. Muitas delas são manipuladas por profissionais e influencers de extrema direita. Mas nem sequer se dão conta disso. Deixam-se levar, convictas de que prestam um serviço ao País.
Intriga que tais pessoas não mudem mesmo quando tudo indica que o caminho não é do confronto e da negação dos fatos, quando o presidente, em plena pandemia, dispara uma cretinice por segundo, que só faz piorar a situação. A atitude não tem que ver com posição política ou ideológica. É de natureza psíquica, liga-se a um egoísmo entranhado na alma e na mente.
São pessoas levadas pelo ódio: ao PT, às esquerdas, aos políticos, à democracia. Muitas dizem carregar Jesus no coração, mas estão orientadas por uma raiva doentia, que as cega e embrutece. Estão expostas a um tipo de veneno que inebria e aliena, que vai sendo destilado dia a dia pelo presidente e por seu “gabinete do ódio”, com seus robôs incansáveis e suas fake news. São pessoas reativas, que não pensam. Acreditam que o “mito” está certo, haveria mesmo uma “conspiração” sendo articulada contra ele. No fundo, agem contra a sociedade, a ordem institucional, o Estado como comunidade política de homens e mulheres. Sua mentalidade é de manada, de tribo.
Sair do confinamento não é uma questão econômica, ligada à retomada dos negócios. Só terá sentido se souber se articular com a preservação da vida. A solução não é a saída abrupta de milhões de pessoas sem que o sistema de saúde esteja preparado para a multiplicação dos doentes graves. Porque todos serão infectados, não haverá como evitar. A volta à normalidade é algo muito mais sanitário que econômico. Precisa, por isso, ser planejada com inteligência estratégica, considerando que o vírus permanecerá ativo e agressivo.
Ficar em casa é uma medida defensiva, de proteção à vida pessoal e familiar. Mas é também uma atitude de solidariedade, respeito ao próximo e responsabilidade. Com base nela, pode-se retardar a disseminação do vírus para que todos os doentes, em especial os mais frágeis, possam ser atendidos pelo sistema de saúde.
O “ficar em casa” a que estamos sendo conclamados não é uma restrição opressiva. Há como se movimentar um pouco, tomar sol, caminhar. O que não se pode é agir como manada, sem manter distância cautelar mínima e cuidados de higiene. Não é difícil de entender.
Constatar que existem pessoas que não conseguem compreender isso faz com que se desconfie da humanidade dos humanos e da sua capacidade de reagir com lucidez nos piores momentos. Prova que estamos carentes de fraternidade e solidariedade, entregues à crueldade do mundo, como costuma dizer o filósofo Edgar Morin.
O Estado de S. Paulo: FHC pede renúncia de Bolsonaro. 'Poupe-nos de um impeachment'
Ex-presidente tucano diz presidente está cavando sua própria cova
Redação, O Estado de S.Paulo
Após a demissão do ministro Sérgio Moro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso cobrou nesta sexta-feira, 24, em suas redes sociais, que o presidente Jair Bolsonaro renuncie. Segundo ele, a sociedade deve ser poupada de mais um processo de impeachment.
"É hora de falar. Pr (presidente da República) está cavando sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment. Que assuma logo o vice para voltarmos ao foco: a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil.
É hora de falar. Pr está cavando sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment. Que assuma logo o vice para voltarmos ao foco: a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil.
Na visão dele, a demissão de Valeixo de forma “precipitada” foi uma sinalização de que Bolsonaro queria a sua saída do governo.
“O presidente me disse que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse colher informações, relatórios de inteligência, seja diretor, superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm de ser preservadas. Imagina se na Lava Jato, um ministro ou então a presidente Dilma ou o ex-presidente (Lula) ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações”, disse Moro, ao comentar as pressões de Bolsonaro para a troca no comando da PF.