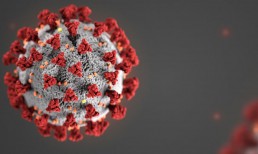O Estado de S. Paulo
José Serra: Contra a covid-19
Medidas devem ser voltadas não só para a saúde, mas ter impacto positivo na economia
O quadro imposto pela “crise do coronavírus” exige respostas imediatas. Para começar, a coordenação das diferentes iniciativas tomadas no País precisa considerar o que está sendo feito no resto do mundo. Debelar a covid-19 e amenizar os efeitos sobre a renda das famílias é árdua tarefa. Por isso tenho sugerido a adoção de um protocolo socioeconômico para tratar do problema, incluída a criação de um fundo específico para tornar viáveis eventuais aportes realizados por pessoas físicas e jurídicas.
A escalada do número de contaminados levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma pandemia. Torna-se compulsório o acompanhamento sistemático do volume de contagiados com e sem sintomas; hospitalizados graves ou não; e, lamentavelmente, o número de mortos. Até ontem, antes de fecharmos este artigo, o Brasil tinha 2.433 casos confirmados e 57 mortos.
A situação é inédita: restrições à circulação de pessoas, mercadorias e serviços; interrupção das atividades de trabalho e lazer; fechamento da maioria das empresas de comércio e elevação dos gastos públicos. As consequências das restrições impostas demonstram que não é só uma gripe. A pandemia afeta, sobremaneira, a saúde econômica global e não é preciso aqui reiterar os desastrosos resultados na indústria, no comércio e no sistema financeiro mundial. É imperativo, portanto, que Poderes e autoridades brasileiras se unam na busca de alternativas que mitiguem as dificuldades que enfrentamos e que aumentarão muito daqui em diante.
Precisamos observar o que está acontecendo no resto do mundo, não exatamente para copiar outros países, mas para entendermos o que deve ser feito no Brasil. Por exemplo, o papel da política monetária está esgotado nos países europeus. Nos Estados Unidos, antes de reduzirem a zero a taxa de juros, havia algum raio de manobra. Agora não mais. Por outro lado, cabe enfatizar, o ativismo da política fiscal está amplamente presente na Europa e nos EUA e deverá ser cada vez mais forte entre nós.
Cada medida a ser tomada deve ser bem contextualizada. No Brasil ainda há margens para redução das taxas de juros e ampliação das linhas de crédito ou refinanciamentos, a fim de evitar falências generalizadas. Do mesmo modo, deve-se recorrer, no campo fiscal, a políticas de subsídios que ajudem a preservar a capacidade produtiva e incentivar a indústria de medicamentos, material hospitalar, etc., para elevar a oferta tão necessária neste momento. A atuação deve concentrar-se em três frentes: expansão do gasto direto em saúde, em volume expressivo e de maneira célere, transferências de renda às famílias mais pobres e distribuição de alimentos.
Reafirmo: vivenciamos o início do que pode ser a maior crise econômica em tempos de paz, com forte choque de oferta e de demanda em nível mundial. As medidas a serem tomadas devem contemplar não apenas ações voltadas para a saúde, mas, simultaneamente, exercer impactos positivos sobre a dinâmica das economias. No Brasil, efeito perverso sobre a renda e o emprego, sobretudo dos trabalhadores informais, autônomos e microempresários, com a queda abrupta da atividade econômica, requer decisões tempestivas do governo central e do Congresso. Ao anunciar apoio a esses segmentos e enviar o decreto de estado de calamidade, o governo deu passos na direção correta.
Podemos, contudo, fazer mais. Penso que uma alternativa seria criar o que denominaria protocolo socioeconômico, tendo como carro-chefe ações na área da saúde: fortalecimento do SUS, ampliação emergencial do número de UTIs, com hospitais de campanha – o Exército pode tomar essa iniciativa – e reforço do atendimento das unidades básicas de saúde. Associando-se a isso o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, garantindo direitos socioassistenciais e atendimento mais adequado às pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua. Melhorando a atenção primária.
Além dessas medidas, devem-se adotar, por exemplo, ações que identifiquem os idosos que vivem em assentamentos e em moradias precárias, sem saneamento básico. Isso é possível recorrendo ao Cadastro Único, instrumento criado na esfera federal para impulsionar as ações sociais, uma das muitas benditas heranças do governo FHC. O cadastro permite não só identificar quem é pobre ou extremamente pobre, mas também saber em que condições vivem essas pessoas, tamanho das famílias, faixa etária de cada um de seus membros e o tipo de benefício social que recebem. O instrumento já temos, basta utilizá-lo.
Para garantir a implementação desse protocolo podem-se utilizar os recursos do fundo que mencionei no início, destinando também à pesquisa e compra de medicamentos. Abarcaria ainda dinheiro público, concentrando as ações e garantindo transparência aos gastos. É uma saída orçamentária para acelerar todo o processo, que será penoso e demandará, acima de tudo, atuação eficiente do Estado.
A meu ver, essas são algumas das muitas dimensões a serem trabalhadas para enfrentarmos esse microrganismo que tomou o mundo de assalto e nos tornou reféns.
*Senador (PSDB-SP)
Eugênio Bucci: Por que, em vez da doença, eu prefiro a cura como metáfora
É hora de doar tudo o que pudermos a quem não tem, é hora de bater panela...
Susan Sontag viu nas doenças do nosso tempo, o câncer e a aids, metáforas poderosas para pensarmos sobre as mentalidades que nos aprisionam e nos fazem cativos de preconceitos e medos irracionais. Acertou no nervo. Seus livros A Doença como Metáfora e Aids e suas Metáforas viraram clássicos instantâneos. Mas agora, diante da pandemia da covid-19, em que a civilização foi inteira para a enfermaria – e em parte para a UTI –, a metáfora que olha para nós com ares de esfinge não está na doença, mas na cura.
Sim, eu bem sei que a cura não existe. Não há vacina. Não dispomos de remédios específicos e comprovados, a despeito da propalada cloroquina presidencial. Por enquanto não há um fármaco que aniquile o coronavírus. Quando muito, a medicina nos socorre combatendo os sintomas e os médicos nos apoiam para ganhar tempo, enquanto o corpo, como diria Voltaire, trata de neutralizar a moléstia.
Não há solução individual para ninguém. Uma pessoa que desenvolva um quadro grave da doença terá de contar com os paliativos hospitalares, de um lado, e, de outro, com o próprio organismo para restabelecer o corpo. É só o que temos. Na dimensão coletiva, porém, podemos recorrer a um arranjo coletivo para enfrentar a enfermidade com eficácia. Individualmente, somos indefesos, mas agindo em conjunto, socialmente, podemo-nos proteger. As esperanças que podemos ter são esperanças coletivas. É por aí que começa a metáfora da cura (da cura que ainda não há, mas já é metafórica).
As medidas que os países que não são governados por loucos estão adotando ilustram o que quero dizer. A diminuição organizada dos contatos sociais – com a interrupção das aulas, dos comícios e dos cultos religiosos, além de festas (de aniversário, inclusive) e funerais – vai se mostrando eficaz para retardar e diminuir a intensidade do chamado pico de contaminação. Se não formos por aí, será o caos. Se o volume de casos graves explodir acima de um patamar suportável, faltarão, como se viu em outros países, leitos de UTI com respiradores. Ato contínuo, virá o sufocamento do sistema de saúde, o que vai esgarçar o tecido social, com o risco da generalização de mercados negros (não só de álcool em gel) e da violência descontrolada.
A única opção sensata que temos é ficar em casa e, acima disso, ajudar aqueles que não têm moradias adequadas – e não leem estas páginas – a se proteger. Dependemos agora de renúncia e solidariedade. A renúncia é individual: consiste em abrir mão de sair por aí passeando (para buscar o prazer) ou trabalhando (para buscar dinheiro). A solidariedade, claro, só se realiza no plano coletivo. Dispensar os trabalhadores domésticos sem lhes cortar o salário é o mínimo, mas não é suficiente. Estamos sendo chamados a fazer mais.
O mais interessante é que ninguém pode controlar se será ou não será infectado, mas todo mundo pode controlar, ao menos um pouco, se será ou não um vetor de contágio. Ninguém será bem-sucedido em ficar à distância do vírus, por mais que mantenha no armário do banheiro um estoque de máscaras cirúrgicas (que estariam mais bem empregadas se fossem doadas a um hospital). O vírus virá, seja no desenho da netinha ou no prato que o restaurante caro manda entregar por motoboy. Mas temos chances de ser mais bem-sucedidos em postergar o momento em que o vírus que está em nós atinja o próximo.
Eis, então, a metáfora: a única forma de cuidar de nós é cuidar do outro. Se eu quiser cuidar de mim, individualmente, de forma egoísta, estou roubado e, mais ainda, os outros ao meu redor também estão. Note bem o improvável leitor: no caso presente, os vícios privados não nos levarão a benefícios públicos. Só nos levarão ao desastre.
Vamos dizer “não” ao desastre. Vamos dizer “sim” ao pensamento. A metáfora nos desafia a repactuar as bases da civilização enferma. O Estado despachante do capital precisa ser questionado. Os governos autoritários e destituídos de empatia precisam ser derrotados. O sujeito que faz pose de fortão e chama a pandemia de gripezinha, apoiado em fake news, precisa ser desmascarado. É hora de doar tudo o que pudermos a quem não tem, é hora de bater panela e piscar as luzes do apartamento (para quem tem panela, energia elétrica e apartamento).
É hora disso tudo, mas sem lenga-lenga de autoajuda, pelo amor de Deus. Essa conversa de redescobrir o valor da família e as delícias de lavar com cândida o chão da cozinha, francamente, não dá pé. Haja afetação. Haja mariantonietismo. Eu não vejo nenhuma vantagem em ficar trancado no meu endereço domiciliar dando aulas para um notebook, por meio do qual meus alunos tentam me entender e fazer perguntas tão atentas quanto generosas. Quero reencontrar o quanto antes as pessoas que amo e de quem preciso sentir o calor, o beijo, o abraço. Gosto de perdigotos no meio da rua. Sinto saudades das calçadas sobre a quais salivam, enquanto sonham, as famílias que não têm casa para morar e precisam ser salvas.
No mais, a metáfora me intriga.
*Jornalista, é professor da ECA-USP
Zeina Latif: Bom senso
O momento pede união. O medo de errar e ser julgado não pode paralisar gestores
A polarização da sociedade migrou para quem é a favor ou contra o confinamento social. De um lado, quem se preocupa com as perdas humanas diante do colapso iminente do sistema de saúde; de outro, quem teme a recessão. O presidente, por sua vez, estimula a polarização ao defender que tudo deveria “voltar à normalidade”.
Não há como ser binário. O isolamento é inevitável diante da rápida transmissão da doença. A questão é como fazê-lo de forma racional e cuidadosa. É o chamado confinamento vertical.
O debate é necessário porque parece elevado o risco de um isolamento prolongado, a julgar pelo ritmo de crescimento de infectados, certamente subnotificado.
A definição de regras e critérios precisa partir do governo federal, coordenando os entes da federação.
As recomendações devem se basear em análise de custo-beneficio de cada opção disponível, contando com o trabalho conjunto de profissionais da área de saúde, economistas, prefeitos e subprefeitos, e líderes de diferentes segmentos da sociedade e do setor produtivo.
Fácil falar, difícil implementar.
É possível liberar o comércio de rua e o funcionamento de bares e restaurantes, mas com limitações no número de funcionários e no fluxo de pessoas? Quais as exigências mínimas das autoridades sanitárias e de saúde?
É possível prover segurança sanitária no transporte público, higienizando os meios de transporte, limitando o número de pessoas transportadas, mudando os procedimentos nos terminais, fazendo testes aleatórios nos passageiros?
É possível implementar rodízio de horário e de dias para funcionamento de empresas? Em que setores isso é possível?
Como cuidar da população mais carente, já que, diferente do que acredita o presidente, não será possível confinar apenas os mais velhos em lares com exíguo espaço e onde moram muitas pessoas?
É possível preparar as escolas públicas para receber crianças e idosos, claro que em locais diferentes? Como viabilizar isso?
O que fazer com moradores de rua?
Há riscos de todos os lados. A primeira condição para minimizá-los é ter informação, ampla, precisa, transparente e de qualidade. Profissionais e consumidores precisam saber como proceder.
Não há fórmula pronta a ser importada sem ajustes. Tampouco há políticas definitivas, pois os problemas surgirão aos poucos. Será necessária vigilância dos gestores públicos, capacidade de reação tempestiva e flexibilidade para ajustar as políticas.
A decisão sobre o tipo de confinamento deve acompanhar a discussão sobre a melhor utilização dos recursos públicos. No momento, obter recursos é um problema menor. A prioridade deve ser os gastos com saúde e socorro aos mais vulneráveis. Há muita logística envolvida, porém. Onde comprar ventiladores, exames, materiais de atendimento? Como aumentar a produção e fazer o melhor uso do material escasso? Como fazer o dinheiro chegar a quem mais precisa?
Há muitas perguntas e poucas repostas.
A fala do presidente em cadeia nacional pecou não apenas pelo uso político da crise, jogando no colo dos governadores e prefeitos a responsabilidade pela recessão, mas pela omissão. E a cada frase proferida, Bolsonaro revelou sua incompreensão sobre a natureza do problema e a dura realidade da maioria das pessoas.
O discurso de Angela Merkel inspira: “...nós devemos (..) nos concentrar em uma coisa: desligar atividades públicas o mais rápido possível. Naturalmente, nós devemos fazer isso com racionalidade e senso de proporção, porque o Estado continuará a funcionar, os suprimentos com certeza continuarão a ser assegurados e nós queremos preservar a atividade econômica do melhor jeito que pudermos.”
Qual é a nossa proporção?
O momento pede união. O medo de errar e ser julgado não pode paralisar os gestores. Com coordenação e responsabilidades compartilhadas, o peso nos ombros de cada gestor diminui, permitindo a tomada mais adequada e eficiente de decisões. Evita-se também o oportunismo.
Assim, será mais fácil dar as respostas que o País precisa e reduzir os custos da crise.
*Consultora e doutora em economia pela USP
William Waack: Sopa para o azar
Bolsonaro escorregou feio na falsa disputa entre saúde da economia e saúde das pessoas
No Brasil, a ideia de morrer pela coletividade é um conceito distante. A complacência com a morte e a violência é o que expressa melhor um traço da nossa sociedade – basta observar como nós, brasileiros, conseguimos conviver com taxas horrendas de criminalidade há tanto tempo. Enquanto nos orgulhamos e exaltamos a nossa cordialidade, bom humor e alegria de viver.
Com decisiva ajuda do presidente Jair Bolsonaro, mas não só dele, o debate sobre a crise do coronavírus e suas consequências aqui descambou para um ácido maniqueísmo entre saúde das pessoas versus saúde da economia. Debate que, no fundo, mal encobre uma falsa dicotomia. Não dá para separar uma coisa da outra.
No extremo lógico do argumento abraçado por Bolsonaro vamos chegar a uma questão ética que ele provavelmente nem percebe, e que está contida na expressão “darwinismo social”. Simplificando bastante, significa tolerar que os mais frágeis sucumbam, pois assim determinam as “leis” da evolução social – além da noção (pouco difundida na nossa sociedade) do “bem comum”.
Bolsonaro e a defesa que faz da “saúde da economia” (simploriamente, ele deixou-se identificar com um lado na falsa dicotomia) espelham o fato de a sociedade brasileira tolerar a convivência com brutalidade (e desigualdade e miséria), mas, como cálculo político, traduz um perigoso erro de leitura da realidade. Pois, em política, mesmo com nossas notórias hipocrisias, ninguém conseguirá sobreviver associado à noção de que os mais frágeis precisam perecer pelo bem comum da economia.
Bolsonaro não é um jogador de xadrez e, por isso, é difícil assumir que seus atos sejam uma sequência de lances. Ele é um ser político intuitivo que reage a estímulos dados por um grupo restrito de “conselheiros” obcecados por posturas ideológicas que pouco passam de fantasias perigosas, à paranoia das “conspirações” e ao cálculo prático de quais vantagens políticas se oferecem no prazo mais imediato. Além de copiar o deus Trump, que viu os índices de popularidade subirem quando começou a falar que as pessoas querem voltar a trabalhar.
No caso da crise do coronavírus, ele a enxerga como uma ameaça pessoal trazida pela deterioração provável (só se discute o tamanho) da economia e, consequentemente, dos seus índices de aprovação e chances eleitorais. Ocorre que, nessa competição para superar adversários eleitorais reais ou imaginários – governadores de Estado –, ele abriu uma fissura institucional de consequências políticas difíceis de serem antecipadas (só se discute o tamanho).
É o fato de que passaram a existir várias autoridades no enfrentamento da crise, em vários níveis da Federação. Sem que exista – além da formalização de comitês vários – uma liderança central que seria essencial para enfrentar o que vem por aí, em qualquer sentido. Ao contrário do que parece supor Bolsonaro, o público dificilmente fará uma distinção entre quem disse o quê neste momento sobre como combater a crise.
“Quem tinha razão” vai importar muito pouco lá na frente, pois o País – parte-me o coração ter de dizer isso – já entrou na dupla catástrofe de saúde pública e de economia devastada. A questão da liderança surge mais uma vez como um peso negativo no enfrentamento de nossos problemas – faltaram lideranças consequentes em todos os graves episódios e, sobretudo, lideranças com visões além dos seus interesses políticos mais próximos.
Terminei o texto da semana passada afirmando que o coronavírus era uma ameaça grave para Jair Bolsonaro. Entendido, como ele foi, como uma liderança surgida numa onda disruptiva, a onda de 2018. Não calculava, porém, que a crise pudesse diminuí-lo com tanta rapidez. É o que acontece, como se diz em gíria, quando alguém se empenha em dar tanta sopa para o azar.
Luiz Felipe D’Ávila: A guerra das narrativas
Sem união cívica não venceremos a batalha contra obscurantismo, ignorância e populismo
Bolsonaro criou uma persona política baseada numa narrativa simples e eficaz. Ele é o cara do povo que tem coragem de falar as coisas como elas devem ser ditas. Não compactua com a classe política e seus interesses corporativistas e tampouco com a imprensa, ambas jogam contra o interesse do País. Foi eleito pelo povo para acabar com o petismo e a esquerda nefasta, que destruíram o Brasil por meio da corrupção desenfreada e do aparelhamento do Estado. Seu plano para tirar o Brasil desse lamaçal consiste em liderar uma cruzada contra os políticos, as instituições, a esquerda e a mídia. A salvação do País está em Deus, nas Forças Armadas e no governo Bolsonaro. Essa foi a narrativa vitoriosa nas urnas que elegeu Bolsonaro presidente da República.
E qual a narrativa que a oposição oferece para servir de contraponto ao discurso do presidente? Trata-se de uma página em branco. Os opositores do governo tentam camuflar a falta de narrativa com pinceladas de indignação. Criticam as grosserias do presidente e seu desrespeito às leis e instituições, denunciam suas atitudes irresponsáveis e seu comportamento antipresidencial, que reflete seu menosprezo pela democracia.
A oposição carece de uma visão de nação capaz de unir os brasileiros em torno de valores e de um propósito comum. Ela padece de projetos e de propostas que congreguem políticos e partidos em torno de uma pauta mínima que os estimule a dialogar e buscar o entendimento em torno de um plano de ação para defender a democracia. Além de não ter narrativa, visão, propostas e propósito claros, a oposição não possui liderança. Murmurinhos de governadores, beicinhos da elite desiludida com Bolsonaro, reclamações corriqueiras sobre o lento andamento das reformas não ganham eleições.
É inacreditável a passividade cívica dos defensores da democracia. Refugiam-se nas pequenas discussões partidárias, apequenam-se nos projetos pessoais de poder, encastelam-se em seminários que falam para convertidos e permanecem na trincheira dos seus negócios para defender seus interesses particulares. Entre queixas e soluços de indignação propostos pela oposição e a narrativa do descontentamento com a política, com a corrupção e com a esquerda oferecida por Bolsonaro (que representa o sentimento de uma parcela da população que se sente ignorada pelos governos e partidos), o presidente conquistará os votos para continuar no Palácio do Planalto em 2022.
Para salvar a democracia brasileira das garras do populismo autoritário, a oposição tem de acordar e agir. Uma narrativa precisa ter enredo, personagens e uma moral da história capaz de cativar as pessoas e mobilizá-las em torno de valores que elas prezam. A defesa da democracia foi o tema que cativou os brasileiros em 1984. Naquele ano, os opositores do regime militar uniram-se em torno de um movimento nacional para pressionar o governo do presidente Figueiredo a aprovar a emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira que instituía eleições diretas para presidente da República. Assim nasceram as Diretas-Já, o maior movimento cívico da História do País. Milhões de pessoas foram às ruas em todo o Brasil exigindo eleições diretas para presidente da República. Nos comícios havia políticos de diversos partidos, grandes lideranças políticas, como Ulysses Guimarães e Tancredo Neves, líderes sindicais, como Lula, artistas, intelectuais e estudantes. A emenda Dante de Oliveira foi derrotada, mas abriu-se o caminho para a eleição indireta do presidente Tancredo Neves, em 1985, e a volta da democracia.
Em 1994, o povo uniu-se em torno do combate à inflação. Após mais de 20 anos de retumbantes fracassos de governos que apelaram para medidas autoritárias a fim de debelar a inflação - como confiscos da poupança, criação de novas moedas e arrochos salariais -, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, implementou o Plano Real, um projeto para acabar com a inflação respeitando as regras do sistema democrático. Fernando Henrique derrotou Lula no primeiro turno das eleições presidenciais pelo fato de representar a personificação do líder democrata capaz de sepultar a inflação e renovar a esperança dos brasileiros.
Precisamos urgentemente criar um “diretas-já” capaz de mobilizar a sociedade civil e unir políticos e partidos em torno da defesa da democracia e da liberdade individual. Um movimento cívico que mostre a nossa determinação de converter pobreza em riqueza, desalento em igualdade de oportunidades. Uma iniciativa capaz de enfrentar a desigualdade social e crises como a do coronavírus. Isso significa endereçar os reais problemas que afligem as pessoas que temem perder seus familiares, amigos, empregos e negócios num país governado por um presidente que busca bodes expiatórios, em vez de soluções para atenuar o impacto da perda de vidas, do agravamento dos problemas sociais e do derretimento da atividade econômica. Sem essa união cívica seremos incapazes de vencer a batalha contra o obscurantismo, a ignorância e o populismo.
FUNDADOR DO CENTRO DE LIDERANÇA PÚBLICA (CLP), É AUTOR DO LIVRO ‘10 MANDAMENTOS - DO PAÍS QUE SOMOS PARA O BRASIL QUE QUEREMOS’
Vera Magalhães: Convite ao genocídio
Trump e Bolsonaro flertam com a irresponsabilidade ao, de novo, relativizar pandemia
Quando parecia que os líderes das principais nações do mundo estavam convergindo para compreender a gravidade e o ineditismo da crise decorrente da pandemia de covid-19 e para adotar medidas restritivas à atividade econômica e à circulação de pessoas para tentar conter a velocidade da expansão do contágio, a semana iniciou sob o signo do risco de grave retrocesso.
Nos Estados Unidos, candidato a novo epicentro da pandemia graças à velocidade com que os casos de infecção pelo novo coronavírus crescem, Donald Trump recuou da postura mais comedida que vinha adotando nos últimos dias para dizer que quer o país “reaberto” na Páscoa.
Essa declaração contraria todas as projeções de epidemiologistas, que acreditam que o pico da doença ainda não chegou aos EUA. A volta de Trump ao negacionismo tem uma razão evidente: a aproximação das eleições. Sua candidatura foi atingida em cheio pela constatação, literalmente na pele das pessoas, de que o sistema de saúde americano não é funcional e, num momento de calamidade pública, pune até com a morte aqueles que não têm recursos para bancar exames e internações.
A pandemia colocou em pauta, mais do que antes, as propostas do Partido Democrata para a reforma do sistema.
O problema é que os humores do presidente norte-americano sempre influenciam diretamente os de seu admirador brasileiro. E não demorou.
Jair Bolsonaro, que tinha levado um susto com o combo comitiva majoritariamente enferma, repúdio à sua ida ao Coronapallooza, panelaços em doses diárias, pesquisas mostrando um derretimento de sua popularidade e protagonismo dos governadores no combate ao coronavírus, voltou a zombar do risco em cadeia nacional de rádio e TV.
Não que ele tivesse se convencido da gravidade do que ainda estamos prestes a viver em algum momento: toda sua tentativa de soar colaborativo com governadores ou compassivo soava forçada, do discurso recitado à expressão corporal incomodada.
O “vamos abrir na Páscoa” de Trump foi um convite ao relaxamento de Bolsonaro. Em rede nacional, o presidente foi cínico. Encontrou espaço para invadir o confinamento de milhões de brasileiros aflitos para dizer que seu passado atlético faria com que, mesmo que contraísse covid-19, para ele seria uma “gripezinha” ou “resfriadinho”.
Além de zombaria com milhares de doentes e dezenas de mortos, essa postura é uma tentativa patética de vacina: o Hospital das Forças Armadas se recusa a fornecer os testes de dois integrantes da comitiva bolsonarista aos EUA. Ao mesmo tempo o governo tenta restringir a Lei de Acesso à Informação Pública com um pretexto justamente neste momento. Coincidência?
O presidente encontrou energia para, no momento em que se espera que seja adulto, responsável e lidere o País, brincar com a Rede Globo e ironizar um médico do quilate de Drauzio Varella, que tem uma vida dedicada à saúde pública e aos mais vulneráveis.
Trump não é o único estímulo a que Bolsonaro volte a calçar o Rider da irresponsabilidade. O presidente é suscetível às redes sociais, e ali o que não falta é idiota clamando que existe “histeria” da mídia com uma pandemia cuja letalidade ainda não é conhecida.
Mais: alguns empresários boçais desdenharam da pandemia nos últimos dias ao dizer que um número “x” de mortes não era pior que um número “y” de falências ou empregos perdidos.
Não se pode mercadejar com a vida. Isso é uma verdade absoluta para qualquer país, todas as religiões e indistintas ideologias. É o que nos separa da barbárie. Transigir com mortes em nome de uma incerta retomada econômica é nos privar, além de tudo de que já abrimos mão em nome da solidariedade, daquilo que nos é inalienável e não entra em quarentena nunca: nossa humanidade.
Pedro Fernando Nery: Devolvam o FGTS!
Dinheiro foi acumulado por anos sem que reservas de lucro fossem distribuídas
Os trabalhadores chegam à crise com uma poupança. Nas próximas semanas, a economia entrará em quarentena e dois desafios se colocam: evitar que as empresas sem demanda mandem embora seus funcionários, e evitar que quebrem, destruindo para sempre empregos formais. Os trabalhadores têm uma reserva suficiente para manter parcialmente seus salários nos próximos meses: o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Os recursos acumulados no Fundo após décadas de resultados não distribuídos, que compõem seu Patrimônio Líquido, podem ser a solução para pagar os salários – mantendo empregos e empresas e permitindo uma recuperação mais rápida no pós-pandemia.
O FGTS tem cerca de R$ 100 bilhões líquidos em caixa, que lastreiam um patrimônio líquido de montante equivalente – informa Igor Vilas Boas, consultor do Senado que é ex-presidente do Conselho Curador do FGTS. São recursos que, individualmente, não pertencem a nenhum trabalhador.
E existem associados ao Fundo 37 milhões de contas ativas, dos atuais vínculos dos trabalhadores em atividade. Desconte-se os empregados de estatais, que não sofrem risco de demissão, bem como empregados de maior renda, que podem possuir alguma poupança própria. Restam cerca de 30 milhões de contas de trabalhadores que ganham até dois salários mínimos.
Se R$ 100 bilhões do FGTS fossem distribuídos entre esses 30 milhões de trabalhadores, teríamos algo como R$ 3 mil. É possível então pagar um salário mínimo para cada um deles por três meses, ou R$ 1.500 por dois meses – por exemplo. Pelas regras atuais, esse dinheiro não pertence aos trabalhadores, financiando empreendimentos de empreiteiras. Para ser liberado, é preciso lei.
Havendo lei, a Caixa poderia depositar mensalmente os recursos para ajudar os empregadores a pagarem os salários. Não deve haver grande dificuldade logística, afinal o Fundo recebe depósitos dos próprios empregadores. É só fazer o caminho reverso. Vilas Boas explica ainda que essa operação se beneficiaria da expertise do Saque Imediato, feito em 2019.
A ajuda do FAT (que paga o seguro-desemprego) pode cobrir eventuais diferenças ou os meses seguintes, ou auxiliar o governo a desonerar encargos como INSS. O uso do FGTS pode também permitir que o Tesouro concentre seus limitados recursos em ações de saúde ou na assistência, que há de acolher aqueles que nem emprego formal tem para perder. Vilas Boas lembra que a própria manutenção dos salários ajuda o governo a não sofrer tanto com a queda de arrecadação.
A medida não há de ser polêmica. É intuitivo que haja alguma reação das empreiteiras, que terão menos crédito para seus projetos. Mas no estágio atual da crise, os canteiros estão fechados ou prestes a fechar, e diante da incerteza ninguém deve estar contratando novos projetos. O consultor ressalta que o FGTS se beneficiará nos meses subsequentes, com mais depósitos e menos saques.
A manutenção dos postos de trabalho e das empresas é um imperativo para todos os países. Quando a pandemia passar, a economia vai se recuperar mais rápido se as empresas tiverem de pé e se não tiverem de contratar novos trabalhadores – o que demanda tempo e recursos com processos seletivos e, mais importante, treinamento. É uma grande vantagem o Brasil ter uma poupança de R$ 100 bilhões para garantir esses postos – ainda que não se use toda.
A crise da covid-19 escancara distorções de nossa Constituição e da legislação que a regulamenta. A ausência de proteção aos informais apesar de uma Seguridade trilionária. A blindagem dos servidores públicos diante de qualquer desastre. A subtributação dos mais ricos. Mas também o paradoxo de haver um fundo de garantia que pouco garante aos trabalhadores.
Esse dinheiro do FGTS não caiu do céu: ele é resultado direto do suor e talento de gerações de trabalhadores, que depositaram mesmo sem saber parte do seu salário nessa poupança forçada todo o mês. Ele foi acumulado durante anos em que reservas de lucro não foram distribuídas. É hora de devolver. Se não agora, quando?
*Doutor em economia
Eliane Cantanhêde: A Escolha de Sofia
O Brasil hoje: se correr, o bicho covid-19 pega; se ficar, o bicho da recessão come
O mundo todo e o Brasil, particularmente, vivem um dilema típico de “A Escolha de Sofia”. Aprofundar o isolamento e a paralisação de estados, cidades, empresas, empregos e pessoas, em nome da saúde e da vida? Ou mitigar o combate radical ao coronavírus para tentar preservar empresas e empregos, em nome da economia?
Na prática, uma guerra da área sanitária com parte de governantes, empresários e economistas. De um lado, governadores que trabalham diretamente com o Ministério da Saúde e os especialistas no setor; de outro, o presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Economia e aliados.
Em tese, todos têm razão. A prioridade absoluta neste momento é trabalhadores, funcionários, autônomos e diaristas em casa para interromper a transmissão do vírus maldito. A prioridade de hoje, porém, não pode desconsiderar a de amanhã: a pandemia acaba e as vítimas não serão só os mortos e contaminados, mas todos que produzem, vendem, trabalham. O horizonte é de terra arrasada, com recessão, quebradeira de empresas e lojas, 40 milhões de desempregados, na previsão de um grupo de empresários.
Como sempre, em todas as crises, dificuldades e momentos, as maiores vítimas todos nós sabemos quem são e serão: velhos, homens, mulheres e crianças da tal da “base da pirâmide”. Passado o momento em que os infectados e mortos eram recém-chegados da Ásia e da Europa, ou por eles foram contaminados, a expectativa, que dá um tremor no corpo e um frio na coluna, é que o vírus chegue às favelas, cortiços, às imensas áreas sem água, sabão, muito menos álcool gel.
São milhões com imunidade baixa, higiene precária, compreensão da situação equivalente ao (mínimo) grau de educação. Logo, serão os alvos fáceis de um vírus oportunista e letal. São os moradores de rua, os que vendem água, milho ou qualquer coisa por aí, os diaristas que só recebem (e comem) quando trabalham e, entre eles, os informais, que crescem freneticamente e sem amparo legal. Eles vão morrer mais com o vírus e vão sofrer mais no pós-vírus. Se correrem, o bicho covid-19 pega; se ficarem, o bicho da recessão come.
O novo coronavírus chegou para valer em todas as unidades da Federação, decretando calamidade pública, prenunciando colapso da saúde e crescendo na velocidade do exemplo mais dramático, a Itália. E tudo isso na pior hora. Um dos líderes mundiais em desigualdade social, o Brasil convive com falta de estado e bolsões de miséria absoluta em todas as suas regiões. E vem de dois anos de recessão, de mais dois “crescendo” 1,3% e desperdiçou 2019 com PIB de 1,1%. Mais: a questão fiscal é o maior obstáculo da economia.
De onde tirar a montanha de dinheiro que o País precisa para salvar vidas, tratar doentes, preservar setores mais atingidos, empregos, milhões de famílias sem renda? O governo tem anunciado medidas, como flexibilização das regras trabalhistas e de pagamento de dívidas e vales de R$ 200,00 para informais e os mais miseráveis entre os miseráveis. Mas, num País populoso como o nosso, significa que a conta é altíssima para os cofres públicos, mas o valor que chega à mesa das famílias é irrisório. Tudo deprimente, apavorante.
A luz no fim do túnel só virá, primeiro, com o máximo rigor contra a transmissão do vírus e, depois, com união, patriotismo, solidariedade, as disputas políticas de lado, o presidente acordando para a realidade e uma certa elite esquecendo, por ora, a eterna ganância e a velha arrogância. Aliás, uma pergunta: como os bancos vão entrar nessa onda? Governos de esquerda, centro e direita vêm e vão e esse é o setor que mais lucra. É hora de retribuir, porque se trata de questão de vida e morte. Das pessoas e da economia.
Rubens Barbosa: O impacto geopolítico do coronavírus
O mundo pós-pandemia deve emergir com novas prioridades, num novo cenário global
A epidemia do coronavírus – a pior dos últimos cem anos – terá profundas consequências sobre um mundo globalizado, sem lideranças alinhadas e pouco solidárias entre si. O impacto econômico e social vai ser profundo, com o custo recaindo nos mais pobres, fracos e idosos e em países menos preparados e desenvolvidos.
Os efeitos sobre os países e sobre a economia global estão sendo sentidos e deverão agravar-se antes de melhorar.
Como a geopolítica global poderá ficar afetada pela epidemia? O que poderá mudar no cenário global?
Duas observações iniciais. A crise atual mostrou que as fronteiras nacionais desapareceram com as facilidades do transporte aéreo e o imediatismo das comunicações. E que as políticas econômicas domésticas estão intimamente influenciadas pelo que acontece no resto do mundo. Nenhum país ou continente é uma ilha. Por outro lado, a extensão e a repercussão da crise, em larga medida, deriva do peso da China na economia global. No inicio da década, quando se disseminou a Sars, o país representava 4% da economia global, hoje representa 17%. A China é a segunda economia mundial, o maior importador e exportador do mundo e, para culminar, transformou-se num centro de suprimento de produtos industriais para as cadeias globais de valor.
Quais as consequências na relação entre os EUA e a China, as duas superpotências atuais? Nos últimos anos cresceu a competição entre os dois países pela hegemonia global no século 21. Os EUA, ao se isolarem e ampliarem ações confrontacionistas, protecionistas, nacionalistas e xenófobas, dificultam a interdependência dos países, como ocorre com a globalização. Enquanto os EUA apontam a China como adversária estratégica e criticam o governo pela condução da epidemia (vírus chinês), Beijing, ao invés de fechar as fronteiras, como fez Washington, favorece a abertura e a ampliação do comércio externo e manda médicos e equipamentos para a Itália, a Espanha e o Brasil a fim de ajudar a combater o coronavírus. A guerra fria econômica, a nova fase da confrontação, evidencia-se pela iniciativa chinesa da Rota da Seda, pela competição nas redes 5G e por conflitos sobre propriedade intelectual e inovações tecnológicas.
A pandemia poderá também ter efeito relevante no cenário interno dos dois países com consequências geopolíticas. Xi Jinping disse que caso a epidemia se prolongue haverá o risco de instabilidade econômica e social no país. A maneira como, de início, Donald Trump conduziu a crise epidêmica em seu país foi muito criticada e sua popularidade caiu. As prévias do Partido Democrata vêm definindo Joe Biden como o candidato contra Trump, com apoio do centro moderado. Caso essa tendência se firme, pela primeira vez seria possível pensar numa derrota do atual presidente. O resultado da eleição, em novembro, poderá ter efeitos importantes na geopolítica global caso haja uma mudança da atitude do governo de Washington em relação ao mundo.
Outra questão é como países e empresas reagirão para reduzir sua dependência do mercado e da produção de partes e componentes chineses nas cadeias produtivas. A tendência poderá ser uma gradual redução dessa dependência e alguns países mais preparados e organizados, como o Vietnã e alguns outros asiáticos, poderão sair ganhando com investimentos para substituir a China. Em médio prazo, a projeção externa das grandes economias vai depender de sua base produtiva nacional e de sua competitividade.
A estabilidade política e econômica global poderá ser significativamente afetada pela vigilância biométrica, que poderá vir a ser implantada para evitar epidemias futuras. A preocupação com a saúde poderá levar à invasão da privacidade, com possíveis reflexos em políticas totalitárias. Quanto à dramática queda do crescimento dos EUA e da China, as projeções apontam para uma redução norte-americana de 4% no primeiro trimestre e 14% no segundo. Para a China as estimativas de crescimento não são maiores que 3,5% para 2020. Caso os EUA entrem em recessão e as projeções sobre a China se confirmem, não se pode afastar a possibilidade de recessão e, no pior cenário, de uma depressão, talvez mais dramática que a de 1929, por não ficar limitada ao setor financeiro. Como os países emergentes, produtores agrícolas, sairão de um cenário tão dramático como esse?
A Europa está debilitada pela saída do Reino Unido e viu a situação humanitária, social e econômica agravada pela crise em alguns países, como Itália e Espanha. Em cenário dramático como o atual, é possível prever que o continente sairá com seu poder relativo diminuído.
O Brasil, uma das dez maiores economias do mundo, terá de se ajustar rapidamente à nova geopolítica global, sob pena de perder mais uma vez a oportunidade de se projetar como potência média em ascensão.
Em outros momentos da História, movimentos tectônicos transformaram o equilíbrio de poder entre as nações e os rumos da economia. O mundo pós-coronavirus deverá emergir com novas prioridades e com um novo cenário geopolítico, com a Ásia – em especial a China – em melhor posição para ocupar um crescente espaço político e econômico.
*Presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (IRICE)
Carlos Pereira: O preço da loucura
Insanidade de Bolsonaro de ir a manifestação é expressão do presidencialismo plebiscitário
Diante dos últimos comportamentos do presidente Bolsonaro, muitos têm vaticinado que o presidente está louco. Alguns, inclusive, defendem que o Ministério Público peça que uma junta médica avalie a sanidade mental de Bolsonaro para saber se ele de fato teria condições para exercício do cargo de presidente da República.
Ter conclamado e participado de manifestação contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal em plena pandemia do novo coronavírus e ainda sob suspeita de estar contaminado, colocando em risco os demais participantes da manifestação, seria um sinal de perturbação mental ou, pelo menos, de enorme irresponsabilidade.
Existiria cálculo racional nesse comportamento aparentemente insano?
A loucura é um fenômeno muito complexo e multifacetado. A negação da realidade é uma das suas expressões ou sintomas mais comuns. No caso específico do presidente Bolsonaro, sua suposta insanidade nasce da negação da própria política.
Bolsonaro é produto de uma sucessão de eventos inusitados. A conjunção de recessão econômica de graves proporções e exposição visceral a escândalos sucessivos de corrupção gerou, em uma parcela considerável do eleitorado brasileiro, uma espécie de aversão à política. Como se a política “tradicional” fosse necessariamente “suja”.
Bolsonaro preencheu as expectativas de “limpeza” da política brasileira. Fez uma associação direta entre o tipo de presidencialismo de coalizão predatório implementado pelo petismo à corrupção. Ao mesmo tempo em que essa estratégia se mostrou vitoriosa nas eleições, fez, paradoxalmente, o presidente vítima desta narrativa. Terminou por aprisionar o governo a um modelo de governar que contraria a essência do nosso sistema político.
Diante da negação sistemática dos instrumentos tradicionais de governo em um presidencialismo multipartidário, restam poucas alternativas a Bolsonaro. A conexão direta com seus eleitores mais fiéis, que beira a insanidade, tornou-se o modus operandi do governo. A estratégia dominante passou a ser o desenvolvimento de crises quase que diárias, confusão e belicosidade com adversários, briga com os próprios aliados, ataques indiscriminados a todos que lhe impõem restrições.
É por isso que Bolsonaro governa sempre testando e avançando os limites institucionais. Portanto, na aparente loucura do estilo de governar confrontacional há uma estratégia nítida de sobrevivência política.
É sonho de todo governante que quer deixar um legado histórico enfrentar crises agudas tais como guerras ou pandemias para unir o país em torno dele e assim enfrentar o inimigo comum. Entretanto, Bolsonaro não consegue se desvencilhar das amarras que se auto impôs. Para Bolsonaro, essa oportunidade foi perdida. Em vez de unir o País para combater o inimigo mortal e invisível, ele o dividiu. Ao invés de reconhecer a gravidade da guerra, ele a menosprezou.
Bolsonaro não percebeu que o medo da população em perder vidas com o coronavírus suplantava os riscos de crise econômica, pois não se deu conta que as pessoas tendem a descontar o futuro. Ou seja, as preocupações de hoje são sempre maiores do que as que estão por vir. Bolsonaro, portanto, contrariou os anseios da população e os sinais de rejeição entre seus supostos seguidores começaram a aparecer.
O panelaço e os vários pedidos de impeachment evidenciam isso. Dessa vez, a loucura de Bolsonaro pode lhe custar caro.
Fernando Gabeira: Um vírus na era digital
Pensei num aplicativo que contivesse algumas variáveis, tais como febre, tosse, dificuldade respiratória
Depois de seis anos viajando, às vezes mais de mil quilômetros por semana, minha única aventura agora foi dar uma volta de bike pela Lagoa.
Ainda há poucas pessoas caminhando ou correndo. Um corredor usando máscara azul gritou para mim: “Cadê a máscara?” Tive vontade de voltar e mostrar para ele meu pequeno frasco de álcool gel. Mas evitei aproximações. Da Lagoa iria para o isolamento total.
No dia seguinte, vi a entrevista de vários membros do governo usando máscara. Lembrei-me do corredor da Lagoa. Ele a usava com naturalidade, parecia uma extensão natural do seu rosto.
Mas o governo, por seu lado, ao invés me dar a certeza de que estava brigando com o coronavírus, parecia estar brigando com a máscara. No centro da mesa, o grande timoneiro, irritado com o incômodo, acabou deixando a máscara pendurada na orelha, como um brinco. Quando falou que ainda não havia vacina, temi que acrescentasse um felizmente, porque terraplanistas acham vacina e rock and roll coisas do demônio.
Não vou me deter nos Bolsonaros. É perda de tempo. O Brasil não vai derrotar o vírus com panelaços. A família adora comprar briga para encobrir sua profunda incapacidade. Quando não a encontra aqui, não hesita em buscá-la na China.
Quando um ministro de máscara e tipoia anunciou que o governo iria ajudar o Nordeste, percebi que havia uma grande lacuna na mesa. Onde estava o homem encarregado da Ciência e Tecnologia? Na Lua?
Todas as esperanças de cura estão na Ciência. Mas a possibilidade de atenuar o impacto destrutivo do coronavírus está também na tecnologia. O Brasil tem 230 milhões de smartphones. Ao falar sobre isso na TV, fui contatado por uma empresa que trabalha no Porto Digital de Recife. Ela se chama Wololo e criou uma plataforma de rede verticalizada na qual algumas fontes passam informações úteis e necessárias e fazem de cada usuário um propagador. Isto deveria ser examinado pelo Ministério da Saúde, que vê aumentar em milhões as suas consultas.
Mas a ideia que mencionei na TV era outra. Pensei num aplicativo que contivesse algumas variáveis tais como a existência de febre, tosse, dificuldade respiratória, idade, doença crônica, através do qual fosse possível monitorar milhares de pessoas.
Na Coreia do Sul, quando se localiza um caso, através do GPS é possível monitorar também pessoas que estejam num raio de cem metros.
Soube que há discussões no Porto Digital sobre a produção de respiradores em 3D. Mas são propostas ainda muito ousadas. E sei também que os Estados Unidos estão deslocando todo o seu aparato de controle de terrorismo para buscar saídas tecnológicas de controle da pandemia.
Não tenho dúvida de que muitos problemas de privacidade vão surgir desse esforço. É preciso tratá-los com cuidado para não ameaçar as liberdades individuais.
As possibilidades de aumentar o controle da epidemia através dos smartphones são muito grandes. Imagine se for necessário determinar quarentena para pessoas que chegam do exterior. Como garantir que isso é realmente cumprido? O smartphone pode ser uma espécie de tornozeleira eletrônica do bem.
Sei que estou divagando meio solitariamente na minha reclusão voluntária. No entanto, os dois ministros que considero sensatos, Mandetta e o general Braga Netto, e tocam a crise poderiam estimular a sociedade a criar possibilidades de ajuda através de aplicativos e criar um núcleo no governo para receber propostas e fazer uma triagem.
Da mesma forma, Braga Netto poderia orientar o Itamaraty, perdido em batalhas ideológicas, a dar um informe sobre o que está sendo feito na Coreia do Sul, em Israel e nos Estados Unidos.
Ao lado do vetor científico, é preciso criar uma iniciativa tecnológica que não se esgota na telemedicina, que, por sinal, já deveria estar regulamentado há muito tempo.
Quando a Aids chegou ao Brasil, a ciência teve um papel decisivo e rumamos rapidamente para o coquetel antiviral e sua distribuição gratuita.
De novo, estamos diante de um grande desafio, mas, da Aids para cá, houve um grande salto tecnológico. Quando surgiu o primeiro paciente de Aids no Brasil, procurei o governo para dar o alarme. Fui tratado como um romântico sonhador. Não importa muito se o gato é maluco ou careta: o importante é que ele pegue o rato.
Armínio Fraga, Miguel Lago e Rudi Rocha: Prefeituras podem virar o jogo na crise coronavírus
Para evitar um caos hospitalar, a semana que se inicia é crucial. O governo federal, os estados e municípios precisam tomar medidas imediatas que possam achatar a curva de contágio
Na última sexta-feira (20/03), o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta declarou que o período de pico de infecções por covid-19 no Brasil será nos meses de abril, maio e junho. O ministro já admite que ao final de abril nosso sistema de saúde entrará em colapso. Esse cenário se apresenta como ainda mais severo que o vivido pelos italianos. Para evitar um caos hospitalar dessa magnitude, a semana que se inicia é crucial. O governo federal, os estados e municípios precisam tomar medidas imediatas que possam achatar a curva de contágio e organizar o fluxo de atendimento do sistema de saúde.
O impacto da covid-19 em nossos hospitais será tremendo. O Brasil já não tem capacidade hospitalar suficiente para atender o quadro sanitário existente. Persistem em nosso território os desertos sanitários: são ao todo cento e vinte três regiões sanitárias sem nenhum leito em UTI. O aumento de demanda por leitos ocasionado pelo coronavírus agrava essa situação e exigirá um aumento significativo da produção hospitalar. O Instituto de Estudos de Políticas de Saúde (IEPS) estima que cada um por cento de população infectada corresponderá a um bilhão de reais de gastos em hospitalizações adicionais em unidades de tratamento intensivo. Com a declaração do estado de calamidade, o Tesouro está livre para fazer este investimento, sem dúvida de alto retorno social e humanitário.
Existem outras e rápidas medidas que podem contribuir para limitar os danos da pandemia. No topo da lista está o distanciamento social. Evidências demonstram que tal medida é capaz de achatar a curva de contágio da epidemia, o que minimizaria o número de casos graves desatendidos.
No entanto, é ilusório acreditar que o terço mais pobre do Brasil, composto de pessoas que ganham menos de meio salário mínimo, deixará de circular nas cidades só com decretos impositivos, toques de recolher e outras medidas de vigilância. É necessário garantir um mínimo de assistência para compensar a extraordinária perda de renda causada pelo distanciamento social. E é necessário fazer isso já. O governo federal tem as condições de injetar recursos na economia ainda nesta semana, diretamente a mais de setenta milhões de brasileiros. O Brasil dispõe de uma base de dados organizada com informações que identificam esses indivíduos – o Cadastro Único, que lista beneficiários de todos os programas sociais focados nas famílias de baixa renda. Ao abarcar os indivíduos listados no Cadastro Único, sem necessidade de triagem adicional, o governo federal poderá evitar importantes custos e demoras de implementação.
Essas medidas de apoio socioeconômico contribuirão imediatamente ao controle do contágio. Mas elas não são suficientes: é fundamental que sejam complementadas com esforços na triagem e organização do atendimento hospitalar. Nesse sentido o SUS é fundamental, com sua rede de Atenção Básica resolutiva, cuja responsabilidade compete aos municípios. No momento, existe grande disparidade na capacidade de resposta por parte das prefeituras.
É fundamental que elas comecem a trabalhar de maneira coordenada, cumprindo um mínimo de repertório de ações. O IEPS preparou um check list de enfrentamento à covid-19 direcionado aos municípios, prevendo ações de rápida implementação em quatro dimensões essenciais. O protocolo indica como as prefeituras podem orientar suas ações a partir dos dados e evidências existentes; adaptar a organização dos serviços de saúde; fortalecer a prevenção através da comunicação com a população; e, por fim, reformular estratégias de gestão instaurando uma cadeia de comando e controle eficiente durante o período de crise. Não há tempo a perder: se quisermos evitar o total colapso do sistema hospitalar do país dentro de um mês, é necessário que governo federal e as prefeituras implementem essas ações esta semana.
*São respectivamente presidente do Conselho, diretor-executivo e diretor de pesquisa do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde.