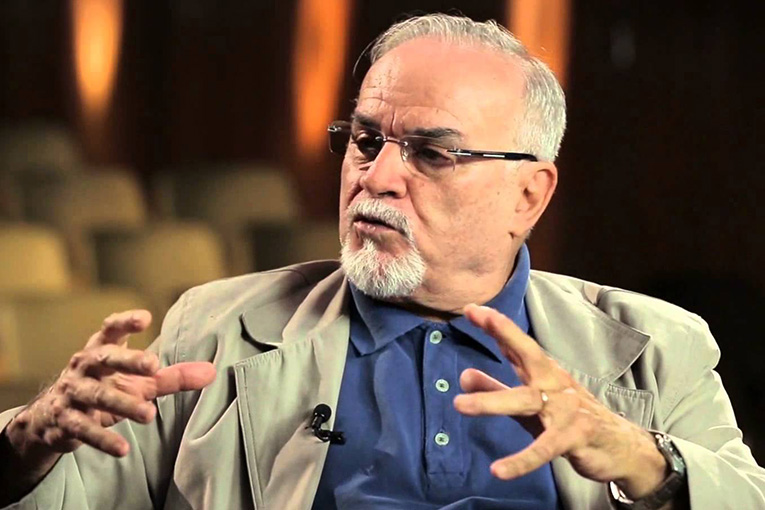O Estado de S. Paulo
Luiz Werneck Vianna: A política não é jogo de azar
Os alardeados arquitetos do futuro não se dão conta do terreno em que pisam
A bordo de uma embarcação precária estamos em pleno mar com tripulantes e passageiros surdos aos avisos dos perigos que correm por navegarem sem atinar com os rumos a seguir. Cada qual aferrado a seus interesses particulares sinaliza um caminho: sem forças próprias à mão há os que confiam na sorte e clamam pela eleição direta para a Presidência, remédio heroico inconstitucional e de resultados sabidamente aleatórios; outros, com as virtudes da prudência, recomendam a singela travessia de uma pinguela ainda à disposição.
Vozes dissonantes sugerem o recurso ao clamor popular a fim de obrigar a renúncia da tripulação, embora o som ao redor não aparente estimular os que recorrem a essa solução. Mas nestes tempos estranhos que vivemos se faz ouvir em alto e bom som o grito de guerra salvacionista: fiat iustitia, pereat mundus. O nó górdio que nos ata deveria ser cortado de imediato por decisão judicial, a cabeça presidencial exibida como o bode expiatório que nos expurgaria dos nossos males.
As soluções engenhadas nessa alquimia hermenêutica a que estamos sujeitos encontram, como no poema, uma pedra no seu caminho, o Estado Democrático de Direito e a Carta Constitucional que o institui. No caso, a denúncia a ser apresentada por presumidas ilicitudes contra o presidente da República demanda, conforme a lei, sua aprovação por dois terços de votos na Câmara dos Deputados, inviável, segundo consta, diante da correlação de forças políticas vigente.
Mas há quem sustente que os objetivos maiores de salvação nacional não deveriam recuar diante de questiúnculas formais – conservadores empedernidos ousam falar sem enrubescer a linguagem das revoluções. Que se mude de afogadilho a Constituição para se instituírem de um só golpe as diretas já – há juristas para isso? – se esse for o preço a ser pago pela cabeça do presidente. A ser sucedido por quem, mesmo?
A política virou jogo de azar e diante da roleta se aposta com audácia contra a banca, como se a invocação do grande número – a multidão ainda em silêncio obsequioso – tivesse o condão de fazer a roda do destino favorecer os desejos recônditos dos apostadores. Não se flerta impunemente com as revoluções. As paixões das multidões podem ser desencadeadas por intervenções messiânicas de setores da elite do Judiciário em aliança com a mídia hegemônica, mas é preciso viver no mundo da lua para cogitar, no caso de elas irromperem na cena pública de modo generalizado, de que seriam apaziguadas num passe de mágica com a mera higienização do sistema político. As jornadas de junho de 2013, que conheceram seu momento de fúria, quando apresentaram sua conta não havia quem pudesse pagá-la. A conta de agora pode ser muito maior.
Os alardeados arquitetos do futuro não se dão conta do terreno em que pisam e, definitivamente, o Brasil não é um país para principiantes, em particular para aqueles jejunos em matéria política e que dela só conhecem o que se passa no círculo fechado das corporações. Com efeito, somos aqui refratários à linha reta, amigos do barroco, onde temos fixado boa parte de nossas raízes. Sobretudo, não somos, para o bem e para o mal, filhos da Reforma. Não tememos os ziguezagues, nosso Estado-nação foi criado em nome do liberalismo político e dos ideais da civilização, mas preservou instrumentalmente a escravidão, fizemos a revolução burguesa sem revolução, nos moldes das revoluções passivas, e realizamos uma potente obra de modernização econômica e social sem remover as estruturas patrimonialistas do Estado, que, aliás, também foram instrumentais a ela.
No processo constituinte que conduziu a promulgação da Carta de 88, realizado ainda no curso de uma difícil transição do regime autoritário para a democracia política – vale dizer, sem ruptura com a ordem anterior –, essa história errática foi a matéria-prima com que o legislador teve de se confrontar nos seus pontos mais sensíveis. A questão agrária foi um deles, frustrando-se as tentativas de democratização da propriedade da terra com ameaças de resistência armada por parte de grandes proprietários. A questão sindical não teve melhor sorte, constitucionalizando-se mais uma vez, tal como ocorrera na Carta de 1946, o cerne da legislação do Estado Novo, com o expurgo de sua ganga autoritária.
O gênio do legislador constituinte foi o de continuar descontinuando, democratizando o que lhe foi acessível numa arriscada circunstância de transição. Compensou, no entanto, sua atitude prudencial em alguns temas com uma arrojada legislação em matéria de direitos civis e sociais, criando novos institutos, entre os quais o Ministério Público, destinados a ser lugares de concretização dos direitos que estatuiu, alguns deles facultados à intervenção da sociedade civil para a defesa ou mesmo a aquisição de direitos. Ao estilo de uma obra aberta, o constituinte confiou à sociedade a materialização, ao longo do tempo, do espírito que a animou.
A Operação Lava Jato, herdeira da Carta que criou esse Ministério Público que aí está, não deixa de exercer, em surdina, “papéis constituintes” quanto ao sistema político, dimensão que, em face do clima libertário dos anos 1980, foi negligenciada. Nesse sentido, tem sido muito bem-sucedida, embora, ao contrário do legislador constituinte, que se manteve atento ao realismo político, arrisque temerariamente comprometer sua obra pelo comportamento de “apóstolos iluminados” de alguns dos seus quadros que, visando a passar nossa História a limpo, não temem jogar fora o bebê com a água do banho – no caso, o bebê é a política e a Constituição.
O filósofo Roberto Romano, em Sobre golpes e Lava Jato, luminoso artigo publicado nesta página em 18 de junho, identificou os efeitos nefastos do uso da lei como recurso tático em nome da salvação pública. Eis aí o caminho aberto para um Estado de exceção.
*Luiz Werneck Vianna é sociólogo, PUC-RIO
Fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-politica-nao-e-jogo-de-azar,70001873316
Fernando Henrique Cardoso: Crise, não só política
Está nos faltando a mensagem que aponte caminhos de esperança para passos à frente
Há poucas semanas participei de um encontro preparatório de uma conferência que organizarei em Lisboa para a Fundação Champalimaud sobre a crise da democracia representativa. Ao encontro compareceram, ademais dos responsáveis pela fundação, Alain Touraine, Pascal Perrineau, Michel Wieviorka, Ernesto Ottone, Miguel Darcy e Nathan Gardels, entre outros intelectuais. Os debates ressaltaram que a população desconfia da justeza e mesmo da capacidade de gestão dos sistemas político-partidários prevalecentes nas democracias representativas. Um dos presentes citou o abade Sieyès, que afirmava: “Se o poder vem dos que estão em cima, a confiança vem dos que estão em baixo”. Escapam dessa crise, por óbvio, os países onde prevalecem formas autoritárias de mando em que conta a repressão, não o consentimento.
Perrineau chamou a atenção para dados mostrando que não diminuiu a confiança nas famílias, nas instituições comunitárias, no localismo. A crise parece ser mais “política” e quanto mais distante a pessoa está dos centros de poder, mais desconfia deles. Tem inegavelmente uma dimensão territorial: quanto mais afastados estão os núcleos populacionais das novas modalidades de produção e da vida associativa contemporânea “em rede”, maior a probabilidade do seu enraizamento nas tradições, maior o “conservadorismo” e maior temor do “novo”, principalmente da substituição do trabalho humano por máquinas. Pior ainda, por máquinas “inteligentes”.
Há mais: nessa quebra de confiança vão de cambulhada as instituições políticas criadas ao longo dos dois últimos séculos, os partidos e os parlamentos. O analista se surpreende quando vê que na distribuição de voto, tanto nas últimas eleições francesas como nas inglesas do Brexit ou nas norte-americanas que elegeram Trump, o “voto operário” se deslocou para a “direita” e com ele se foi também boa parte do voto proveniente do que se chamava de “pequena burguesia”. O Labour Party inglês, os democratas nos Estados Unidos e os socialistas e comunistas na França foram levados de roldão pelo voto “conservador” ou, quem sabe, pela formação de uma maioria de outro tipo, como fez Macron.
Em resumo, há algo de novo no ar e não apenas nas plagas brasileiras. Uma nova sociedade está se formando e não se vê claramente que instituições políticas poderão corresponder a ela. Dito à moda gramscsciana: o velho já morreu e o novo ainda não se vislumbra; ou, se vislumbrado, não é reconhecido, acrescento.
Que força motora provoca tão generalizadas modificações? Relembrando o assessor de Clinton que dizia sobre o fator-chave nas eleições “é a economia, seu bobo”, poder-se-ia dizer agora: é a globalização (como digo há décadas). Esta surgiu com as novas tecnologias (nanotecnologia, internet, robotização, contêineres, etc.) que revolucionaram as relações produtivas, permitiram a deslocalização das empresas, a substituição de mão de obra por máquinas, a interconexão da produção e dos mercados, etc. Tudo visando a “maximizar os fatores de produção”, ou seja, concentrar os centros de criatividade, dispersar a produção em massa para locais de mão de obra abundante e barata e unificar os mercados, sobretudo financeiros. Criaram-se assim condições para a emergência de sociedades novas.
Novas não quer dizer “boas sociedades”, depende de para quem. Sem dúvida o crescimento exponencial da produtividade e da produção aumentou a massa de capitais no mundo. Sua distribuição, entretanto, não sofreu grande desconcentração. Mais ainda, o “progresso” trouxe, ao lado da diminuição da pobreza no mundo, o aumento do desemprego formal e dificuldades para a empregabilidade, posto que o trabalho humano conta mais, nos dias de hoje, se com ele vier criatividade. Globalmente houve um amortecimento do controle nacional de decisões (pela concentração de poder nos polos criativo-produtivos e bancários) sem haver regras de controle financeiro global. Com isso a ameaça de crises, ou ao menos a percepção da possibilidade delas, aumentou as incertezas.
É inegável que a “nova sociedade” incrementa a mobilidade social (forma-se o que, à falta de melhor nome, se está chamando de “novas classes médias”) e ao mesmo tempo se criam contingentes não desprezíveis de inocupados ou impropriamente ocupados (novas formas de subemprego). Ao mesmo tempo se deslegitimam as formas institucionais anteriores, os partidos, e mesmo as de coesão social (as classes com seus sindicatos e associações). Criam-se sociedades fragmentadas, às que se somam, em situações como a brasileira, a fragmentação dos partidos. Em qualquer caso, dá-se perda de sua credibilidade. Pouco a pouco se dissipam os laços entre “a sociedade” e o “sistema político”. Há, portanto, mais a ser entendido e contextualizado do que uma crise do sistema representativo.
Isso implica novos populismos e leva a “direita” ao poder? Não necessariamente. Alain Touraine, em sua apresentação, referiu-se a um tema que lhe é caro: liberdade, igualdade e dignidade são os motes nos quais há que persistir. Mas como? Trump juntou os cacos da “velha sociedade”, o rustbelt, temerosa dos outros e do futuro (lá vêm os imigrantes, ou os terroristas ou, extremando, os “muçulmanos”) e ganhou. Macron, contudo, ganhou defendendo a liberdade e o progresso (a globalização e a integração da Europa) e combateu as corporações, poderosas na França.
Em países como o nosso, isso não basta: há que insistir na igualdade (nas políticas sociais, em reformas que combatam os privilégios corporativos). E, principalmente, na “dignidade”, no respeito à pessoa e à ética. O “basta de corrupção!” não é uma palavra de ordem “udenista”. É um requisito para uma sociedade melhor e mais decente.
Em momentos de transição, a palavra conta: só ela junta fragmentos, até que as instituições e suas bases sociais se recomponham. É o que nos está faltando: a mensagem que aponte caminhos de esperança para passos à frente.
* Fernando Henrique Cardoso é sociólogo. Foi Presidente da República
Fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,crise-nao-so-politica,70001873312
O Estado de São Paulo: O valor probatório da delação
É muito oportuna a decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4.ª Região afirmando que colaboração premiada, sem outras provas, não basta para condenar um réu
Editorial
Num momento em que pairam acaloradas discussões sobre o papel das delações no processo penal, é muito oportuna a decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4.ª Região afirmando que colaboração premiada, sem outras provas, não basta para condenar um réu. No caso, a 8.ª Turma, por maioria de votos, absolveu o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, condenado pelo juiz Sergio Moro a 15 anos e 4 meses de prisão – por considerar que não havia prova suficiente, existindo apenas delações premiadas.
O TRF da 4.ª Região não costuma abrandar penas. Em geral, a Corte confirma as punições aplicadas pelo juiz Sergio Moro e, não raro, as aumenta. Tanto é assim que, na mesma decisão que absolveu o sr. João Vaccari Neto, os desembargadores mais que dobraram a pena de Renato Duque, ex-diretor de Serviços da Petrobrás. Eles entenderam que havia ocorrido concurso material nos crimes de corrupção, e não simples continuidade delitiva. Com isso, a pena inicialmente aplicada ao sr. Renato Duque, de 20 anos e 8 meses, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, passou a ser de 43 anos e 9 meses de reclusão.
A decisão do TRF manifesta uma exemplar sintonia com a lei. No art. 4.º, § 16 da Lei 12.850/2013 é expresso: “Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador”. Diante da clareza da lei, não é possível transigir e achar que, em algum caso excepcional, haveria a possibilidade de condenar alguém com base apenas em delações premiadas. A corrupção e a impunidade não serão vencidas com manobras interpretativas da lei. Justamente por ser tão urgente conferir outro grau de respeito à lei urge ser muito estrito na aplicação da lei, também quando ela não agrada a todos.
É muito pedagógico que um tribunal decida pela absolvição de um réu por falta de provas, mesmo havendo delações premiadas que o apontem como culpado. Na decisão de absolver não há uma afirmação definitiva de que o crime pelo qual ele foi acusado não foi cometido. Diz-se apenas que o Ministério Público (MP), mesmo tendo obtido várias delações premiadas, não produziu as provas necessárias.
Tal ponto tem uma enorme importância nos dias de hoje, diante de uma distorção que vem se tornando cada vez mais frequente. Na forma como foi concebida e é aplicada em outros países, a delação premiada é ponto de partida para investigações criminais. A partir das informações prestadas pelo colaborador da Justiça, os agentes da lei realizam investigações com o objetivo de produzir provas robustas, que fundamentarão, a seu tempo, o processo penal. No Brasil, parece às vezes que as delações são vistas como o término da investigação. O trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público seria destinado a conseguir delações premiadas. Uma vez obtidas, estariam prontos – essa é a impressão – para levar o caso à Justiça.
Ora, a delação premiada não deve substituir a investigação. A experiência tão positiva dos outros países, que levou a que o ordenamento jurídico nacional ampliasse cada vez mais o uso da colaboração premiada, aponta que a eficácia do acordo de delação está justamente em ser auxílio à investigação. Ao contrário do que se poderia pensar, a colaboração premiada não diminui o trabalho investigativo da Polícia e do MP. Ao abrir novas frentes de investigação, apontando crimes antes desconhecidos, ela as amplia enormemente.
A proibição da Lei 12.850/2013 de se condenar apenas com fundamento em colaborações premiadas preserva, portanto, o sentido original das delações, de auxílio às investigações. Caso meras palavras, ditas por quem se beneficia em dizê-las, pudessem servir para provar crimes, o processo penal ficaria seriamente enviesado. Em vez de ser um instrumento para alcançar a verdade dos fatos – finalidade de todo processo judicial –, as delações se transformariam num obstáculo adicional para o juiz saber o que realmente ocorreu, já que se atribuiria valor probatório a informações transmitidas em contexto não isento.
É preciso reconhecer que conteúdo de delação que não foi provado não serve para nada. A decisão do TRF da 4.ª Região talvez possa ajudar alguns a perceber que o passo seguinte à obtenção da delação deve ser a investigação, e não o vazamento. E que nenhuma campanha de convencimento da opinião pública substitui provas, num tribunal honesto.
Fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-valor-probatorio-da-delacao,70001869796
O Estado de S.Paulo: Lições de uma derrota
A rejeição da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais do Senado serviu para reiterar a duvidosa qualidade da base de apoio a Michel Temer no Congresso
A rejeição da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado foi comemorada como um gol de placa pelo time dos inimigos da modernização do Estado. O senador petista Humberto Costa (PE) chegou a dizer que foi “a maior derrota do governo Temer”. É um evidente exagero, considerando-se principalmente que o revés não altera de nenhuma maneira a tramitação da reforma no Senado e, mantidas as atuais condições, sua aprovação em plenário deverá ser razoavelmente tranquila. Mesmo assim, o episódio serviu para reiterar a duvidosa qualidade da base de apoio ao presidente Michel Temer no Congresso, algo preocupante diante dos imensos desafios que ainda estão pela frente, em especial a reforma da Previdência.
Michel Temer não pode se dar ao luxo de perder nem votações secundárias, como esta na CAS, porque a estabilidade de seu governo está assentada na presunção de que ele controla uma boa bancada no Congresso, capaz de levar adiante as impopulares reformas. Ao se descuidarem dessa maneira, permitindo que governistas rebeldes prejudicassem os esforços do Palácio do Planalto, os operadores políticos do governo ajudaram a alimentar uma imagem de fragilidade que, somando-se aos problemas jurídicos de Michel Temer, coloca em questão a capacidade do presidente de concluir sua agenda reformista.
É preciso também destacar o papel negativo do PSDB nesse episódio da votação na CAS. Os tucanos precisam decidir se estão mesmo na base de apoio ao presidente Temer e se são favoráveis às reformas, como garantem seus dirigentes. A rejeição à reforma trabalhista contou com a ajuda do senador Eduardo Amorim (PSDB-SE), que na planilha do Palácio do Planalto havia sido contabilizado como um voto a favor. Como o placar foi de 10 a 9, pode-se concluir que esse voto foi decisivo para a derrota. Mas é digno de nota também o comportamento irresponsável de outros governistas na CAS. Cinco senadores da base aliada simplesmente não apareceram para votar.
E há também a sabotagem, pura e simples, capitaneada por Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado. Sem fazer parte da comissão, Renan pediu a palavra e tratou de desqualificar todas as reformas encaminhadas pelo governo, acrescentando ainda críticas aos “erros em série da política econômica”. Segundo o senador, que falava como se fosse um sindicalista da CUT, a equipe econômica está levando o País a um “quadro desesperador”.
Nominalmente, o senador Renan Calheiros é do mesmo partido do presidente Michel Temer, mas, na prática, seu partido sempre foi ele mesmo. Neste momento, Renan, alvo de múltiplos inquéritos sob acusação de corrupção, parece acreditar que sua salvação se encontra numa aliança tácita com o chefão petista Lula da Silva, ainda muito forte entre eleitores do Nordeste. De quebra, espera que essa proximidade com Lula ajude o filho, Renan Filho (PMDB), a conseguir a reeleição como governador de Alagoas.
Como era esperado, o governo deu o troco a Renan, usando a linguagem que o Congresso entende: demitiu apadrinhados do senador Hélio José (PMDB-DF), que é do grupo de Renan e votou contra a reforma na CAS.
Mas apenas isso não basta. É preciso denunciar, com a máxima crueza possível, que esses parlamentares são a vanguarda do atraso. Não está em jogo apenas um punhado de mudanças na legislação trabalhista ou no sistema previdenciário. O que está em jogo é a definição do futuro imediato do País.
É urgente enfrentar os problemas estruturais que condenam o Brasil ao desenvolvimento medíocre e à baixa produtividade. As reformas em curso, tímidas diante do desafio, são apenas o começo desse processo, que tem de servir principalmente para romper a lógica segundo a qual tudo neste país começa e termina no Estado. Os inimigos das reformas são justamente aqueles que construíram relações privilegiadas com o Estado, seja na forma de subsídios e isenções em geral, seja como obséquios para funcionários públicos, em detrimento do resto da população, que deve arcar com os impostos que sustentam essa relação viciada. A derrota do governo é a vitória dessa gente.
Fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,licoes-de-uma-derrota,70001854590
O Estado de São Paulo: A vitória de Macron
A ampla vitória do presidente da França, Emmanuel Macron, nas eleições legislativas, nas quais seu partido A República Em Marcha (REM) obteve folgada maioria na Assembleia Nacional é importante não apenas porque lhe dá condições de aprovar as reformas que propõe na economia e na política.
A ampla vitória do presidente da França, Emmanuel Macron, nas eleições legislativas, nas quais seu partido A República Em Marcha (REM) obteve folgada maioria na Assembleia Nacional – ainda maior quando somada à bancada de seu partido aliado, o Movimento Democrático (MoDem) – é importante não apenas porque lhe dá condições de aprovar as reformas que propõe na economia e na política. Ela muda em profundidade o panorama político do país e tem repercussões que vão além de suas fronteiras, na medida em que fortalece a União Europeia (UE), abalada pela saída do Reino Unido.
No curto período de um ano, Macron, ex-ministro da Economia de François Hollande, que bateu recorde de impopularidade, elegeu-se presidente, transformou seu novo partido no maior do país, com 308 deputados num total de 577 da Assembleia, que se sobrepõe hoje às tradicionais forças de direita (Os Republicanos e seus aliados), com 131 eleitos, e esquerda (Partido Socialista e aliados), com 31 eleitos, que dominaram a política francesa por mais de 40 anos.
Um conjunto de circunstâncias favoráveis permitiu essa ampla renovação dos quadros políticos: dois terços da Assembleia, com a chegada de um grande número de jovens e de mulheres (158), boa parte dos quais estreando na política. Tudo indica que a crise de representatividade, que atinge vários países de todos os continentes, está sendo resolvida ali rapidamente e sem maiores abalos.
O ponto fraco, logo apontado pelos adversários de Macron, foi a alta taxa de abstenção, de 56,6%. Taxa que já vinha crescendo no país e agora ultrapassou a metade do eleitorado. Em primeiro lugar, é evidente que o problema afeta tanto Macron como todos os que se opõem a ele. Em segundo lugar, o primeiro-ministro, Edouard Philippe, se apressou não apenas a comemorar a vitória como a reconhecer, certamente levando em conta a abstenção, que o governo não recebeu um cheque em branco.
A oposição, tanto a da extrema direita da Frente Nacional – que conta com o apoio de boa parte dos trabalhadores – como a da extrema esquerda da França Insubmissa, promete ir às ruas para se opor à reforma trabalhista. Segundo Macron, as regras atuais são ultrapassadas e atrapalham a retomada da economia e na prática colaboram para o desemprego, porque impõem altos custos às empresas. Embora governo e centrais sindicais reconheçam que as negociações serão difíceis, a ampla maioria parlamentar de que Macron dispõe permite a aprovação fácil da reforma na Assembleia e fortalece sua posição tanto nesses entendimentos como no enfrentamento nas manifestações, prometidas tão logo foram anunciados os resultados das eleições.
No plano político, o caso das mudanças propostas por Macron é diferente. Além de ser igualmente fácil sua aprovação pela Assembleia, não encontram maior resistência na oposição. Tanto a referente à moralização como a alteração parcial do sistema eleitoral. O ponto forte da primeira é o fim do nepotismo por parte de deputados. Ele foi o ponto central do escândalo que fez o candidato da direita, François Fillon – emprego da mulher e dos filhos como assessores, com altos salários –, perder a eleição para presidente, antes dada como certa. A segunda é a introdução no sistema eleitoral de uma dose de voto proporcional, hoje inteiramente distrital. Essa é uma mudança que interessa à extrema direita e à extrema esquerda.
No plano externo, a retomada da economia francesa, estagnada há muitos anos e com uma taxa de desemprego de 10% da força de trabalho, é julgada importante também pela UE, a começar pela Alemanha. A aliança com a Alemanha, considerada o motor da UE desde o início, não pode funcionar a contento com a França na situação em que se encontra.
O tempo dirá se Macron saberá enfrentar o desafio das transformações que prometeu e da esperança que despertou. A mudança no panorama político que já operou e a folgada maioria parlamentar que acaba de obter são passos da maior importância, mas só eles não bastam.
Fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-vitoria-de-macron,70001849874
Luiz Sérgio Henriques: Começar de novo
Refazer os cacos requer o emprego da arte da competição e da cooperação
Eis o ponto a que chegamos: todos constatamos, atônitos, as agonias que se acumulam, as hipóteses de saída que surgem e se desfazem como bolhas de sabão, os políticos que de uma hora para outra abandonam a ação parlamentar e passam a integrar tramas judiciárias cujo fim não parece próximo. No tumulto dos dias, a impressão que se firma é a de um enredo mambembe em que os personagens procuram, em vão, uma direção e um sentido para o que fazem. Ou, então, como na imagem conhecida, a sensação é de que os fatos caminham por si sós, assumindo aos trancos e barrancos um protagonismo além da capacidade dos atores, cujos movimentos se esgotam na busca da sobrevivência pura e simples.
No centro de tudo, um sistema partidário que já não se mantém em pé. Desequilibrado desde o início, esse sistema combinava partidos extremamente convencionais e um só com características semelhantes àqueles ditos “de massas”. Entre os primeiros, o partido da resistência democrática – o MDB e, a partir de 1979, o PMDB – aos poucos, e progressivamente, veio a perder a bandeira da “esperança e mudança” sob a qual se tornara uma escola de política, na qual, entre outros fatos admiráveis, uma parcela da esquerda teve contato com os valores do liberalismo, observando sua eficácia na luta contra o regime autoritário e sua relevância permanente em qualquer contexto futuro. A Constituição de 1988, que ainda nos traça o único roteiro possível, terá sido o legado essencial daquela antiga expressão do centro democrático, cujo esfacelamento está muito longe de ser o menor de nossos males.
O partido da social-democracia, nascido de uma “questão moral” – que, aliás, nada tem que ver com o bordão do “moralismo udenista” e, ao contrário, pode constituir-se num elemento positivo para uma moderna força de centro-esquerda –, viveu um paradoxo singular. Condensação de grupos intelectuais significativos, tanto na política quanto na economia, terá refletido pouco ou nada sobre as exigências inerentes ao prestigioso nome de batismo. Acreditou que a autoridade do núcleo dirigente inicial, com Covas, Montoro e Fernando Henrique, somada ao nome social-democrata, dispensaria a obra de autoconstrução e atualização programática constante, oferecendo-se assim à sociedade como um partido nacional, capaz de dar respostas aos problemas de toda a Nação em conjunturas distintas, incluídas as que acaso exigissem reformas liberalizantes.
Esse partido se descuidou, sintomaticamente, de estabelecer conexões flexíveis, mas resistentes, com a sociedade ao redor. Não precisava ser um partido de massas no sentido tradicional do termo, com ideologia definida, enraizamento “de classe” e um sistema de organizações colaterais à maneira de correias de transmissão. Não obstante, a necessidade de vasos comunicantes com o mundo social e de elaboração de novos grupos dirigentes permanecia constante mesmo para os partidos de estrutura mais leve. E a pesada armadura ideológica de tantos partidos de massas poderia ter cedido lugar ao rigor programático e à ação minimamente orgânica segundo a tradição social-democrata.
Nada disso aconteceu: não se atendeu àquela necessidade de comunicação nem se forjaram programas. E, em plano correlato, pouquíssimo foi feito para a projeção externa do partido criado em 1988. Afora a relação com a “terceira via” da década de 1990, seja qual for o juízo que a essa via se dê, nossa social-democracia restou acanhada e provinciana. Os ventos eram globais, as correntes de pensamento ignoravam fronteiras, os problemas adquiriam dimensão mundial – e continuamos sem nada saber de agregações importantes no universo social-democrata, como a Internacional Socialista. Uma inapetência que mostraria todo o seu limite quando, ainda há pouco, enviesadamente se lançaram mundo afora sinais de golpe ou regime de exceção em nosso País, sem que as forças responsáveis pelo impeachment respondessem à altura.
Um esteio do sistema partidário – e, por extensão, da democracia – poderia perfeitamente ter sido o PT. Único partido de massas, ou quase isso, teve nas mãos a possibilidade de liderar a consolidação de uma moderna democracia de partidos, levantando em cada caso ideias relevantes para a solução de problemas espinhosos da vida política após 1988: o financiamento da atividade político-eleitoral, por exemplo, tema que, varrido para debaixo dos tapetes da República, retornaria como força natural destruidora. Ser o partido-guia em tal contexto significaria exercer uma ação hegemônica, palavra que, tomada como capacidade de direção, exclui comportar-se como elefante em loja de louças, cooptando aliados em funções subordinadas na pilhagem do Estado e inaugurando práticas inéditas, como as reveladas no mensalão e no petrolão.
Não está claro como reconstruir minimamente os partidos no curto período que nos separa das eleições de 2018. Sabemos que o que nos trouxe até aqui não é ponte que nos conduza ao futuro. O PMDB já não parece ter quadros ou ser portador de ideias-força para sustentar um governo de reformas. A classe política que o viu nascer e lhe insuflou alma não existe mais. O antagonismo entre PSDB e PT, que nas quatro últimas eleições presidenciais favoreceu amplamente este último, mas assinalou afinal o fracasso histórico do petismo, não poderá mais ser a principal linha de clivagem do sistema partidário, a não ser que nossa sociedade se aniquile nas malhas da repetição neurótica.
Sabemos, sobretudo, que o presente cenário de terra arrasada é o mais favorável para aventuras extremadas. Refazer os cacos e ordenar razoavelmente a arena pública requer o emprego da arte da competição e da cooperação, da qual nos temos dissociado. Arte a ser exercida sob o império da Carta de 1988, longe dos fundamentalismos de mercado ou das utopias autoritárias do esquerdismo.
* Luiz Sérgio Henriques é tradutor e ensaísta. É um dos organizadores das 'Obras' de Gramsci. Site: www.gramsci.org
Fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,comecar-de-novo,70001846380
Alberto Aggio: A disjuntiva gramsciana
De um lado, o Gramsci da ‘política democrática’ e, de outro, o Gramsci da ‘política revolucionária’
Neste ano relembramos os 80 anos da morte de Antonio Gramsci, líder político comunista, reconhecido como um dos mais importantes pensadores da Itália. Depois da derrota do fascismo e do fim da 2.ª Guerra, suas ideias ajudaram a fertilizar o terreno que redundaria na construção da moderna República Italiana. Encarcerado por Mussolini em 1926, Gramsci não pôde ver essa tarefa realizada. Sem ter nunca publicado um livro, a difusão do seu pensamento se deve a seus editores, depois do resgate das notas que escreveu na prisão. Desse resgate resultaram as diversas edições dos famosos Cadernos do Cárcere, editados no Brasil desde a década de 1960.
Bastante conhecido no Brasil, o texto gramsciano presta-se a infindáveis polêmicas em torno da interpretação e dos usos dos seus conceitos. Muitos o veem como um ameaçador seguidor de Marx e Lenin, um revolucionário comunista sem mais. Outros o admiram por sua capacidade de perceber as mudanças de sua época, anunciando os traços da complexidade social que viria a se edificar com mais vigor bem depois de sua morte.
O pertencimento de Gramsci ao marxismo e ao comunismo é patente, ainda que ele seja reconhecido como um formulador original e considerado um “clássico da política”. Inicialmente, foi visto como um “pensador da cultura nacional-popular” e um “teórico da revolução nos países avançados”, de cuja obra se extraíram os conceitos que o tornaram um autor assimilado em grande escala. Recentemente, a partir de uma “historicização integral” da sua trajetória, visando a apanhar simultaneamente vida e pensamento (Giuseppe Vacca), aliada à recepção e ao tratamento de fontes inéditas ou até ignoradas, vem emergindo uma nova inserção de Gramsci na política do século 20. Essa perspectiva analítica tem permitido a superação dos diversos impasses e bloqueios que marcaram por longos anos os estudos gramscianos.
Mesmo na prisão, Gramsci continuou sendo um homem de ação. Tudo o que escreveu, das reflexões anotadas nos cadernos à correspondência com familiares e amigos, indica que ele permaneceu atuando como um dirigente político. Nessa condição, procurou fazer chegar à direção do Partido Comunista Italiano (PCI) suas avaliações do cenário italiano e mundial, bem como seus questionamentos a respeito de algumas orientações do PCI que lhe pareciam equivocadas. É desse comprometimento que emergem os termos de uma “teoria nova”, hoje reconhecida no mundo da política e dos intelectuais.
Nos Cadernos do Cárcere foi se sedimentando um novo pensamento, com o qual Gramsci imaginava poder mudar as orientações do movimento comunista. Do texto de Gramsci se pode apreender uma superação clara do bolchevismo, notadamente em relação à concepção do Estado, à análise da situação mundial, à teoria das crises e à doutrina da guerra como parte intrínseca da revolução.
Não foi por acaso que dessas reflexões emergiu a proposta de luta pela convocação de uma Assembleia Constituinte. Isso implicava deslocar o PCI da preparação da revolução proletária para a conquista da Constituinte. Em outras palavras, estrategicamente a luta pela democracia deixava de ser pensada apenas como fase de transição para o socialismo e assumia autonomia plena. No mundo do comunismo da década de 1930 tratava-se de um ato de ruptura. Assim, o ponto de chegada dos Cadernos foi a elaboração de uma nova visão da política como luta pela hegemonia, o que, em termos objetivos, representaria a adoção de um programa reformista de combate ao fascismo e, com ele, a reconstrução da nação italiana.
Essa nova teoria, dramaticamente elaborada no interior das prisões fascistas, resultava do enfrentamento dos impasses que o atormentavam como dirigente político: a derrota para o fascismo e a perda de propulsão do movimento comunista soviético, bloqueado pelo “estatalismo” e pelo autoritarismo. Os conceitos de Gramsci, tais como “hegemonia”, “guerra de posições”, “revolução passiva”, “transformismo” e “americanismo”, entre outros, evidenciam uma linguagem própria, não mais bolchevique ou leninista, de quem, mesmo na prisão, pensava de maneira inovadora os desafios que estavam postos diante da construção política da modernidade no Ocidente.
Em meio às lutas pela democracia, diversas gerações de intelectuais brasileiros que se aproximaram do pensamento de Gramsci buscaram uma tradução dos seus conceitos para nossas circunstâncias. Da década de 1970 para cá, parecia haver consenso na assimilação dos conceitos do pensador sardo, mas a realidade não confirmou essa tese.
Hoje há uma disjuntiva explícita: de um lado, o Gramsci da “política democrática”, ou seja, da política-hegemonia, enquanto “hegemonia civil”, não mais “proletária” ou “socialista”; de outro, o Gramsci da “política revolucionária”. Na primeira “leitura”, a revolução não é mais o centro da elaboração política e a perspectiva se deslocou no sentido de exercitar o conceito de revolução passiva até seus limites, isto é, acionar permanente e intransigentemente a política democrática visando a inverter a longa “revolução passiva à brasileira” (Werneck Vianna), de marca autoritária e excludente, e dar-lhe novo direcionamento.
Aqui estamos diante de uma tradução do Gramsci que se descolou da sua originária demarcação revolucionária e se distanciou de um marxismo que ainda tem como referência uma época histórica de revoluções. É isso que lhe dá o viço ainda hoje. Inversamente, o “outro” Gramsci permanece prisioneiro de uma representação construída a partir de um duplo sentido: representação de classe, como o fora anteriormente, numa perspectiva revolucionária, e, noutro sentido, como representação da conservação e difusão de um imaginário revolucionário do qual se querem resguardar os signos e significados de uma época revolucionária terminada há décadas.
Fernando Gabeira: Para chegar a 2018
O caminho é fortalecer a economia e tentar reconciliar a política com a sociedade
Começou o fim do mundo com a delação da Odebrecht. Temer, creio, deu uma resposta adequada, pedindo celeridade nas investigações para poder tocar o barco da reconstrução econômica.
Ele pode não ter sido sincero, porque, segundo a imprensa, no Planalto se falou na anulação do depoimento do diretor da empresa. Mas a celeridade, respeitando simultaneamente direito de defesa e ritmo de uma investigação séria, é a melhor saída para libertar o processo econômico dos sobressaltos políticos. Para almejar essa celeridade, porém, é preciso primeiro responder a uma pergunta: se não existiu até agora, por que passaria a existir de uma hora para outra?
Ela é necessária também para o processo político em 2018. Muitos investigados vão querer se reeleger. Mas nem todos têm êxito em situação pós-escândalo. Lembro-me da CPI dos sanguessugas, deputados que ganhavam propina para emendas de compras de ambulâncias superfaturadas. A maioria foi derrotada nas urnas, em 2006.
Sem julgamento, contudo, o abismo entre sociedade e eleições em 2018 pode se aprofundar ainda mais. As ruas têm se manifestado, mas não se pode esperar delas a solução final do problema. No meu entender, ela está nas mãos do Supremo, que precisa fazer um extraordinário esforço de adaptação às necessidades do momento.
O Supremo parece-me perdido em suas prioridades. As duas últimas intervenções, proibição da vaquejada e descriminalização do aborto, posições com as quais posso concordar, não trilharam o bom caminho.
Existe uma diferença entre uma sentença e uma política para enfrentar os temas. No caso da vaquejada, um processo adequado seria definir o que os americanos chamam de phase out, para que todo o universo econômico que gira em torno da vaquejada se adaptasse. Pelo que vi, seu núcleo central é a criação e o comércio de cavalos de raça. No caso do aborto, o processo político se dá de outra forma. Discussão no Parlamento e referendo popular.
Embora o panorama político seja desolador, quando juízes assumem decisões que deveriam nascer no Parlamento ou nas urnas, eles são obrigados a pensar como categorias políticas. Apesar de ter desaguado no STF, na longa luta política para banir o amianto foi preciso negociar e até formular um projeto de adaptação.
O fim do mundo não é o fim de tudo. Se o Supremo, creio eu, se dedicar integralmente a julgar com rapidez e se reorganizar para a tarefa, pode se queimar menos do que buscando saída para tensões políticas.
As manifestações de rua conseguem fixar alvos. Hoje Cunha, amanhã Renan. Elas não trazem a saída: são contra a corrupção e, em alguns cartazes, pelo fim do cheque em branco dos governos, alusão ao ajuste fiscal.
Mas o nó só pode ser desatado pelas instituições. Agora, por exemplo, o Supremo vai entrar em recesso. Com a situação tão delicada, os responsáveis vão sair de cena. Creio que isso nasce do equívoco de subestimar o alcance da Lava Jato.
Gilmar Mendes, quando esteve no Senado, foi bastante explícito, as operações policiais existem todos os anos. Naquele momento, a Odebrecht fechava o maior acordo de leniência do mundo, pagando cerca de R$ 6, bilhões de multa. E a delação do fim do mundo começava.
Se o Supremo decidir trabalhar a fundo na sua tarefa específica, vai ajudar, indiretamente, a economia e também a política, na tarefa de buscar algum tipo de renovação que a aproxime da sociedade.
É uma difícil travessia. Nela o comandante Temer tem de enfrentar a tempestade e jogar alguns corpos ao mar. E evitar que ele próprio tenha de se jogar na água.
Mas são essas as circunstância e não é possível enfrentá-las suprimindo pedaços da realidade. A maior investigação da História do Brasil chega ao coração do atual governo, que era apenas a costela do governo petista. Agora, ele tem nas mãos a tarefa de conduzir a economia em frangalhos, sob suspeita e com baixa popularidade.
Temer disse que era preciso coragem para governar o Brasil e que ele teria essa coragem. Talvez seja preciso também um pouco de resignação diante do futuro pessoal.
A tarefa de conduzir a reconstrução econômica é decisiva, sobretudo, para os 12 milhões de desempregados. Temer e o mundo político não têm outro caminho exceto continuar trabalhando, enquanto a terra treme sob os seus pés.
Num mundo ideal, nem o Supremo nem os políticos entrariam em férias neste ano de 2016. Talvez todos nós precisemos de umas férias do Supremo e dos próprios políticos.
Mas assim que voltarem, a realidade pedirá respostas mais rápidas e complexas. Se houvesse um projeto de trânsito para 2018, o ritmo de julgamentos seria mais rápido, os vazamentos seriam evitados e o processo de renovação na política seria posto na agenda.
Existem forças poderosas tentando deter ou deturpar a Lava Jato. Elas se aproveitam da confusão, dos impasses. É uma tática que existe nos mínimos detalhes, como a atuação dos advogados de Lula, discursos no Parlamento, notícias inventadas.
Digam o que quiserem das ruas. Não houve violência nas manifestações contra a corrupção. Elas cumprem o seu papel. No fundo, acreditam nas instituições e na possibilidade de que encontrem uma saída.
Algumas instituições entraram em férias. Durante o recesso poderiam pensar no ano que entra. É possível fazer melhor e mais rápido.
É uma ilusão supor que o Brasil não mudou, que será governável com as mesmas práticas do passado. Hoje será menos doloroso avançar do que recuar no projeto de fortalecer a economia e dar à política uma chance de reconciliação com a sociedade. No meio de tanta confusão, na qual estou também envolvido, é assim que vejo o caminho imediato e os dois objetivos principais.
Deve haver centenas de outras visões. Seria salutar discutir como chegar a 2018, e não apenas o clássico quem comprou quem, quem é a bola da vez... A bola da vez é a ameaça de caos.
*Fernando Gabeira: Jornalista
Fonte: opiniao.estadao.com.br
Marco Aurélio Nogueira: Os podres da República e a sorte de Moro
*Marco Aurélio Nogueira
Bastou a prisão de Eduardo Cunha para que as nuvens ficassem mais carregadas e os dilemas da República se agigantassem.
Já se sabia de tudo, mas a prisão trouxe à tona uma trajetória que chama atenção pela longevidade, pela desfaçatez e pelo tamanho das ilicitudes. Cunha tem peso próprio, não é um qualquer quando se trata de exploração das brechas existentes na legalidade e na cultura político-administrativa do Estado brasileiro. É um profissional. As acusações contra ele abrangem um leque impressionante de fraudes, negócios escusos, abusos e irregularidades. Vêm lá de trás, mais ou menos do final dos anos 1980. Como foi possível sobreviver durante tanto tempo e seguir uma carreira ascendente que poderia tê-lo levado à Presidência da República? O sistema assistiu impassível à performance, que teria continuado se não houvesse a Lava Jato.
No mínimo por isso, o juiz Sergio Moro merece aplausos. Ele está a desnudar os podres de nossa vida estatal, valendo-se de uma obstinação que o tem ajudado a resistir a intempéries mil, ainda que o levando em certos momentos ao limite da temperança e da moderação.
As vozes mais sensatas e certeiras da República afirmam que a pressão sobre Moro aumentará terrivelmente. A prisão de Cunha fará um tsunami desabar sobre o juiz, impulsionado tanto pelos ventos que sopram do lado dos que não desejam o prosseguimento da Lava Jato, quanto pelos vagalhões produzidos por aqueles que não gostam do estilo de Moro e o veem como autoritário. No governo Temer, no Congresso e na oposição, quem tem o rabo preso está suando frio. A lógica das coisas aponta na direção deles. Decaído o chefe, é de esperar que o restante dos dominós caia também, ou seja ao menos ameaçado. Sobretudo se Cunha der com a língua nos dentes, contar o que sabe, com quem tramou, por que o fez, quanto ganhou e quanto distribuiu. Nitroglicerina pura, que será por ele usada com inteligência estratégica e instinto de sobrevivência, atributos que não lhe faltam.
No day after da prisão, não faltou quem fizesse a ilação apressada: Cunha derrubará Temer ou lhe roubará as bases de apoio a ponto de levar seu governo à asfixia. Setores da direita e sebastianistas de esquerda deram-se as mãos, desavergonhadamente, para atacar as detenções preventivas decretadas por Moro. Alegaram que elas ferem o Estado de Direito, que a prisão de Cunha não passaria de pretexto para prender Lula, que a Lava Jato teria criado a imagem da “corrupção sistêmica” só para justificar o arbítrio da república de Curitiba e “criminalizar o PT”. Cunha seria mais uma vítima desse procedimento judicial que fere a justiça, abusa da autoridade e desrespeita direitos.
Moro respondeu quase de imediato. Em palestra feita em Curitiba para desembargadores e juízes do Paraná, reiterou que a “aplicação vigorosa da lei” é o único meio de conter casos de “corrupção sistêmica”. As detenções cautelares seriam indispensáveis, até para deixar estabelecido que “processos não podem ser um faz de conta”. E explicou: “Jamais e em qualquer momento se defendeu qualquer solução extravagante da lei na decretação das prisões preventivas”. Seria preciso manter viva a “fé das pessoas para que a democracia funcione”, ou seja, impedir que se perca a “fé maior, de que a lei vale para todos”.
Evidenciou-se assim que o juiz sabe que a pressão sobre ele continuará a crescer. A coisa toda, no fundo, pode ser vista de forma mais simples.
Quando gente de direita e de esquerda se une para atacar um juiz, é porque há algo de muito errado no xadrez político. A causa, no mínimo, torna-se suspeita de antemão, especialmente quando estruturada para proteger pessoas que estão a ser investigadas há tempo, com provas que se superpõem e se acumulam.
Um juiz tende a ter atrás de si todo o sistema da Justiça: outros juízes, promotores, procuradores, tribunais, leis, jurisprudências, ritos consagrados, policiais federais. Moro não é, evidentemente, uma unanimidade entre seus pares e há muito conflito entre os órgãos e os aparatos de investigação e penalização. Mas, de algum modo, atacar hoje um juiz como ele pode significar um ataque ao conjunto do sistema.
Afinal, tudo parece indicar que a “corrupção sistêmica” está aí e atingiu níveis graves, que precisam ser contidos não só por uma questão de justiça, mas também por uma questão operacional: o sistema enfartará se não for “purificado” e esvaziado de trambiques e sujeira. Se é assim, em maior ou menor grau, Moro tem razão quando fala que “a condição necessária para superar a corrupção sistêmica é o funcionamento da Justiça”. Não haveria por que propor alguma espécie de “solução autoritária”, mas é preciso que se tenha vontade para que os processos cheguem a bom termo.
Ações judiciais na esfera política são acompanhadas com interesse pela sociedade, especialmente numa época de informações intensivas e protagonismo das opiniões. O cidadão assiste àquilo como parte de uma “limpeza” que ele gostaria de ver realizada. Muitas vezes joga o bebê fora junto com a água do banho: condena todos os políticos sem se esforçar para perceber que há diferenças entre eles, raciocina com o fígado e bate em todos como se fossem farinha do mesmo saco.
Se uma sociedade rejeita a corrupção sistêmica, o enriquecimento ilícito e os políticos “sujos”, com seus empresários a tiracolo, então não será o ataque a um juiz que vai convencê-la do contrário. Tal ataque, porém, se bem-sucedido, poderá fazer com que ela não se mobilize.
Até prova em contrário, se a sociedade assim quiser e souber se manifestar, Moro seguirá em frente, contra o sistema político que deseja seu silêncio, contra o governo e a oposição, contra o histrionismo da direita e as lágrimas de crocodilo da esquerda.
*Professor titular de teoria política e coordenador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp
Fonte: opiniao.estadao.com.br
Marco Aurélio Nogueira: A governança democrática das cidades
Em tempos de política em crise, de debate público empobrecido e partidos desorientados, é de saudar a iniciativa do Partido Popular Socialista (PPS) de publicar as resoluções principais de uma Conferência Nacional por ele organizada sobre as cidades brasileiras.
A Conferência – realizada em Vitória (ES) nos dias 19-20 de março de 2016 – representou a culminância de um amplo processo de debates e discussões entre militantes políticos e especialistas que se estendeu por vários meses em diferentes cidades do país. A publicação (acesse aqui) oferece aos cidadãos um rico painel da vida urbana e dos problemas das cidades brasileiras, assim como sugere um roteiro para a organização de uma agenda que os enfrente.
Nele, são apresentadas análises e sugestões sobre Saúde, Educação, Finanças, Mobilidade Urbana, Segurança e Cultura. O texto não é acadêmico. Seu objetivo é fornecer elementos para a gestão técnico-política das cidades brasileiras, sendo direcionado para administradores municipais, vereadores e ativistas, mas também para o cidadão de modo geral, maior interessado na questão. O material, porém, recusa a ideia de ser visto como um “modelo” ou um “manual” a ser aplicado indistintamente. Não se vê como um “pacote” de propostas, mas como material de reflexão. É o que de fato se destaca, ainda que, por ser documento partidário, seja inevitável que se façam recomendações operacionais, que poderão ser traduzidas em termos políticos e eleitorais. Não há porque fazer ressalvas a este aspecto, assumido desde logo pelos organizadores.
Na parte propriamente analítica, o texto procura jogar luz sobre o estado atual das cidades brasileiras, especialmente das maiores, que conhecem um cenário de grandes transformações e mudanças mas permanecem amarradas a um quadro de exclusões e desigualdades expressivas, bolsões de segregação social, crise financeira e graves problemas ambientais.
Tal esforço de compreensão apoia-se no conceito de governança democrática: é preciso governar as cidades com os olhos na realidade (local, nacional, global) e nas possibilidades concretas de atuação, mas é preciso fazer isso compartilhando decisões com a cidadania. Como diz o texto de apresentação, “é preciso que haja organização política de interesses e capacidade de elaboração, mesmo que parcial, mas substantiva, de projetos de reforma e de transformação da realidade”.
Trata-se de um ponto importante, nesta nossa época em que detonar os governos e refutar a política se tornaram mania compulsiva, presente até mesmo na conduta de vários candidatos às prefeituras, que se apresentam como “gestores” e não como “políticos”, propondo-se a governar a partir de uma racionalidade administrativa superior que excluiria os cidadãos e se afirmaria sobre eles.
O documento do PPS critica com firmeza a “concepção verticalizada da ação política e de governo”, que vem de cima para baixo e implica uma orientação de caráter “gerencial”, autoritária, que pouco ajuda a que se fortaleça a vida democrática. Tal crítica é o ponto central do documento, dando sentido às sugestões que são apresentadas para as diferentes áreas da gestão municipal.
Não se trata, portanto, para o PPS, de simplesmente governar, apresentar planos e “propostas de governo”. É preciso fazer vibrar a atuação política (cívica) dos cidadãos, organizados em maior ou menos medida. Um governo democrático deve se propor sempre a organizar a cidadania, “empoderá-la”. Dadas as circunstâncias atuais, precisa se dispor a ser um governo-em-rede, aberto ao diálogo, à interação entre os atores, à participação da sociedade. Governo mais horizontal que vertical, apoiado mais na colaboração que na decisão unilateral. Um governo-dínamo, seria possível dizer: organizador da capacidade de ação da sociedade tendo em vista a cidade como construção coletiva.
É uma perspectiva nada fácil de ser assimilada ou traduzida em termos práticos, mas boa para ser incorporada como plataforma de reflexão e de atuação. O PPS, como seria de esperar, vê nela a materialização de seu esforço para qualificar o reformismo que o tipifica e para consolidar seu lugar no campo da esquerda democrática, dando vazão a uma política de caráter progressista e democrático.
Faz isso de maneira laica, sem apelos ideológicos rebarbativos ou promessas finalísticas de uma nova sociedade que nasceria de uma ruptura radical. A preocupação explícita é enfrentar em termos políticos realistas algumas questões concretas da vida urbana, de forma a publicizá-las e a convertê-las em parâmetro para a atuação cívica e as lutas que tiverem lugar nas cidades. (O Estado de S. Paulo – 28/09/2016)
Fonte: pps.org.br
Luiz Werneck Vianna: De quando é bom ter uma pinguela segura
Agora não resta solução senão a de atravessar, pé ante pé, essa estreita que se tem à frente...
Para um observador desavisado, inexperiente de como aqui se vivem as coisas da política, diante do cenário que aí está, nada de estapafúrdio que se lhe dê na telha a ideia de estarmos na iminência de uma revolução.
Nas salas de aula das universidades os estudantes exibem adesivos estampando um “fora Temer”, professores das escolas de ensino médio cumprimentam seus alunos com o mesmo bordão, artistas e cantores populares não começam seus espetáculos sem ele, também presente nas salas de cinema e nos teatros. Uma ex-presidente da República que teve seu mandato cassado, num trâmite que passou pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que decretou o seu impeachment, em julgamento presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, participa de comícios eleitorais de candidatos às eleições municipais, quando se declara vítima de um golpe, todos são sinais que levam nosso observador a ruminar suas impressões.
Contudo se ele resolver testá-las, levantando a vista para a sociedade inteira, logo reconhecerá o despropósito da sua fabulação. No Congresso, em suas duas Casas, o governo detém folgada maioria, couraça sem a qual não há Executivo que se mantenha, fato ilustrado pela nossa experiência, contundentemente confirmada por recentes episódios. Nas chamadas classes fundamentais, fora a agitação de sempre que lhes é própria, não se percebem outras movimentações que não sejam as da defesa de seus interesses e direitos. No mundo agrário, tradicional calcanhar de Aquiles da política brasileira, sopram os mesmos ventos.
Faltaria, ainda, consultar o que se passa nas eleições municipais, termômetro confiável para o registro dos sentimentos da população, e nos quartéis, cuja importância na tradição republicana brasileira dispensa comentários. Nestes últimos reina, há tempos, a reverência ao culto constitucional e ao exercício dos seus papéis profissionais; nas eleições, que transcorrem em clima morno, se valem as pesquisas – e tudo indica que valem –, as candidaturas que se deixaram embair pelo bordão “fora Temer”, principalmente nas grandes capitais, estão longe de obter votações que as levem à vitória. E, como sempre entre nós, não há melhor detergente em horas de crise política do que um processo eleitoral.
Feito esse balanço, nosso observador admite que se equivocou no diagnóstico. Mas se não é de revolução, do que se trata, que bicho é esse que nos aturde com sua presença? A frase é velha, mas nem por isso perde validade: o passado não mais ilumina o futuro, que ainda não começou a nascer. A hora é de transição, de lusco-fusco, não é mais noite e o dia tarda a aparecer, mas a sociedade se inquieta e começa despertar sem saber o que a espera em meio às ruínas que sobraram dos partidos e, em geral, das nossas instituições políticas.
Ela mudou em meio às poderosas transformações demográficas, sociais e ocupacionais que desfiguraram a paisagem reinante em meados do século passado. Encontramo-nos em terra nova, como se estrangeiros a ela, agarrados a um passado que nos foi familiar, com as relações entre gerações, entre gêneros, sobretudo entre as classes sociais e sistema de crenças girando em gonzos fora do nosso controle e da nossa imediata percepção. A sociedade modernizou-se por cima, sujeita a experimentos saídos das pranchetas de uma tecnocracia ilustrada, impostos a ferro e fogo – exemplo mais recente, o da colonização da Amazônia.
Entre nós, a obra dessa modernização persistiu por décadas, ora por vias duramente repressivas, como no Estado Novo de Vargas e no regime militar, ora de forma doce, como nos governos de Juscelino – que criou no centro geográfico do Brasil, nos ermos do Cerrado, uma nova capital para o País – e nos de Lula e Dilma.
Fora de dúvidas que tais esforços em favor da aceleração da modernização foram bem-sucedidos, em que pesem os altos custos políticos e sociais envolvidos, não só pelo aprofundamento das desigualdades já existentes, como pela condenação da sociedade a um estatuto de minoridade sobre a qual deveria incidir a ação modernizadora do Estado. Não à toa as lutas pela democratização do País trouxeram consigo a denúncia dessa modelagem, filha de nossa longa tradição de autoritarismo político, do que foi exemplar a publicação de São Paulo 1975 – Crescimento e Pobreza, sob a iniciativa do cardeal Paulo Evaristo Arns, obra coordenada por Lucio Kovarick e Vinicius Caldeira Brant.
Essa nova agenda, nos anos 1980, encontrou no PT uma de suas mais importantes vocalizações. Com efeito, dele vieram críticas contundentes ao nacional-desenvolvimentismo e à cultura política que enlaçava a sociedade civil ao Estado e às suas agências, como no caso do sindicalismo, objeto de feroz crítica das emergentes lideranças sindicais dos metalúrgicos do ABC, Lula à frente, como seu principal porta-voz. O PT nasceu e cresceu em nome de uma representação da sociedade civil que aspirava por autonomia diante da onipotência de um Estado que fazia dela base passiva para sua manipulação.
Como se sabe, esse partido, por fas ou nefas, se converteu às práticas que combatia; e levou-as à exaustão depois de um curto período de fastígio no seu uso, culminando no episódio melancólico do impeachment do mandato presidencial de Dilma Rousseff sob a acusação de ter atentado contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja inspiração oculta, ao impor limites ao decisionismo do Executivo, consistiu precisamente em interditar caminhos ao processo de modernização autoritária vigente por décadas no País.
Agora, não resta outra solução que não a de atravessar, pé ante pé, a pinguela estreita que se tem à frente, de que falou em entrevista o ex-presidente Fernando Henrique, travessia perigosa que, para ser segura, está a exigir outra bibliografia e uma imaginação bem diversa da que nos trouxe até aqui.
Luiz Werneck Vianna: Sociólogo, PUC-RJ
Fonte: opiniao.estadao.com.br
Roberto DaMatta: Quem é de esquerda?
Numa velha investigação que realizei sobre identidade política, encontrei uma divisão nítida entre “esquerda” e “direita”. No início dos anos 1960, um mundo muito maior e menos transparente do que o atual, dava pleno sentido à divisão entre direita e esquerda. Além disso, quem era de esquerda ou de direita via o outro lado como contrário, mas também como imprescindível. Um dos maiores erros dos radicalismos e, no caso do Brasil, da direita representada pelo regime militar foi a tentativa de dar uma “solução final” para a outra margem, esquecendo-se do rio por onde a história não deixa de correr. O mesmo ocorreu com a esquerda desmoralizada pelo lulopetismo. A destruição do opositor subtrai a legitimidade de quem tem o “poder”. Quem sustenta a governabilidade é o derrotado.
Daí a importância da competição eleitoral, que acabamos de vivenciar. O processo eleitoral ajuda a descobrir novas lideranças tanto quanto a descartar projetos de “soluções finais” de quem, alojado no poder, planejou jamais perder uma disputa eleitoral. Enfrentar o nosso papel como eleitores não é fácil, quando não há salvadores da pátria ao lado de um punhado de partidos com bandeiras cansadas ou sem mastro. Naquele tempo havia medo, mas não havia vergonha nem culpa em ser “esquerdista”. Examinando meus dados, vejo que muitos se viam como peça de resistência ou vítima, mas todos tinham orgulho de sua escolha política. Ser de “esquerda” era ser uma pessoa fiel, honesta e de boa vontade. Era ser alguém que enxergava a “realidade brasileira” (ou o todo) desdenhando os “interesses de classe” que remetiam à parte e exprimiam egoísmo e descaso pelos pobres. Pelos explorados que constituíam o “povo” brasileiro ao qual nós, nos coretos acima da multidão, obviamente não pertencíamos.
Éramos pastores do povo e eu confirmei tal atitude numa entrevista na qual um operário dizia: “Os teóricos são o farol que guia a nossa prática”. Tal opinião confirmava a busca utópica de uma igualdade substantiva. A esquerda queria o paraíso neste mundo e perseguia o altruísmo. Ademais ela não havia estado no poder. Esse poder que muda até mesmo a igreja do diabo, como ensinou Machado de Assis. O poder corrompia, mas nós não entraríamos nisso. Como disse o próprio Lula, décadas depois: em seis meses, o PT acaba com a corrupção. E José Genoino, presidente do partido, já no poder, reiterava: o PT não rouba e não deixa roubar. O “poder” era um cetro ou palácio. Ele não era contraditório ou personalizado. Reprimíamos o fato de sermos meninos brancos de classe média que viviam em “casas” hierarquizadas e aristocráticas, com um pai-patrão e seus empregados e, talvez por isso mesmo, tínhamos o sonho de uma igualdade ilimitada no plano político.
Vencer uma discussão com o pai, cantar que o Brasil era um país subdesenvolvido, era fazer a revolução… Uma revolução que surgia como um conjunto de “reformas” a serem perpetradas pelo governo e por decreto, tal como ocorreu no comício da Central do Brasil em março de 1964. Ali, João Goulart decretou alguns dos seus pontos cruciais. Dezenove dias depois, veio – aí, sim – o golpe militar que, em menos de 48 horas, pôs a esquerda na marginalidade, explodindo uma margem do rio. Naquele tempo, havia “reacionários”. Hoje, há conservadores defendendo a “ordem” para situá-la ao lado do “progresso” e um enorme time de fascistas (úteis e inúteis) com suas listas de temas e pessoas a serem banidos e, eventualmente, eliminados.
Em 1960, imitando a experiência cubana, falava- se em paredão; hoje – imitando sem saber os velhos nazistas – temos soluções finais para o mercado e para um capitalismo diabolizado. Em nome dos direitos, evita-se corrigir a desigualdade que começa no desencontro entre uma aristocracia paga pelo Estado e os cidadãos comuns. Os idiotas que trabalham para sustentar um Estado a ser descontaminado de sua imagem de fiador do roubo, da incompetência e de uma burocracia marginal à norma da igualdade. É incabível, com a devida vênia aos meus amigos do Judiciário, que um juiz venal seja condenado à aposentadoria em sua residência com salário integral! Essa foi uma eleição histórica. Nela, a esquerda abalada e derrotada pelo lulopetismo que a marginalizou. A crise fez com que ser esquerdista virasse sinônimo de demagogia burra, irresponsável e arrogante. Ou, para resumir numa palavra: a tudo o que era de “direita”.
* PS: Se Marta Suplicy não é de esquerda, tudo é possível. (O Estado de S. Paulo – 05/10/2016)
Fonte: pps.org.br