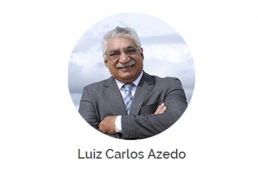lula
Alberto Aggio: Descobertas tardias
Nossa expectativa é de que, juntos com as novas, essas descobertas tardias inundem o espaço público, democratizando a informação e a opinião, quer seja de intelectuais ou de organizações políticas como o PPS.
Em sua coluna para o jornal Folha de São Paulo (veja aqui), o jornalista Clovis Rossi faz alguns comentários sobre o PT e a “esquerda latina”, repassando à opinião pública brasileira as recentes avaliações de Noam Chomsky a respeito do fracasso do PT e do bolivarianismo venezuelano.
É positivo que isso ocorra, especialmente quando se recupera um intelectual como Chomsky, sempre colocado ao lado do petismo e do bolivarianismo, numa crítica definitiva ao que foram os governos petistas. Se Rossi é um crítico do PT há algum tempo, Chomsky sempre foi mobilizado como um aliado de corpo inteiro e de primeira hora, embora sua sensibilidade política esteja mais ligada ao pensamento tardo-anarquista. Chomsky nunca foi exímio conhecedor da América Latina ou do Brasil, não passou a entendê-los por apoiar o PT e Chávez e mesmo agora entende pouco dessa realidade, quando pula fora do barco num momento que parece ser o crepúsculo petista.
O linguista norte-americano Noam Chomsky em conferência na USP em 1996
O que veio à tona nos últimos dias jogou por terra qualquer discurso ou manifesto alinhavado de última hora por intelectuais que continuam a emprestar seu apoio a Lula e ao PT. Rossi anota que a descoberta dos descaminhos do petismo nos seus governos (economia baseada em commodities, falta de desenvolvimento sustentável interno e corrupção) é bastante tardia, mas o que “há de novo é que alguém de esquerda enfim abre os olhos e diz o rei está nu, coisa que nenhum intelectual de esquerda o fez até agora no Brasil”.
Uma injustiça do nobre colunista da Folha. Sabemos que não foram poucos os intelectuais que advertiram sobre esses descaminhos – e outros tantos mais perigosos. Basta citarmos Chico de Oliveira, Paulo Arantes e Roberto Schwarz, por exemplo. Mas deveríamos acrescentar à lista os nomes, pelo menos, de Luiz Werneck Vianna, Luiz Sérgio Henriques, Francisco Weffort, José Álvaro Moisés, Sérgio Fausto, dentre outros. Esse pequeno acréscimo indica que até mesmo na lavra de jornalistas experientes como Clovis Rossi o bloqueio exercido pelo PT em relação a quem pertence ao campo da esquerda, em especial da “esquerda democrática”, continua vigente, lamentavelmente.
Mas há que informar também ao nobre jornalista que um pequeno partido político, como é o PPS – legítimo herdeiro do PCB –, ao romper com o PT em 2004, inclusive a partir de uma formulação escrita sob o título “Sem mudança não há esperança”, o fez mencionando alguns dos aspectos que hoje são lembrados por Chomsky.
Como não poderia deixar de ser, nossa expectativa é de que, juntos com as novas, essas descobertas tardias inundem o espaço público, democratizando a informação e a opinião, quer seja de intelectuais ou de organizações políticas como o PPS.
Alberto Aggio é professor titular da Unesp, membro do Conselho Político do PPS e diretor da FAP (Fundação Astrojildo Pereira)
Fonte: http://www.pps.org.br/2017/04/17/alberto-aggio-descobertas-tardias/
Foto capa: Divulgação/Ricardo Stuckert/Instituto Lula
Luiz Carlos Azedo: “É nós” de novo
Depois da narrativa do golpe, o PT quer consolidar o discurso da perda dos direitos sociais. É uma estratégia para não fazer autocrítica do próprio fracasso
O PT voltou às ruas ontem contra as reformas da Previdência e trabalhista, em manifestações organizadas pelas centrais sindicais e outros movimentos sociais. O ponto alto foi a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no palanque armado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, para onde confluíram professores em greve, bancários, metalúrgicos e integrantes do movimento dos sem-teto. No Rio de Janeiro, servidores públicos estaduais com salários em atraso e servidores federais encorparam os protestos na Avenida Presidente Vargas, próximo à Estação Central do Brasil.
As duas reformas estão sendo exploradas pela cúpula do PT como plataformas de lançamento da candidatura do ex-presidente da República às eleições de 2018, num momento em que a Operação Lava-Jato, com as delações premiadas da Odebrecht, jogam na vala comum do escândalo da Petrobras toda a elite política do país. O discurso de que todo mundo usava “caixa dois” ganha foro de verdade absoluta e Lula nada de braçada, fazendo-se de vítima. A impopularidade de Temer e a fraqueza do governo, com cinco ministros já identificados como arrolados nos pedidos de inquérito, fragilizam o Palácio do Planalto na opinião pública.
O principal artífice da reforma da Previdência é o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que voltou ao governo, apesar de enroladíssimo na Lava-Jato. Seu “estoicismo” ao reassumir o cargo como quem vai para o sacrifício (convalescia de uma cirurgia na próstata) pode estar sendo levado em alta conta no Palácio do Planalto, mas sinaliza para a opinião pública aquilo que é verbalizado pelos sindicalistas que organizam os protestos: os trabalhadores pagarão o pato pelos desmantelos dos políticos.
Sim, é verdade, Padilha conhece o caminho das pedras das votações no Congresso e pode ser que realmente consiga manter coesa a base do governo para aprovar as reformas; ao mesmo tempo, porém, é um alvo fixo para os adversários das mudanças no regime de Previdência e nas relações trabalhistas. O que terá mais peso nas votações do Congresso: as verbas e cargos federais ou protestos sindicais? Qualquer observador atento sabe que as reformas serão mitigadas de alguma forma pelo Congresso, que haverá negociação e mudanças no projeto original, para estabelecer o teto das aposentadorias e pensões, o tempo de contribuição e a idade mínima para aposentadorias do setor público e do setor privado.
Essa é a primeira fileira de árvores da floresta, que é um emaranhado mais complexo, com muita diversidade. Em primeiro lugar, a reforma da Previdência é uma necessidade. O sistema está à beira do colapso, como aconteceu no Rio de Janeiro, por causa das desonerações fiscais, da roubalheira, da má gestão, dos privilégios e, principalmente, por causa da mudança de perfil demográfico da população (o xis da questão). Sem desonerações, roubos e má gestão, ainda que se consiga receber o que os sonegadores devem, a Previdência não suportará uma situação na qual cresce o número de aposentados e pensionistas e diminui o número dos que contribuem. Ou seja, o sistema perdeu sustentabilidade.
Narrativas
Os mesmos sindicatos que fecharam os olhos para a roubalheira na Petrobras e nos fundos de pensão (Previ, Petros, Fundef, etc) lideram as mobilizações ao lado de sindicatos de professores e servidores públicos que obtiveram sucessivos aumentos reais de salários e ajudaram a quebrar as contas públicas em vários estados. Alguns representam pequeno número de servidores com grande poder de barganha, por ocuparem posições estratégicas na administração pública. Todos voltaram às ruas para impedir as reformas, graças à montanha de dinheiro que arrecadam com o imposto sindical.
Os trabalhadores do setor privado, porém, que são a esmagadora maioria, não aderiram ao movimento. Algumas categorias estão definhando. Vivem uma realidade completamente diferente. Haja vista os metalúrgicos do setor automotivo, cujas fábricas estão sendo completamente robotizadas. O desemprego afasta qualquer possibilidade de greve; o peão não tem a mamata de ficar dias e dias parado e receber os salários sem desconto. Vive no andar de baixo e não frequentam a casa grande.
Depois da narrativa do golpe, o PT quer consolidar o discurso da perda dos direitos sociais. É uma estratégia para não fazer autocrítica ao próprio fracasso. Um grande biombo para não reconhecer a forma como se beneficiou do status quo durante 12 anos. E não fazer autocrítica do seu próprio transformismo, ao se alinhar às forças que agora são hegemônicas no poder, nas eleições de 2010 e 2014. É uma estratégia inteligente, mas falsa. Porque aposta num projeto historicamente derrotado, cujo eixo — a antiglobalização e o nacional desenvolvimentismo —, ironicamente, coincide com a política esdrúxula do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da direita xenófoba da Europa.
O grande problema do Brasil é chegar a 2018. É o que fazer depois, quando o país precisará encontrar o caminho de desenvolvimento sustentável e da renovação política. Os protestos de ontem reproduzem dogmas e palavras de ordem dos anos 1960. Ideias mortas há mais de 50 anos.
Luiz Carlos Azedo é jornalista
http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-e-nos-de-novo/
Marco Aurélio Nogueira: Morte de Teori exacerba cultura da conspiração e faz crescer o imponderável
Tem muita gente que não se esforça para entender o quadro. Alguns não entendem mesmo. Outros posam de sabichões. Há quem pegue a parte pelo todo e há quem se satisfaça em pegar uma evidência isolada para transformá-la em explicação definitiva. Todos, abraçados ou não, formam uma legião de agitadores, pescadores de águas turvas, inocentes úteis e inúteis.
Assim caminha a humanidade. No Brasil, sobretudo. Não há muito o que fazer.
Nessa turma, há quem ache que Moro está lavando a alma da República e há quem o veja como o bandido da história, aquele que faz o trabalho sujo. São pessoas que não conseguem compreender a envergadura da operação – sua objetividade, sua execução “dura”, seu apoio nos fatos – e a reduzem a uma espécie de caça seletiva ao Lula. Ou a uma faxina ética geral, contra todos os políticos.
Trata-se de gente que flutua: que aplaude quando um tucano cai na rede e vaia quando a presa é um petista. Ou vice-versa.
Pessoas assim formam a linha de frente das conspirações. Fornecem o caldo de cultura de que elas necessitam, pois sempre pensam que os conspiradores estão logo ali, na primeira curva. No fundo, torcem para que suas fantasias se convertam em realidade. Querem um pouco de emoção adicional.
Não é por outro motivo que todos os que integram essa turma vejam na morte de Teori a mão suja do atentado criminoso. Nem bem se organizaram as exéquias das vítimas e sem nem dar tempo dos familiares chorarem suas perdas, uns passam a dizer que a queda do avião foi planejada por Romero Jucá, outros porque acham que aconteceu para salvar a pele do Lula. Agiram assim quando JK morreu na Dutra, quando Jango não acordou depois de ter ido dormir, quando caíram o helicóptero de Ulysses Guimarães em 1992 e o avião de Eduardo Campos em 2014. Viram as garras do demônio até mesmo no acidente da Chapecoense. E, evidentemente, na morte de Hugo Chávez.
Dá para imaginar o que seria dito se algum acidente afetasse Lula, Temer ou Alckmin. Ou Tite. Papa Francisco, Trump ou Obama.
Lembremo-nos de Dom Quixote: “yo non creo en brujas, pero que las hay, las hay”. É um erro descartar sumariamente atentados políticos: eles existem e são praticados com frequência. Tão grave quanto, é um erro esquecer que acidentes também. Falhas humanas ou técnicas, armadilhas do destino, azares do clima.
O importante é investigar e descobrir tudo, sempre, até o osso. Mas ainda mais importante é enxergar por entre a névoa e avaliar os desdobramentos: o processo.
Nisso a morte de Teori introduz um complicado fator de imponderabilidade, que não pode ser desprezado. Perde-se o homem, perde-se o juiz competente e discreto, peça-chave da Lava Jato. Uma mola escapa, desarranja o fluxo e faz crescer a confusão.
De inocentes, ingênuos e apressados o inferno está cheio.
*Marco Aurélio Nogueira é professor titular de teoria política e coordenador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp
Fonte: http://politica.estadao.com.br/blogs/marco-aurelio-nogueira/morte-de-teori-exacerba-cultura-da-conspiracao-e-faz-crescer-o-imponderavel/
Luiz Werneck Vianna: O dilúvio e a arca de Noé
Aos pescadores de águas turvas a mídia empresta vocalização e amplifica a balbúrdia
Rituais estão aí para serem observados, e mesmo os céticos os reverenciam pelo sentimento imemorial de que crenças coletivas, mesmo que não se acredite nelas, não devem ser desafiadas. Neste primeiro dia de 2017 acabamos de celebrar o nascimento de um ano novo, em que se renovam as esperanças de uma vida melhor, recém-saídos de uma balbúrdia que nos aturdiu, em meio a vociferações, ódios desabridos e o alastrar da cultura do ressentimento como se vivêssemos na cena das revoluções. Ainda bafejados pela confraternização das festas natalinas, ganhamos a graça de uma trégua que nos abre espaço para a reflexão e nos distancia das agitações estéreis que têm mantido o País em constante sobressalto. Mas sem ilusões, porque alguns eixos saíram do lugar e não é tarefa fácil devolvê-los às suas operações originais.
Impeachments são processos dolorosos. Em particular se o seu objeto tiver sido o de afastar da Presidência da República uma mandatária eleita por um partido socialmente identificado como de esquerda, com expressiva representação congressual e em movimentos sociais e sindicatos de trabalhadores. Quadro que se agrava pelo fato de sua principal liderança, Luiz Inácio da Silva, e outras importantes personalidades partidárias se encontrarem na situação de réus em processos criminais, alguns deles presos. Sob essa pressão, o PT e seus aliados se movem nas ruas, nas escolas e no Parlamento em encarniçada oposição às políticas com que o governo Temer – notoriamente sem poder de influir na condução da Operação Lava Jato – intenta enfrentar a pesada crise econômica que paralisa o País.
Nessa loucura há um método: trata-se de atalhar, por fás ou nefas, o mandato do governo Temer, escolher um sucessor anódino por alguns meses, convocando-se eleições gerais para outubro, em que Lula, tido como imbatível nas urnas, seria apresentado como candidato à Presidência, voltando-se a tudo como dantes no quartel de Abrantes. Com pachorra, tal plano foi explicado linha por linha por João Pedro Stédile, dirigente do MST, em programa de entrevista do canal de TV CBN, esquivando-se o jornalista da pergunta clássica, hoje incorporada à nossa fala comum, formulada por Garrincha a seu treinador: se ele havia combinado seu desenho tático com os russos, nosso adversário em jogo decisivo na Copa de 1958. Os “russos”, no caso, os parlamentares e os ministros da Suprema Corte.
Planos mirabolantes fora, é um dado incontornável da realidade a forte intervenção da chamada Operação Lava Jato, que, a esta altura tendo em mãos as delações premiadas de altos executivos envolvidos em práticas de corrupção com parlamentares e agentes públicos, promete sanear por via judicial a vida política do País. O espaço público se torna um imenso tribunal, com seus membros desfrutando o protagonismo que em tempos não tão remotos era exercido pelos generais. Egos inflados de alguns ministros, cada qual brandindo um texto da Constituição, que juram venerar, trabalham sem o saber para conduzi-la à sepultura, invadindo os demais Poderes, dos quais os mais afoitos usurpam competências sem maiores cerimônias.
O egocentrismo, essa nova peste que assola o País, se assenhoreou também da classe política, que, mesmo tendo a seus pés o precipício, flerta animadamente com o perigo, não havendo um dia em que não saia das sombras o nome de um novo candidato à Presidência, na expectativa de que o governo Temer não prospere. A mídia, ao invés de ignorar esses pescadores de águas turvas, empresta-lhes vocalização e amplifica a balbúrdia.
Marx, em texto justamente célebre sobre os processos que levaram à ruína a República francesa de 1848, O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte, narra com sarcasmo as peripécias do sobrinho do grande Napoleão em busca do poder absoluto, o qual construiu seu caminho em meio a uma política em frangalhos e de cisões insanáveis nas forças que se lhe opunham. No caos reinante, sequiosa de tranquilidade para seus negócios, a burguesia francesa teria abdicado de bom grado do poder político, confiando-se a um patrão que zelasse pelo destino de todos. No lugar da República, Marx anota com ironia, a Infantaria, a Cavalaria e a Artilharia.
Também nisso seria preciso combinar com os “russos”, que, escaldados em experiência recente, parecem ter tamponado os ouvidos para não se deixarem enlear pelos cantos das sereias que gostam de rondar os quartéis. Mas logo que vier a inundação de fim do mundo, com as homologações das delações feitas na Operação Lava Jato, contaremos ou não com uma arca de Noé a fim de recomeçarmos a vida quando cessar o dilúvio? Ou estaremos confiados a um governo de juízes, para desgraça deles e nossa?
Os operadores da Lava Jato não devem desconhecer as lições de Weber em sua clássica distinção entre as éticas de convicção e as de responsabilidade, que podem, longe de se confrontar, ser complementares, como nos ensina, em Paradoxos da Modernidade, Wolfgang Schluchter, notável intérprete desse autor. Certamente boa parte deles conhece e cultua Ronald Dworkin, que erigiu o modelo do juiz Hércules como seu ideal de julgador em páginas magistrais do seu Império do Direito. Hércules, para ele, é um engenheiro social que, aberto à história da sua sociedade com suas vicissitudes, preserva a integridade do Direito ao tempo em que o renova na resolução de conflitos difíceis que lhe são submetidos.
Mas tréguas devem ser respeitadas e na paz destes dias de começo de ano convém notar que temos um governo que governa, desses que sabem, como dizia Ulysses Guimarães, que a cada dia cabe sua agonia, e que se deve ter paciência, esperança e mão firme no leme, porque o tempo de bonança talvez não tarde, porque não é pouco o que se tem de salvar dessa barafunda. A começar pela Carta de 88, já na mira dos que sempre desdenharam dela.
*sociólogo da PUC-Rio
Fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-diluvio-e-a-arca-de-noe,10000097474
Fernando Gabeira: Para chegar a 2018
O caminho é fortalecer a economia e tentar reconciliar a política com a sociedade
Começou o fim do mundo com a delação da Odebrecht. Temer, creio, deu uma resposta adequada, pedindo celeridade nas investigações para poder tocar o barco da reconstrução econômica.
Ele pode não ter sido sincero, porque, segundo a imprensa, no Planalto se falou na anulação do depoimento do diretor da empresa. Mas a celeridade, respeitando simultaneamente direito de defesa e ritmo de uma investigação séria, é a melhor saída para libertar o processo econômico dos sobressaltos políticos. Para almejar essa celeridade, porém, é preciso primeiro responder a uma pergunta: se não existiu até agora, por que passaria a existir de uma hora para outra?
Ela é necessária também para o processo político em 2018. Muitos investigados vão querer se reeleger. Mas nem todos têm êxito em situação pós-escândalo. Lembro-me da CPI dos sanguessugas, deputados que ganhavam propina para emendas de compras de ambulâncias superfaturadas. A maioria foi derrotada nas urnas, em 2006.
Sem julgamento, contudo, o abismo entre sociedade e eleições em 2018 pode se aprofundar ainda mais. As ruas têm se manifestado, mas não se pode esperar delas a solução final do problema. No meu entender, ela está nas mãos do Supremo, que precisa fazer um extraordinário esforço de adaptação às necessidades do momento.
O Supremo parece-me perdido em suas prioridades. As duas últimas intervenções, proibição da vaquejada e descriminalização do aborto, posições com as quais posso concordar, não trilharam o bom caminho.
Existe uma diferença entre uma sentença e uma política para enfrentar os temas. No caso da vaquejada, um processo adequado seria definir o que os americanos chamam de phase out, para que todo o universo econômico que gira em torno da vaquejada se adaptasse. Pelo que vi, seu núcleo central é a criação e o comércio de cavalos de raça. No caso do aborto, o processo político se dá de outra forma. Discussão no Parlamento e referendo popular.
Embora o panorama político seja desolador, quando juízes assumem decisões que deveriam nascer no Parlamento ou nas urnas, eles são obrigados a pensar como categorias políticas. Apesar de ter desaguado no STF, na longa luta política para banir o amianto foi preciso negociar e até formular um projeto de adaptação.
O fim do mundo não é o fim de tudo. Se o Supremo, creio eu, se dedicar integralmente a julgar com rapidez e se reorganizar para a tarefa, pode se queimar menos do que buscando saída para tensões políticas.
As manifestações de rua conseguem fixar alvos. Hoje Cunha, amanhã Renan. Elas não trazem a saída: são contra a corrupção e, em alguns cartazes, pelo fim do cheque em branco dos governos, alusão ao ajuste fiscal.
Mas o nó só pode ser desatado pelas instituições. Agora, por exemplo, o Supremo vai entrar em recesso. Com a situação tão delicada, os responsáveis vão sair de cena. Creio que isso nasce do equívoco de subestimar o alcance da Lava Jato.
Gilmar Mendes, quando esteve no Senado, foi bastante explícito, as operações policiais existem todos os anos. Naquele momento, a Odebrecht fechava o maior acordo de leniência do mundo, pagando cerca de R$ 6, bilhões de multa. E a delação do fim do mundo começava.
Se o Supremo decidir trabalhar a fundo na sua tarefa específica, vai ajudar, indiretamente, a economia e também a política, na tarefa de buscar algum tipo de renovação que a aproxime da sociedade.
É uma difícil travessia. Nela o comandante Temer tem de enfrentar a tempestade e jogar alguns corpos ao mar. E evitar que ele próprio tenha de se jogar na água.
Mas são essas as circunstância e não é possível enfrentá-las suprimindo pedaços da realidade. A maior investigação da História do Brasil chega ao coração do atual governo, que era apenas a costela do governo petista. Agora, ele tem nas mãos a tarefa de conduzir a economia em frangalhos, sob suspeita e com baixa popularidade.
Temer disse que era preciso coragem para governar o Brasil e que ele teria essa coragem. Talvez seja preciso também um pouco de resignação diante do futuro pessoal.
A tarefa de conduzir a reconstrução econômica é decisiva, sobretudo, para os 12 milhões de desempregados. Temer e o mundo político não têm outro caminho exceto continuar trabalhando, enquanto a terra treme sob os seus pés.
Num mundo ideal, nem o Supremo nem os políticos entrariam em férias neste ano de 2016. Talvez todos nós precisemos de umas férias do Supremo e dos próprios políticos.
Mas assim que voltarem, a realidade pedirá respostas mais rápidas e complexas. Se houvesse um projeto de trânsito para 2018, o ritmo de julgamentos seria mais rápido, os vazamentos seriam evitados e o processo de renovação na política seria posto na agenda.
Existem forças poderosas tentando deter ou deturpar a Lava Jato. Elas se aproveitam da confusão, dos impasses. É uma tática que existe nos mínimos detalhes, como a atuação dos advogados de Lula, discursos no Parlamento, notícias inventadas.
Digam o que quiserem das ruas. Não houve violência nas manifestações contra a corrupção. Elas cumprem o seu papel. No fundo, acreditam nas instituições e na possibilidade de que encontrem uma saída.
Algumas instituições entraram em férias. Durante o recesso poderiam pensar no ano que entra. É possível fazer melhor e mais rápido.
É uma ilusão supor que o Brasil não mudou, que será governável com as mesmas práticas do passado. Hoje será menos doloroso avançar do que recuar no projeto de fortalecer a economia e dar à política uma chance de reconciliação com a sociedade. No meio de tanta confusão, na qual estou também envolvido, é assim que vejo o caminho imediato e os dois objetivos principais.
Deve haver centenas de outras visões. Seria salutar discutir como chegar a 2018, e não apenas o clássico quem comprou quem, quem é a bola da vez... A bola da vez é a ameaça de caos.
*Fernando Gabeira: Jornalista
Fonte: opiniao.estadao.com.br
Marcos Nobre: A nova geração da política
Terminada uma eleição, a primeira pergunta que se faz é pelas chances que teriam figuras já conhecidas para as eleições seguintes. As chances de Geraldo Alckmin, Aécio Neves, Lula, Marina Silva, Ciro Gomes, Fernando Haddad e por aí vai. O problema desse tipo de foco é o imediatismo, limitado à próxima eleição. É um raciocínio que pensa que política é apenas eleição.
Tentar entender política envolve saber distinguir movimentos políticos de lógica partidária e de estratégia eleitoral. Quadros políticos são construídos ao longo de décadas. Não surgem nem desaparecem apenas em momentos de eleição. Nem são formados apenas dentro de partidos. Suas trajetórias de vida determinam o que são e onde estão para além da política oficial. Temos de nos perguntar como se politizaram e como tomaram a decisão por um caminho e não por outro.
É importante não reduzir a pergunta pela nova geração da política à pergunta pela geração nova da política. Para conseguir pensar o que será a política nos próximos 20 anos. E o que se quer que se ela seja. Para tentar sair da armadilha imediatista e pensar adiante, vale lembrar, por exemplo, onde estavam figuras da nova geração 20 anos atrás.
Nestas eleições, há casos clássicos de uma nova geração com formação partidária ortodoxa, como o do prefeito reeleito de Salvador, ACM Neto, do DEM. Nascido em 1979, acompanhou desde cedo um político tradicional, o avô, ACM, e conquistou seu primeiro mandato de deputado federal aos 23 anos. Mas está longe de ser paradigmático de sua geração. Basta olhar para outras figuras políticas que nasceram entre 1980 e 1984.
O procurador da República no Paraná, Deltan Dallagnol, nasceu em 1980 e formou-se em direito em 2001 na UFPR. Seu mote sobre a transformação do país pode ser enunciado assim: “Não é o envolvimento político-partidário, mas o exercício de cidadania”. Provavelmente foi sua avaliação negativa do cenário político-partidário no momento de sua decisão profissional o que o fez optar pela carreira de procurador em lugar de um engajamento na política oficial.
Liderança do MTST, Guilherme Boulos tem hoje 34 anos e aos 17 já tinha assinado uma carta de rompimento com o PCB. Como será que, durante seu curso de filosofia na USP, decidiu que o caminho partidário ou a militância em um movimento social tradicional não conseguiriam traduzir mais suas aspirações políticas? No momento em que decidiu participar de sua primeira ocupação, o PT e os movimentos sociais estavam voltados para a eleição de 2002. Não parece que era essa a sua ideia do que significa fazer política.
Áurea Carolina nasceu em 1984. Sua atuação no coletivo “Hip Hop Chama” e no movimento feminista, seu engajamento nas lutas do movimento negro nas periferias se traduziu em 2016 na maior votação para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Elegeu-se pelo Psol, mas seu mandato está ligado à iniciativa “Muitas | Cidade que queremos”, semelhante à que foi realizada em São Paulo pela “Bancada Ativista”.
A pergunta que se pode fazer agora é: por que recuar 20 anos se há caras da nova geração que têm 20 anos de idade, como o vereador eleito Fernando Holiday, em São Paulo? Também o caso de Holiday vai além do horizonte partidário. Negro, pobre e primeiro vereador assumidamente gay, elegeu-se pelo DEM, mas sua atuação se pauta pelo movimento do qual é uma das lideranças, o MBL.
Em Junho de 2013, Holiday era secundarista. Se optou por se lançar na política oficial desde já, não foi esse o caminho escolhido por muitos da mesma idade que saíram às ruas três anos atrás. O exemplo de Holiday leva à ideia simples de que pensar o futuro é pensar o que está acontecendo agora nas escolas ocupadas em quase metade dos Estados. Da natureza dessas iniciativas e das respostas que serão dadas a elas sairá muito do Brasil de 2036.
Para quem quer entender essa “primavera secundarista”, é indispensável ler “Escolas de luta: o movimento dos estudantes contra a ‘reorganização’ escolar”, de Antonia M. Campos, Jonas Medeiros e Márcio M. Ribeiro (Veneta). É um relato generoso tanto com quem lê o livro como com quem ocupou e continua a ocupar as escolas. Reconstrói, com paciência e detalhe, o processo de “reorganização escolar” desencadeado pelo governo Alckmin em São Paulo em 2015, reunindo informações que se encontram espalhadas em fontes diversas e dispersas.
Mas não existe neutralidade quando se trata de recortar uma exuberância de dados, uma multiplicidade de vozes. Cada escola ocupada tem sua história, sua linguagem e seus temas. E nem os autores pretendem neutralidade. Se não há tomada de posição nem preferências por uma ou outra ação, é explícita sua adesão ao sentido geral das movimentações secundaristas como ações de resistência e de auto-organização.
A peculiaridade do livro é fazer com que esse conjunto de ações surja como um movimento, algo que talvez não seja claro nem para quem faz nem para quem está tentando entender o que está sendo feito. A dificuldade que o livro se colocou é dar esse caráter de movimento sem confundi-lo com homogeneidade, muito menos com partidos e com a política oficial.
Não por acaso, em lugar de “movimento”, fala-se muito desde 2011 no mundo todo em “primaveras”: árabe, feminista, secundarista. Um movimento como o de “secundas” não é um movimento no sentido que se conheceu até antes dos anos 2010. Parece que o próprio conceito de “movimento” e de “movimento social” ficou obsoleto. Nessa lógica, primavera é uma estação de germinação. As formas anteriores de organização ficaram como que com o inverno da política.
Ninguém mais tem dúvida de que o cenário partidário e a forma atual de organização do sistema político caducaram. O problema é que muitos parecem continuar a olhar apenas para a política oficial, com a expectativa de que ela se transforme de dentro e por si mesma. Essa miopia não permite ver adiante. Para olhar para frente, é preciso olhar para trás. E para um presente que não é só o da política institucionalizada. Principalmente para quem ainda acha que partidos são instituições fundamentais da institucionalização da política. (Valor Econômico – 31/10/2016)
Marcos Nobre é professor de filosofia política da Unicamp e pesquisador do Cebrap. Escreve às segundas-feiras
E-mail: marcosnobre.valoreconomico@gmail.com
Fonte: http://www.pps.org.br/2016/10/31/marcos-nobre-a-nova-geracao-da-politica/
Marco Aurélio Nogueira: Os podres da República e a sorte de Moro
*Marco Aurélio Nogueira
Bastou a prisão de Eduardo Cunha para que as nuvens ficassem mais carregadas e os dilemas da República se agigantassem.
Já se sabia de tudo, mas a prisão trouxe à tona uma trajetória que chama atenção pela longevidade, pela desfaçatez e pelo tamanho das ilicitudes. Cunha tem peso próprio, não é um qualquer quando se trata de exploração das brechas existentes na legalidade e na cultura político-administrativa do Estado brasileiro. É um profissional. As acusações contra ele abrangem um leque impressionante de fraudes, negócios escusos, abusos e irregularidades. Vêm lá de trás, mais ou menos do final dos anos 1980. Como foi possível sobreviver durante tanto tempo e seguir uma carreira ascendente que poderia tê-lo levado à Presidência da República? O sistema assistiu impassível à performance, que teria continuado se não houvesse a Lava Jato.
No mínimo por isso, o juiz Sergio Moro merece aplausos. Ele está a desnudar os podres de nossa vida estatal, valendo-se de uma obstinação que o tem ajudado a resistir a intempéries mil, ainda que o levando em certos momentos ao limite da temperança e da moderação.
As vozes mais sensatas e certeiras da República afirmam que a pressão sobre Moro aumentará terrivelmente. A prisão de Cunha fará um tsunami desabar sobre o juiz, impulsionado tanto pelos ventos que sopram do lado dos que não desejam o prosseguimento da Lava Jato, quanto pelos vagalhões produzidos por aqueles que não gostam do estilo de Moro e o veem como autoritário. No governo Temer, no Congresso e na oposição, quem tem o rabo preso está suando frio. A lógica das coisas aponta na direção deles. Decaído o chefe, é de esperar que o restante dos dominós caia também, ou seja ao menos ameaçado. Sobretudo se Cunha der com a língua nos dentes, contar o que sabe, com quem tramou, por que o fez, quanto ganhou e quanto distribuiu. Nitroglicerina pura, que será por ele usada com inteligência estratégica e instinto de sobrevivência, atributos que não lhe faltam.
No day after da prisão, não faltou quem fizesse a ilação apressada: Cunha derrubará Temer ou lhe roubará as bases de apoio a ponto de levar seu governo à asfixia. Setores da direita e sebastianistas de esquerda deram-se as mãos, desavergonhadamente, para atacar as detenções preventivas decretadas por Moro. Alegaram que elas ferem o Estado de Direito, que a prisão de Cunha não passaria de pretexto para prender Lula, que a Lava Jato teria criado a imagem da “corrupção sistêmica” só para justificar o arbítrio da república de Curitiba e “criminalizar o PT”. Cunha seria mais uma vítima desse procedimento judicial que fere a justiça, abusa da autoridade e desrespeita direitos.
Moro respondeu quase de imediato. Em palestra feita em Curitiba para desembargadores e juízes do Paraná, reiterou que a “aplicação vigorosa da lei” é o único meio de conter casos de “corrupção sistêmica”. As detenções cautelares seriam indispensáveis, até para deixar estabelecido que “processos não podem ser um faz de conta”. E explicou: “Jamais e em qualquer momento se defendeu qualquer solução extravagante da lei na decretação das prisões preventivas”. Seria preciso manter viva a “fé das pessoas para que a democracia funcione”, ou seja, impedir que se perca a “fé maior, de que a lei vale para todos”.
Evidenciou-se assim que o juiz sabe que a pressão sobre ele continuará a crescer. A coisa toda, no fundo, pode ser vista de forma mais simples.
Quando gente de direita e de esquerda se une para atacar um juiz, é porque há algo de muito errado no xadrez político. A causa, no mínimo, torna-se suspeita de antemão, especialmente quando estruturada para proteger pessoas que estão a ser investigadas há tempo, com provas que se superpõem e se acumulam.
Um juiz tende a ter atrás de si todo o sistema da Justiça: outros juízes, promotores, procuradores, tribunais, leis, jurisprudências, ritos consagrados, policiais federais. Moro não é, evidentemente, uma unanimidade entre seus pares e há muito conflito entre os órgãos e os aparatos de investigação e penalização. Mas, de algum modo, atacar hoje um juiz como ele pode significar um ataque ao conjunto do sistema.
Afinal, tudo parece indicar que a “corrupção sistêmica” está aí e atingiu níveis graves, que precisam ser contidos não só por uma questão de justiça, mas também por uma questão operacional: o sistema enfartará se não for “purificado” e esvaziado de trambiques e sujeira. Se é assim, em maior ou menor grau, Moro tem razão quando fala que “a condição necessária para superar a corrupção sistêmica é o funcionamento da Justiça”. Não haveria por que propor alguma espécie de “solução autoritária”, mas é preciso que se tenha vontade para que os processos cheguem a bom termo.
Ações judiciais na esfera política são acompanhadas com interesse pela sociedade, especialmente numa época de informações intensivas e protagonismo das opiniões. O cidadão assiste àquilo como parte de uma “limpeza” que ele gostaria de ver realizada. Muitas vezes joga o bebê fora junto com a água do banho: condena todos os políticos sem se esforçar para perceber que há diferenças entre eles, raciocina com o fígado e bate em todos como se fossem farinha do mesmo saco.
Se uma sociedade rejeita a corrupção sistêmica, o enriquecimento ilícito e os políticos “sujos”, com seus empresários a tiracolo, então não será o ataque a um juiz que vai convencê-la do contrário. Tal ataque, porém, se bem-sucedido, poderá fazer com que ela não se mobilize.
Até prova em contrário, se a sociedade assim quiser e souber se manifestar, Moro seguirá em frente, contra o sistema político que deseja seu silêncio, contra o governo e a oposição, contra o histrionismo da direita e as lágrimas de crocodilo da esquerda.
*Professor titular de teoria política e coordenador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp
Fonte: opiniao.estadao.com.br
Roberto Freire: A esquerda é muito maior que o PT
Não só no Brasil, mas em todo o mundo democrático, vivemos um momento de ebulição no campo das forças de esquerda, com uma profunda discussão em torno do papel dos partidos que compõem esse espectro ideológico e os seus desafios nos dias de hoje. No caso brasileiro, é evidente que o retumbante fracasso moral dos governos de Lula e Dilma Rousseff gerou um forte impacto sobre os grupos mais progressistas, como se a esquerda se resumisse ao PT e seus aliados. Trata-se, evidentemente, de uma tese falaciosa e desprovida de qualquer sentido.
O desastre lulopetista, que chegou ao fim por meio do impeachment da ex-presidente da República, deixou marcas indeléveis no PT, no país e nas esquerdas – associadas, indistintamente, ao desmantelo e à corrupção que afundaram o Brasil. O que temos acompanhado, com tristeza e preocupação, é um sentimento crescente de repulsa em relação aos políticos e partidos que possuem uma visão mais igualitária, humanista e voltada ao social, enquanto, por outro lado, se fortalecem discursos de ódio, intolerância, preconceito ou de conteúdo xenófobo e até mesmo fascista em determinados momentos, frutos de um reacionarismo cada vez mais exacerbado.
Uma das consequências desse fenômeno é o retorno de um anticomunismo anacrônico e descabido, como se ainda fizesse sentido se manifestar contra algo que é página virada na história. Basta conhecer minimamente a política brasileira para constatar, sem muito esforço, que o PT não é e nunca foi comunista. As raríssimas experiências comunistas que ainda se mantêm em pé, entre as quais Cuba e Coreia do Norte, não significam nada de relevante nem oferecem qualquer perspectiva de futuro – o regime norte-coreano, comandado por um bizarro ditador, se assemelha a uma dinastia imperial. Há também a China, que mantém um sistema político ditatorial, mas há muito tempo abriu sua economia para o capitalismo.
Do início ao fim, os governos de Lula e Dilma sempre estiveram afinados com os interesses da banca financeira, que nunca obteve lucros tão fabulosos quanto no período lulopetista. Nos últimos 13 anos, a educação e a saúde continuaram sofrendo com um declínio de qualidade vergonhoso. As famílias brasileiras se endividaram em decorrência do incentivo desenfreado ao consumo. Como resultado de tamanha irresponsabilidade e de uma série de equívocos cometidos na política econômica, o Brasil amarga uma recessão de proporções nunca antes vistas em nossa história, com mais de 12 milhões de desempregados. Como se tudo isso não bastasse, a tão prometida reforma agrária não saiu do papel e o déficit habitacional só se agravou. É a população mais pobre, fundamentalmente, quem mais sofre com o descalabro produzido pelo PT – cuja cartilha seguida enquanto governo nada teve a ver com uma política minimamente de esquerda.
É importante entender que o campo ideológico progressista no Brasil, formado por um amplo leque de partidos com visões de mundo distintas, não se restringe ao próprio PT. Isso ficou evidenciado no processo de impeachment de Dilma, em que as legendas que representam a esquerda democrática brasileira – o Partido Popular Socialista (PPS), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido Verde (PV) – votaram unidas pelo afastamento da então presidente.
A esquerda mais avançada, conectada ao século XXI e ao mundo do futuro, defende, neste exato momento, o ajuste econômico e a responsabilidade fiscal propostos pelo governo de Michel Temer para tirar o Brasil do buraco. Apoiar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/2016, que busca racionalizar os gastos públicos, não é uma bandeira empunhada por esquerda ou direita – mas por todos os que temos compromisso com um país mais justo, sustentável e digno para os seus cidadãos. E esse é apenas um dos exemplos que evidenciam a diferença entre uma esquerda autoritária, arcaica e dogmática e aquela mais democrática, dinâmica e plural.
Essa esquerda tem história, dignidade, honradez e jamais se enxovalhou com a corrupção desenfreada de mensalões ou petrolões. Essa esquerda oferece ao país não um projeto de poder, mas um projeto de desenvolvimento para todos os brasileiros.
Roberto Freire é deputado federal por São Paulo e presidente nacional do PPS
Fonte: pps.org.br
Luiz Carlos Azedo: Os laços da perdição
Pela primeira vez, a esquerda no poder promoveu uma política de concentração e internacionalização de capital nunca vista, com os chamados “campeões nacionais”
A discussão sobre capitalismo de laços no Brasil não é nenhuma novidade, assim como a tentativa de reinventar o capitalismo de Estado. Por R$ 100 é possível comprar pela internet dois livros de Sérgio Lazzarini sobre o assunto. Professor do Insper, o economista é um estudioso das imbricadas relações empresa-Estado no Brasil e do modelo político adotado pelo PT e que entrou em colapso com o escândalo da Petrobras, uma espécie de fusão das operações ilícitas envolvendo empresários, gestores públicos e políticos investigados pela Operação Lava-Jato com os mecanismos de intervenção do governo na economia, durante os mandatos de Lula e de Dilma.
Não se pode atribuir ao PT tudo o que aconteceu, até porque as estruturas do Estado e do capitalismo brasileiros foram historicamente constituídas. O problema é que, ao assumir o poder, o partido foi abduzido pelos laços perversos do sistema, ao conquistar a chave do cofre e assumir as redes da política. O transformismo petista, porém, é mascarado pela retórica neopopulista de amplos setores da esquerda, na qual o nacional desenvolvimentismo ainda serve de biombo ideológico. Encaixa-se como luva na velha doutrina dos movimentos de libertação nacional durante a guerra fria: aliança com a burguesia nacional contra o imperialismo, num esquema em que a emergência da China na economia globalizada e o jogo duro da Rússia de Putin contra os Estados Unidos na Ucrânia e no Oriente Médio substituíram a antiga União Soviética e os ex-aliados da Cortina de Ferro. Os sindicatos e a esquerda europeia se encarregaram de dar ressonância internacional ao projeto.
Lazzarini notou que, nos processos de licitação, formavam-se consórcios com atores conhecidos, com a participação do governo e seus agentes, mesmo depois do período de privatizações. O Estado já não tinha controle total sobre grandes empresas, com exceção das Petrobras; havia diluído sua participação em algumas empresas (privatizadas ou não) para atuar em uma rede muito maior de organizações. Com isso, ao lado da ofertas públicas de ações (IPOs – Initial Public Offerings) nas empresas estatais a novos investidores nacionais e internacionais, o Estado permanecia forte e presente em muitos setores.
O Estado não se afastou de atividades econômicas por meio da privatização e da abertura econômica. Pelo contrário, adotou um modelo de maior capilaridade, aumentando o número de empresas que contam com a participação do BNDES e dos fundos de pensão de estatais, que têm laços políticos com o governo. E essa ramificação do Estado é tão ou talvez mais poderosa do que o modelo anterior, concentrado em grandes empresas. Além disso, os mesmos proprietários e grupos, com laços cruzados, estavam em muitas empresas. Com isso, grupos privilegiados pelo governo, em troca de propina, passaram a ter uma grande presença transversal na economia.
Pela primeira vez, a esquerda no poder promoveu uma política de concentração e internacionalização de capital nunca vista, os chamados “campeões nacionais”, cuja consequência foi a criação de um ambiente econômico degenerado e pouco competitivo. Ao contrário do que apregoa o discurso de defesa da “engenharia nacional” e da reserva de mercado para a inovação e tecnologia nacionais, quando as empreiteiras formaram o cartel que controlava todos os grandes projetos do governo, da construção de plataformas de petróleo a estádios de futebol, puxaram para baixo a competitividade, a inovação, a qualidade e a produtividade no país.
Caso de polícia
As conexões internacionais do modelo são parte de um esquema de reprodução do projeto de poder, no qual o BNDES entrava como fonte financiadora. A maioria dos empréstimos camaradas tem prazo em torno de 12 a 15 anos, embora alguns contratos com Cuba destoem por terem até 25 anos. As taxas de juros estão entre 3% e 6% ao ano, em dólar. O financiamento desses contratos se dá via Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que recebe, nesses casos, remuneração atrelada a taxas internacionais. Mas essas são muito mais baixas do que o custo que o próprio governo consegue captar, aqui ou no exterior. E o próprio Tesouro tem coberto rombos no FAT.
Pois bem, quando um dos maiores fornecedores da Petrobras, com contratos no valor de R$ 25 bilhões, o estaleiro Keppel Fels, reconhece na Bolsa de Cingapura, onde fica a sua sede, que os pagamentos feitos a seu representante no Brasil “podem ser suspeitos”, desnuda os laços mais perversos e conexões internacionais desse modelo, que virou caso de polícia. Seu representante no Brasil é o lobista e engenheiro Zwi Skornicki, preso pela Operação Lava-Jato, que já disse que pagou US$ 4,5 milhões (R$ 14,4 milhões, em valores atuais) ao marqueteiro João Santana, que cuidou das campanhas de Lula (2006) e de Dilma Rousseff (2010 e 2014). A mulher e sócia de Santana, Mônica Moura, confessou que recebeu os US$ 4,5 milhões numa conta na Suíça, uma dívida da campanha de 2010. Os ataques ao juiz federal Sérgio Moro, de Curitiba, não salvarão o modelo fracassado. A crise fiscal do país exige do Estado e da sociedade uma mudança de paradigma.
Fonte: pps.org.br
Ferreira Gullar: Não basta ter razão
Não tem cabimento demonizar o populismo, ainda que ele contenha inevitavelmente contradições que podem levá-lo ao impasse. É inegável, porém, que ele parte da constatação de que a sociedade é, sem dúvida alguma, desigual.
Há uma minoria rica, uma classe média de alguns recursos e –particularmente em países com o nosso– uma maioria que vive ao nível da necessidade, mal tendo como sustentar e educar os filhos.
Eleger como objetivo de governo a melhoria das condições de vida dos mais pobres é indiscutivelmente um propósito louvável. Mas não basta ter razão para estar certo.
O problema é que esse populismo é ideológico e, por isso, faz do propósito de ajuda aos mais pobres um projeto de governo. Ao contar com o apoio dessa maioria carente, transforma-se em um modo de permanecer indefinidamente no poder.
Hugo Chávez, por exemplo, chegou a fazer aprovar uma lei que permitiria que ele fosse reeleito indefinidamente pelo resto da vida. Para enganar o povo, inventou um outro que daria à maioria o direito de depor o governante se ele traísse o interesse popular.
Se digo que o populismo latino-americano é ideológico, é que ele surgiu em decorrência da revolução cubana – que provocou um surto de guerrilhas no continente– como alternativa, após o fim dos regimes comunistas em quase todo o mundo.
De qualquer modo, o sonho da revolução proletária se desfez. O populismo troca a luta de operários contra a burguesia pela luta de pobres contra ricos. Assim, se o populismo não se assume comunista, procura em compensação se apresentar como anticapitalista.
Como não nasce de uma revolução que elimina da sociedade a classe capitalista, vale-se do governo para usar os recursos públicos na tarefa de dar casa, comida, escola e outros confortos até então fora de seu alcance, para assim, ao mesmo tempo, conquistar os votos dessa maioria da população.
Mas, para fazer isso, tem que contar com o apoio do capitalismo, como ocorreu na Argentina, na Venezuela e no Brasil.
Essa aliança inevitável compromete, de certo modo, o caráter anticapitalista que o populismo necessita ostentar. Para superar a contradição, é levado a adotar medidas e atitudes que aparentem sua hostilidade ao capitalismo, como dificultar as relações políticas com os norte-americanos e adotar exigências nos contratos com grandes empresas. Isso termina por reduzir –como no caso do Brasil– o comércio exterior e, internamente, leva ao fracasso projetos econômicos que necessitam de capital privado.
Somado isso às despesas com os programas sociais que beneficiam milhões de pessoas, é inevitável que a crise econômica termine por se instalar no país.
Para que se veja com clareza a diferença entre um governo não populista e um governo populista, tomo como exemplo os programas sociais do governo Fernando Henrique Cardoso e o do governo Lula.
FHC criou os programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Luz no Campo, que Lula criticou, acusando o presidente do PSDB de estar dando esmola aos trabalhadores e a suas famílias.
Quando assumiu o governo, porém, adotou os mesmos programas, trocando os nomes para Bolsa Família e Luz para Todos, aumentando em vários milhões o número dos beneficiados.
O resultado foi que a fusão dos programas e esse aumento de milhões de pessoas tornaram quase impossível a sua fiscalização, o que induziu muita gente a largar seu emprego para viver da ajuda do governo. Há mesmo exemplo de pequenos municípios em que quase todos vivem do Bolsa Família.
É que o populismo, na melhor das intenções, parte de que o problema da desigualdade social se resolve com o dispêndio do dinheiro público. Trata-se de uma ilusão. Não há mágica capaz de resolver problema tão complexo, do dia para a noite, às custas do Tesouro Nacional.
A solução efetiva desse problema exige que os mais pobres tenham condições efetivas de criarem seus filhos, educá-los e dar-lhes qualificação profissional. E temos que tomar isso a peito, sem demagogia. (Folha de S. Paulo – 09/10/2016)
Fonte: pps.org.br
Maurício Huertas: O “sobe e desce” da política partidária
Se as urnas demonstram que há um esgotamento da paciência da maioria dos cidadãos brasileiros com o atual sistema político-partidário, vide o número recorde de ausências, votos brancos e nulos em todo o país, também é verdade que, enquanto houver a obrigatoriedade de filiação a partidos políticos para se concorrer às eleições, o jogo a ser jogado é dentro das 35 siglas existentes (e outras que ainda estejam por vir).
Parece ser consenso que novas mudanças na legislação partidária e eleitoral são necessárias, muito além do puxadinho chamado de reforma que ocorreu para as eleições municipais de 2016. Correção de distorções à parte e avanços que talvez os atuais mandatários não tenham vontade política de encarar, o fato é que o cenário para 2018 começa a se desenhar a partir da correlação de forças demonstradas neste 2 de outubro.
Todas as análises apontam para o PT como grande derrotado em 2016 e, pelo resultado massacrante e surpreendente em São Paulo, o epicentro político das últimas décadas, Geraldo Alckmin (PSDB) desponta como a liderança política com mais força para a sucessão presidencial. Pensando em números e tratando a política como ciência exata, seria por aí. Mas é claro que há outras variáveis incontroláveis. De todo modo, precisamos partir de um ponto concreto para fazer o mapeamento político nacional.
Pois o que se viu foi Alckmin, padrinho do “não-político” João Doria, que ganhou a Prefeitura de São Paulo no 1º turno com 53% dos votos, impor ao PT (com os 16,7% de votos para Haddad) a maior derrota da sua história. Lembrando que em 1985, quando disputou a sua primeira eleição municipal com Eduardo Suplicy como candidato a prefeito, o PT teve 19,75% dos votos, ficando atrás do vencedor Jânio Quadros, com 37,53% e Fernando Henrique, com 34,16%. Na eleição seguinte, em 1988, ganhou Luiza Erundina (que tinha sido candidata a vice em 1985), e a partir daí o PT sempre esteve na disputa polarizada pela Prefeitura, primeiro contra o malufismo: Maluf (92), Pitta (96) e Maluf (2000); depois contra os tucanos ou seus satélites: Serra (2004), Kassab (2008), Serra (2012) e João Doria (2016). Venceu três vezes, em 1988, 2000 e 2012.
Portanto, nessa balança dos dois pólos mais tradicionais da política atual, que se traduz também desde 1994 nas eleições presidenciais, é inegável que o “lado azul” desponta com amplo favoritismo contra o “lado vermelho” para 2018, sendo que Alckmin se firma como potencial candidato tucano. Dos seus concorrentes internos, José Serra perdeu espaço (a não ser que migre para o PMDB ou se contente com a eleição para o governo do Estado) e Aécio Neves segue com o controle da máquina nacional partidária mas precisa cuidar da franquia mineira (afinal, a sua derrota em Minas, na eleição presidencial de 2014, foi determinante para a vitória de Dilma).
Embora direita e esquerda sejam conceitos cada vez mais anacrônicos, na parcela mais conservadora do eleitorado, à direita do PSDB, destacam-se figuras como Bolsonaro, que não vão vencer eleição majoritária nenhuma, mas indicam um volume crescente do eleitorado mais retrógrado. Ao centro, o PMDB permanece como uma federação de caciques e coronéis locais, agora alçado à Presidência da República para uma transição ainda indefinida.
Partidos como DEM, PSC, PSD, PP, PR e PRB também seguem crescendo ou (re)conquistando municípios importantes. A liderança jovem e mais bem sucedida é ACM Neto, eleito prefeito de Salvador com 74%. Já é nome forte para ser candidato ao Governo da Bahia ou a vice-presidente da República.
À esquerda, o PSOL vai tomando eleitores desiludidos com o PT. A Rede Sustentabilidade de Marina Silva sai da eleição enfraquecida e em crise de identidade. O PT vive um dilema na sucessão da liderança de Lula (às vésperas de se tornar ficha suja na Operação Lava Jato). O próprio Fernando Haddad, apesar da derrota fragorosa, e Eduardo Suplicy, com a votação recorde para vereador, são nomes cotados para um aggiornamento petista, que tem ainda em Ciro Gomes, hoje no PDT, uma alternativa para sobreviver a 2018.
Resta a chamada esquerda democrática, fundamentalmente representada por PPS, PV e PSB, que até pode se aliar pontualmente ao PSDB, mas que trabalha para superar a polarização tradicional e definitivamente se diferencia das práticas e dos conceitos da velha esquerda que não resistiu à queda do muro de Berlim. Está aí nesses partidos, e no que aflorar da Rede, o caminho que pode reaproximar a boa política das novas demandas da sociedade. Aguardemos.
Mauricio Huertas, jornalista, é secretário de Comunicação do PPS/SP, diretor-executivo da FAP e apresentador do #ProgramaDiferente
Fonte: pps.org.br
Luiz Werneck Vianna: De quando é bom ter uma pinguela segura
Agora não resta solução senão a de atravessar, pé ante pé, essa estreita que se tem à frente...
Para um observador desavisado, inexperiente de como aqui se vivem as coisas da política, diante do cenário que aí está, nada de estapafúrdio que se lhe dê na telha a ideia de estarmos na iminência de uma revolução.
Nas salas de aula das universidades os estudantes exibem adesivos estampando um “fora Temer”, professores das escolas de ensino médio cumprimentam seus alunos com o mesmo bordão, artistas e cantores populares não começam seus espetáculos sem ele, também presente nas salas de cinema e nos teatros. Uma ex-presidente da República que teve seu mandato cassado, num trâmite que passou pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que decretou o seu impeachment, em julgamento presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, participa de comícios eleitorais de candidatos às eleições municipais, quando se declara vítima de um golpe, todos são sinais que levam nosso observador a ruminar suas impressões.
Contudo se ele resolver testá-las, levantando a vista para a sociedade inteira, logo reconhecerá o despropósito da sua fabulação. No Congresso, em suas duas Casas, o governo detém folgada maioria, couraça sem a qual não há Executivo que se mantenha, fato ilustrado pela nossa experiência, contundentemente confirmada por recentes episódios. Nas chamadas classes fundamentais, fora a agitação de sempre que lhes é própria, não se percebem outras movimentações que não sejam as da defesa de seus interesses e direitos. No mundo agrário, tradicional calcanhar de Aquiles da política brasileira, sopram os mesmos ventos.
Faltaria, ainda, consultar o que se passa nas eleições municipais, termômetro confiável para o registro dos sentimentos da população, e nos quartéis, cuja importância na tradição republicana brasileira dispensa comentários. Nestes últimos reina, há tempos, a reverência ao culto constitucional e ao exercício dos seus papéis profissionais; nas eleições, que transcorrem em clima morno, se valem as pesquisas – e tudo indica que valem –, as candidaturas que se deixaram embair pelo bordão “fora Temer”, principalmente nas grandes capitais, estão longe de obter votações que as levem à vitória. E, como sempre entre nós, não há melhor detergente em horas de crise política do que um processo eleitoral.
Feito esse balanço, nosso observador admite que se equivocou no diagnóstico. Mas se não é de revolução, do que se trata, que bicho é esse que nos aturde com sua presença? A frase é velha, mas nem por isso perde validade: o passado não mais ilumina o futuro, que ainda não começou a nascer. A hora é de transição, de lusco-fusco, não é mais noite e o dia tarda a aparecer, mas a sociedade se inquieta e começa despertar sem saber o que a espera em meio às ruínas que sobraram dos partidos e, em geral, das nossas instituições políticas.
Ela mudou em meio às poderosas transformações demográficas, sociais e ocupacionais que desfiguraram a paisagem reinante em meados do século passado. Encontramo-nos em terra nova, como se estrangeiros a ela, agarrados a um passado que nos foi familiar, com as relações entre gerações, entre gêneros, sobretudo entre as classes sociais e sistema de crenças girando em gonzos fora do nosso controle e da nossa imediata percepção. A sociedade modernizou-se por cima, sujeita a experimentos saídos das pranchetas de uma tecnocracia ilustrada, impostos a ferro e fogo – exemplo mais recente, o da colonização da Amazônia.
Entre nós, a obra dessa modernização persistiu por décadas, ora por vias duramente repressivas, como no Estado Novo de Vargas e no regime militar, ora de forma doce, como nos governos de Juscelino – que criou no centro geográfico do Brasil, nos ermos do Cerrado, uma nova capital para o País – e nos de Lula e Dilma.
Fora de dúvidas que tais esforços em favor da aceleração da modernização foram bem-sucedidos, em que pesem os altos custos políticos e sociais envolvidos, não só pelo aprofundamento das desigualdades já existentes, como pela condenação da sociedade a um estatuto de minoridade sobre a qual deveria incidir a ação modernizadora do Estado. Não à toa as lutas pela democratização do País trouxeram consigo a denúncia dessa modelagem, filha de nossa longa tradição de autoritarismo político, do que foi exemplar a publicação de São Paulo 1975 – Crescimento e Pobreza, sob a iniciativa do cardeal Paulo Evaristo Arns, obra coordenada por Lucio Kovarick e Vinicius Caldeira Brant.
Essa nova agenda, nos anos 1980, encontrou no PT uma de suas mais importantes vocalizações. Com efeito, dele vieram críticas contundentes ao nacional-desenvolvimentismo e à cultura política que enlaçava a sociedade civil ao Estado e às suas agências, como no caso do sindicalismo, objeto de feroz crítica das emergentes lideranças sindicais dos metalúrgicos do ABC, Lula à frente, como seu principal porta-voz. O PT nasceu e cresceu em nome de uma representação da sociedade civil que aspirava por autonomia diante da onipotência de um Estado que fazia dela base passiva para sua manipulação.
Como se sabe, esse partido, por fas ou nefas, se converteu às práticas que combatia; e levou-as à exaustão depois de um curto período de fastígio no seu uso, culminando no episódio melancólico do impeachment do mandato presidencial de Dilma Rousseff sob a acusação de ter atentado contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja inspiração oculta, ao impor limites ao decisionismo do Executivo, consistiu precisamente em interditar caminhos ao processo de modernização autoritária vigente por décadas no País.
Agora, não resta outra solução que não a de atravessar, pé ante pé, a pinguela estreita que se tem à frente, de que falou em entrevista o ex-presidente Fernando Henrique, travessia perigosa que, para ser segura, está a exigir outra bibliografia e uma imaginação bem diversa da que nos trouxe até aqui.
Luiz Werneck Vianna: Sociólogo, PUC-RJ
Fonte: opiniao.estadao.com.br