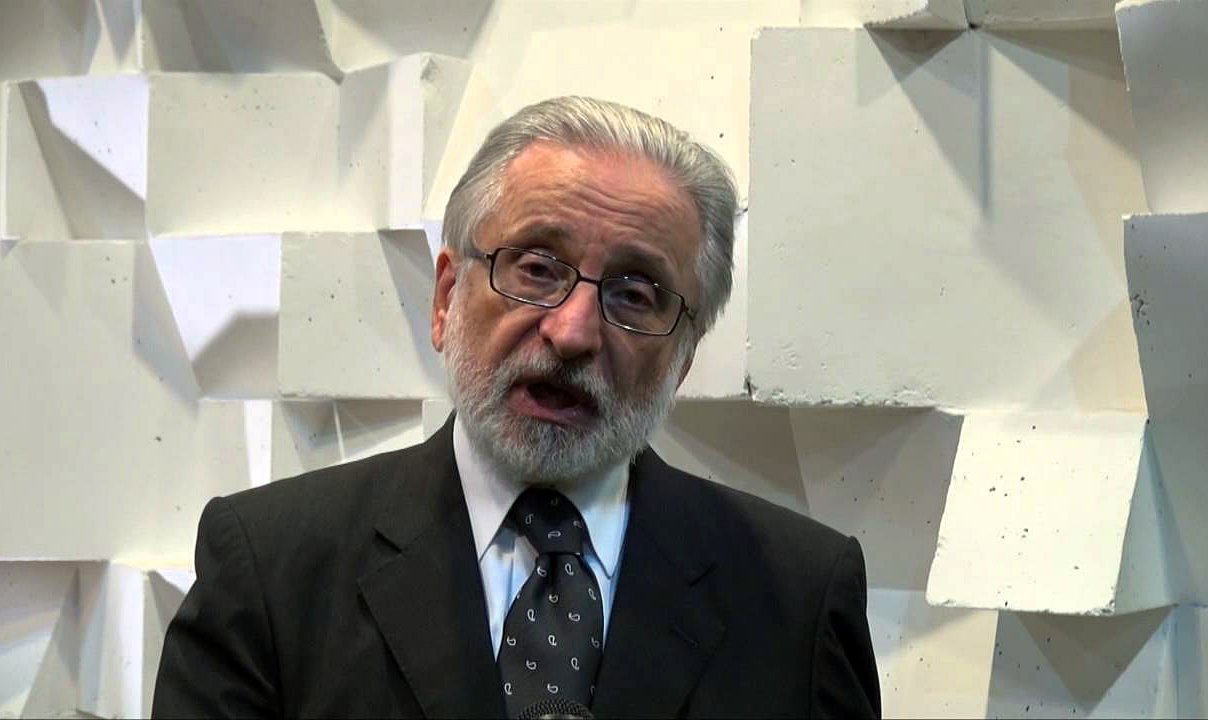Itamaraty
Oliver Stuenkel: Brasil fora da nova construção da ordem global pós-coronavírus
Visto como ameaça tanto no âmbito ambiental quanto no da saúde global, o país vive colapso inédito da sua reputação e influência
Cada geração vivencia momentos históricos que transformam a política global, fechando uma era ou abrindo um novo ciclo geopolítico. Eventos como o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, os atentados do 11 de setembro, a entrada da China na OMC e a crise financeira global de 2008 rearranjaram o tabuleiro global, tanto dando mais espaço a países que conseguiram, por inteligência estratégica ou mera sorte, se adaptar melhor à nova realidade, quanto reduzindo a influência daqueles que não souberam aproveitar o novo contexto. Em momentos nos quais o mundo está em transição, países com lideranças bem-preparadas podem aproveitar para galgar posições, enquanto outros correm o risco de perder relevância.
Com a pandemia do novo coronavírus não será diferente, e já se percebe que alguns países mostram-se mais ágeis e resilientes no combate à covid-19 do que outros. Enquanto Tailândia, Vietnã e Nova Zelândia conseguiram evitar elevadas taxas de infecção, outros, como China e Rússia, estão aumentando sua influência global por meio da “diplomacia da vacina”, oferecendo doses a países em desenvolvimento mesmo antes de completar a vacinação de suas próprias populações.
O Brasil, pelo que tudo indica, é um dos grandes perdedores geopolíticos do momento atual: não apenas saiu da lista das 10 maiores economias do mundo durante a pandemia, mas também vive um colapso inédito de sua imagem diante da estratégia negacionista de seu presidente, abalando a confiabilidade que o país tinha entre seus tradicionais aliados. A reputação brasileira de país com um dos maiores e melhores sistemas públicos de saúde no mundo em desenvolvimento, arduamente construída ao longo de anos, se desfez, ofuscada por um presidente que ocupa regularmente manchetes dos maiores jornais do planeta por seus ataques contra a ciência.
Ainda é cedo para se ter uma noção clara de todas as consequências geopolíticas da pandemia, mas algumas tendências já se destacam. Três questões merecem atenção.
Em primeiro lugar, não há dúvidas de que a saúde global se consolidará como um tema-chave no âmbito multilateral, seja pelo fortalecimento da Organização Mundial da Saúde (OMS), seja pela criação de uma estrutura nova para monitorar o surgimento de futuras pandemias e o desenvolvimento e a distribuição de outras vacinas. Além de se buscar prevenir e combater o surgimento de um novo vírus, cresce a preocupação com as chamadas superbactérias, que resistem a antibióticos e poderiam, segundo estudo encomendado há alguns anos pelo governo britânico, matar milhões de pessoas e “levar a medicina à era das trevas”, como disse Jim O’Neill, coordenador da pesquisa e criador do termo BRICS. Tanto os principais fornecedores de vacinas quanto países que responderam melhor a pandemia devem liderar esse debate. O Brasil, que é visto como uma ameaça global e um possível celeiro de variantes por não controlar a transmissão do vírus, dificilmente terá voz.
Em segundo lugar, uma das tendências mais transformadoras da política global nos próximos anos será a influência do enfrentamento da mudança do clima na política externa das grandes potências —inclusive da China. O atual debate sobre o ecocídio ser ou não considerado um crime internacional, como é o caso do genocídio, é apenas o princípio de uma transformação que mudará a maneira como países pensam seus interesses nacionais e as principais ameaças que enfrentam. Enquanto lideranças políticas brasileiras e das Forças Armadas do Brasil se destacam pelo negacionismo, as Forças Armadas de outros países discutem o tema de maneira frequente há anos —inclusive porque o desmatamento pode aumentar o risco do surgimento de novas pandemias. Da mesma forma que no debate sobre saúde global, o Brasil corre o risco de ser visto como ameaça pela comunidade internacional, reduzindo a possibilidade de tornar-se interlocutor qualificado, consolidando, assim, seu papel de pária.
A terceira grande tendência política no mundo pós-covid-19 será a chegada da chamada guerra tecnológica —a competição tecnológica global entre EUA e China, que se tornou mais visível no Brasil depois de o Governo Bolsonaro sofrer pressão dos EUA para excluir a empresa chinesa Huawei entre as opções de fornecedores na construção da rede 5G. A pressão norte-americana foi seguida de alertas de Pequim, para a qual tal posição seria interpretada como um ato hostil ao governo chinês. Gerenciada de maneira perspicaz, a crescente atuação chinesa na América Latina poderia ajudar o Brasil na gestão da relação com os EUA e vice-versa. Afinal, sempre convém ter alternativas. Porém, como as tensões entre Pequim e Washington no âmbito tecnológico podem levar à criação de duas esferas tecnológicas, uma liderada pelos EUA e outra pela China, manter relações amistosas demandará sofisticação diplomática por parte do Brasil. O Governo Bolsonaro, no entanto, escolheu o pior dos mundos: depois de Bolsonaro se posicionar publicamente a favor dos EUA, viu-se obrigado a permitir, de última hora, a participação da Huawei na corrida pela rede 5G quando aumentou a pressão pública por ganhar acesso a vacinas chinesas contra a covid-19. Tanto em Washington quanto em Pequim, observadores ficaram com a impressão de que a atuação externa do governo Bolsonaro não se baseia em um planejamento estratégico, mas é curto-prazista e imprevisível. O presidente conseguiu a proeza de ter saído do episódio com a relação abalada tanto com Washington quanto com Pequim.
Em meio a essas transformações que moldarão os fundamentos da era pós-pandemia, está nascendo uma ordem global diferente, produto de decisões das principais lideranças da atualidade. Enquanto os EUA pagavam um preço desproporcional por ter uma liderança incapaz de gerenciar a pandemia até recentemente, a atual administração já está conseguindo conter os danos, implementando um dos melhores programas de vacinação do mundo. No caso brasileiro, a troca do atual presidente em 2022 seria o primeiro passo para começar a controlar o prejuízo e reverter o colapso inédito da reputação e influência brasileira no mundo.
Oliver Stuenkel é doutor em Ciências Política e professor de Relações Internacionais na FGV em São Paulo. É o autor de O Mundo Pós-Ocidental (Zahar) e BRICS e o Futuro da Ordem Global (Paz e Terra). Twitter: @oliverstuenkel
RPD || Dawisson Belém Lopes: A política externa brasileira num labirinto borgiano
Pária mundial “por opção”, nas palavras do chanceler Ernesto Araújo, o governo Bolsonaro é responsável por um dos piores momentos da política externa brasileira, deixando de perseguir interesses concretos do país
Não faz muito tempo, o Brasil jactava-se de seu universalismo. Era o país que não conhecia inimigos. Alcançava praticamente todo recanto do planeta com sua rede diplomática. Chefiava organismos prestigiosos, como a OMC e a FAO, e cedia seus nacionais para tribunais e cortes internacionais. Orgulhava-se de sua chancelaria. Tinha no Ministro das Relações Exteriores um signo da melhor tradição intelectual. Liderava agendas centrais, como a do meio ambiente, e era consultado em assuntos de direitos humanos, governança da internet, paz e segurança. Nossa República Federativa fazia boa figura no teatro global.
Esse tempo de bem-aventurança, contudo, ficou para trás. O Brasil, hoje, é “pária por opção” – invocando aqui palavras do chanceler Ernesto Araújo. Num contexto de desafios, em que despontam a rivalidade sino-americana e o arrasamento pandêmico, o governo federal vê diminuir a margem para manobrar. Opções estratégicas sobre a mesa vão minguando, à medida que nos indispomos com potências e abdicamos de pretensões de liderança no entorno geográfico, deixando de perseguir interesses concretos do país.
Responsável por mais de 30% do comércio externo brasileiro, a China é quem ajuda a manter as contas no azul. A despeito disso, Jair Bolsonaro e asseclas hostilizam Pequim sem cessar, desde a campanha eleitoral, em 2018, até o presente. Xi Jinping já emite, por meio de seus representantes empresariais e diplomáticos, ameaças de represália. Segundo lugar entre parceiros comerciais, além de maiores investidores no Brasil durante a década de 2010, os Estados Unidos também são fundamentais no grande esquema das coisas. Porém, como o incumbente do Planalto amarrou os destinos da nossa nação a Donald Trump, não se deve esperar atitude benevolente de Joe Biden no porvir.
Entre europeus, nada muito distinto. Terceira parceira comercial, a Holanda rejeitou, pela via parlamentar, o acordo UE-Mercosul, sob argumento de defesa da Amazônia. A Espanha, quinta no ranking do comércio externo, é governada pela esquerda, o que dificulta interlocução mais profícua. A Alemanha vive às turras com o maior país da América do Sul; além do desgaste da imagem, negócios permanecerão parados enquanto as práticas ambientais não forem revistas. A França, outra investidora no Brasil, faz objeção vocal à política ambiental e, como os chineses, planeja deixar de comprar os grãos que movem o agronegócio pátrio.
Na América Latina, a configuração não é menos dramática. Por quase um ano, os chefes de Estado de Brasil e Argentina (esta, a nossa quarta maior parceira comercial) não trocaram uma palavra sequer. O silêncio foi rompido recentemente, por iniciativa de Buenos Aires, mas os canais seguem obstruídos. Já o oitavo lugar no ranking de parceiros comerciais, o México, também é liderado pela esquerda, o que inviabiliza o diálogo – segundo a lógica sectária bolsonarista. México e Argentina coordenam entre si as iniciativas regionais, na ausência do Brasil. Jorge Castañeda, ex-chanceler mexicano, resume o imbróglio: “o Brasil ficará isolado em seu autoritarismo.”
Uma nota sobre a pandemia. O enfrentamento brasileiro ao novo coronavírus foi considerado, numa amostra de 98 países, o pior de todos, segundo think tank australiano. Parte dessa desastrosa condução deveu-se à incompetência nas mediações com o restante do mundo. Com uma indústria farmacêutica que importa 90% de seus insumos e diante da opção por não investir na fabricação de imunizante nacional para controlar o espalhamento da covid-19, o Brasil tornou-se refém de suprimento externo. Em tempos de escassez, porém, cada estado favorece primeiramente a população local. De exemplo em políticas públicas para vacinação em massa, passamos a figurar entre os que, pela incapacidade de lidar com a doença, sabotam o esforço de contenção do vírus.
Diante de fracassos retumbantes na política externa, como reagem o presidente da República e seu chanceler? Em gestos que exemplificam um descolamento de fatos e estatísticas, Bolsonaro e Araújo reúnem a fina flor da direita populista – de Andorra à Ucrânia, passando por Hungria e Índia – para clamar por “liberdade” e “família”, ao mesmo tempo em que flertam com monarquias teocráticas do Oriente Médio. Talvez seja o que lhes tenha restado no tabuleiro geopolítico. Como num conto de Borges, fica para o observador a incômoda sensação de que, quanto mais avançamos por estas sendas, mais se bifurcam os caminhos do labirinto.
*Dawisson Belém Lopes é Professor Associado de Política Internacional e Comparada na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais e, desde março de 2018, Diretor-adjunto de Relações Internacionais da UFMG.
Luiz Augusto de Castro Neves: ‘Papel do Itamaraty se tornou secundário’
Pragmático, governo da China busca outras vias de negociação, como os governadores, diz Luiz Augusto de Castro Neves
Francisco Carlos de Assis, O Estado de S.Paulo
Para o embaixador do Brasil em Pequim, de 2004 a 2008, e hoje presidente do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), Luiz Augusto de Castro Neves, o governo chinês optou pelo pragmatismo e não tem levado em consideração os ataques recebidos de alguns membros do governo brasileiro. “O governo brasileiro, nas suas manifestações públicas, tem apresentado algumas disfuncionalidades”. A seguir, os principais trechos da entrevista ao Estadão.
Apesar do discurso ‘antichina’ do governo, a exposição das exportações brasileiras à China saltou de 28%, em 2019, para 32%, em 2020. Teremos uma repetição deste aumento este ano?
Sim. A China, embora tenha crescido 2% no ano passado, sofreu uma desaceleração muito grande, o que gerou uma capacidade ociosa que deverá ser preenchida este ano. E o Brasil se mantém ainda em recessão e tem aumentado as exportações para o mercado chinês e reduzindo suas importações. O aumento das exportações para a China se dá por sua economia estar crescendo mais que a economia mundial.
Mesmo com as compras de insumos para vacinas as importações de produtos chineses não devem ter destaque este ano?
A compra de produtos chineses, de modo geral, tende a se estabilizar ou até diminuir. As importações dos insumos necessários para a fabricação de vacinas contra a covid-19, quantitativamente, não serão decisivas, no agregado, para gerar um aumento nas importações. Nossas importações da China são basicamente de bens intermediários essenciais para a indústria.
Os ataques feitos à China por membros do governo não causam ruídos nas negociações comerciais entre os dois países?
O governo brasileiro, nas suas manifestações públicas, tem apresentado algumas disfuncionalidades. São manifestações vinculadas ao governo e que exprimem posições pessoais. Mas o que tem prevalecido é o pragmatismo e, bem ou mal, a China ainda é o nosso maior parceiro comercial.
Recentemente, os chineses andaram negociando com governadores e com o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia. É uma forma de reduzir o papel do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores?
A China vai sempre negociar com interlocutores eficazes. O ex-presidente Michel Temer negociou com eles com a anuência do governo federal, mas é fato que o papel do Ministério de Relações Exteriores se tornou secundário. Mas esta tem sido uma tendência mundial. Se antes as negociações comerciais eram de exclusividade do Ministério de Relações Exteriores, hoje Estados e empresas privadas têm seus próprios canais de conexão com o mundo.
Roberto Abdenur: ‘Houve uma destruição da política externa brasileira’
Comércio com os EUA também foi afetado, apesar das concessões feitas por Bolsonaro, em uma postura de 'subserviência', avalia ex-diplomata
Douglas Gavras , O Estado de S. Paulo
O saldo dos dois primeiros anos de governo Bolsonaro nas relações exteriores é destrutivo, avalia o ex-embaixador na China Roberto Abdenur. Na entrevista a seguir, o ex-diplomata, que também já representou o Brasil em Washington, ressalta que a postura de “subserviência” do governo brasileiro em relação ao ex-presidente americano Donald Trump foi ruim para o País sob diferentes aspectos.
É possível classificar a relação atual do Brasil com a China como uma dependência comercial?
A China despontou como parceiro comercial brasileiro, graças à imensa demanda por commodities, mas não creio que o Brasil seja dependente deles, no sentido de que eles não têm poder para ditar rumos ao governo brasileiro, assim como não éramos dependentes dos Estados Unidos, quando o peso deles era maior na balança brasileira.
O que temos é uma parceria?
Temos uma parceria estratégica, que ajudei a lançar quando era embaixador em Pequim, até o início da década de 1990. De lá para cá, isso floresceu, graças ao extraordinário crescimento da China. Na época, já via o avanço chinês com otimismo, mas não imaginei que eles fossem sustentar esse crescimento por quase 30 anos, e que o país se transformaria em uma potência econômica, comercial, militar e tecnológica.
Como definir a política externa brasileira no atual governo?
O que houve nos dois anos de Bolsonaro é que o Brasil não teve, a rigor, uma política externa. Houve uma destruição da diplomacia. As coisas de que falam o chanceler, Ernesto Araújo, e os assessores da ala ideológica são devaneios, uma nuvem de teorias da conspiração. Chegamos a considerar as próprias Nações Unidas algo indesejável. Nos tornamos o único país do mundo que ataca o multilateralismo.
O saldo da relação muito próxima entre Bolsonaro e Trump é negativo para o Brasil, portanto?
No ano passado, houve um forte encolhimento do comércio com os EUA, muito por conta da pandemia, mas também por protecionismo. O ex-presidente Donald Trump impôs tarifas abusivas sobre aço, alumínio e etanol brasileiros. O comércio foi afetado, apesar de todas as concessões feitas por Bolsonaro, em uma postura inacreditável de subserviência.
A afinidade entre os dois governos feriu o interesse nacional?
Na primeira metade de seu mandato, Bolsonaro se pendurou em Trump. Também já fui embaixador em Washington e as relações com os EUA eram conduzidas de outra forma. Havia diferença de tom, mas também uma linha de continuidade que atravessou governos tão diferentes entre si, como o de Sarney, Collor, FHC e Lula.
NOTÍCIAS RELACIONADAS
- Efeitos da covid-19 fazem custo de frete para a China disparar
- Brasil perde R$ 4,6 bi em exportações com barreiras comerciais, estima CNI
- Balança comercial registra déficit de US$ 1,125 bilhão em janeiro
O Estado de S. Paulo: Dependência comercial do Brasil em relação à China é recorde e deve aumentar
Participação chinesa nas exportações brasileiras subiu quatro pontos porcentuais em 2020 e já responde por quase um terço vendas totais
Douglas Gavras e Francisco Carlos de Assis , O Estado de S. Paulo
Conteúdo Completo
- Dependência comercial do Brasil em relação à China é recorde e deve aumentar
- ‘Houve uma destruição da política externa brasileira’, diz Abdenur
- ‘Papel do Itamaraty se tornou secundário’, diz ex-embaixador em Pequim
- Falta de competitividade brasileira além das commodities ainda preocupa
Apesar das críticas abertas à China terem se tornado quase um mote da política externa brasileira durante os dois primeiros anos de governo do presidente Jair Bolsonaro, a dependência comercial do Brasil em relação ao país asiático bateu recorde no ano passado – e deve ficar ainda maior nos próximos anos.
A participação chinesa em tudo que o Brasil vende ao exterior vem crescendo, ano após ano, desde 2015. Mas essa escalada vinha acontecendo em ritmo mais lento: entre 2018 e 2019, por exemplo, essa fatia nas exportações aumentou pouco mais de um ponto porcentual. Com a pandemia do novo coronavírus, porém, a participação chinesa explodiu, avançando quatro pontos porcentuais: de pouco mais de um quarto para um terço das exportações e batendo em 32,3% em 2020.
Em um ano, as vendas aos chineses subiram de US$ 63,4 bilhões para US$ 67,8 bilhões (alta de 7%, em termos nominais), segundo estatísticas do antigo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), hoje ligado ao Ministério da Economia. E isso se deu enquanto o total das exportações brasileiras caiu de US$ 225,4 bilhões, em 2019, para US$ 209,9 bilhões em 2020, por conta da crise internacional.
Recuperação desigual
Dois fenômenos ajudam a explicar o aumento da dependência em relação à China no ano passado, diz o estrategista do Banco Ourinvest e ex-secretário nacional de Comércio Exterior, Welber Barral. “O Brasil exportou mais carnes para a China, já que a peste suína lá fez crescer a demanda pelo produto, e também subiu a quantidade de outros produtos básicos demandados por eles no segundo semestre.”
A expectativa do Banco Mundial é que o principal parceiro comercial do Brasil tenha crescido 2% no ano passado, enquanto a média mundial deve ser de uma queda de 4,4%.
Como efeito da retomada do país, os chineses voltaram a comprar do mundo, chegando a estocar alimentos, e as vendas de commodities brasileiras começaram a reagir, impulsionando o agronegócio, mesmo em um ano de recessão mundial.
“A China teve um desempenho muito bom no quarto trimestre de 2020. Entre as maiores economias do mundo, é uma das poucas que devem ter crescido no ano, enquanto nos EUA, por exemplo, o número de mortos é assombroso e a pandemia segue descontrolada”, avalia o coordenador de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), Armando Castelar.
Ele lembra que o apetite chinês pelas commodities de que o Brasil depende para ter vantagem nas suas exportações – como a soja e o minério de ferro – deve crescer também este ano, dado que as projeções do Banco Mundial estimam uma alta de 7,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e alguns analistas já projetam crescimento de 9%.
Enquanto isso, a economia americana, o segundo principal destino das exportações brasileiras, pode crescer 6%, caso o presidente Joe Biden consiga colocar em prática seu pacote de estímulos de US$ 1,9 trilhão. “A maior parte do crescimento da demanda pelos produtos brasileiros, portanto, se dará pela China e a nossa dependência vai aumentar”, reforça Castelar.
Relação conturbada
Parte dos atritos do próprio presidente Bolsonaro, do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e de aliados com os chineses se deve pelo alinhamento do governo brasileiro com o então presidente norte-americano Donald Trump, que não conseguiu conquistar um segundo mandato no ano passado.
Em algumas dessas demonstrações, Bolsonaro chamou de “vachina” a vacina fabricada pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e desacreditou diversas vezes o imunizante contra o coronavírus. As declarações dos bolsonaristas chegaram a gerar reações irritadas da diplomacia chinesa ao longo do ano.
Enquanto os chineses ganharam terreno nas vendas brasileiras ao exterior, no entanto, as exportações para os Estados Unidos caíram 27,6%, de US$ 29,7 bilhões em 2019 para US$ 21,5 bilhões em 2020, afetadas pelo tranco no comércio internacional durante a pandemia.
“Apesar dos atritos com o Brasil, a China é pragmática e se planeja para o longo prazo. Eles sabem que, da mesma forma que Trump passou, Bolsonaro também vai passar”, diz Barral.
No fim de janeiro, temendo que as rusgas atrasassem o envio da matéria prima para vacinas, o presidente fez um giro em seu discurso e afagou o governo chinês em suas redes sociais, agradecendo a autorização para a vinda dos insumos.
“A revisão da postura do Brasil tem acontecido. É verdade que forçada pela necessidade de importar os insumos para a fabricação das vacinas contra a covid-19, mas é bom que o governo reveja sua postura e ponha os interesses do País em primeiro lugar”, completa Barral.
“De fato, a economia chinesa voltou ao patamar anterior à pandemia e é hoje a mais dinâmica. É a que entregou crescimento e, por isso, é natural que demande mais”, diz a economista Fabiana D’atri, coordenadora de economia do Bradesco e que também é diretora econômica do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).
A China, acrescenta Fabiana, abriu sua economia antes, conseguiu atender a sua própria demanda e depois a procura mundial por bens ligados à pandemia – máscaras, luvas etc – e depois toda a parte de equipamentos usados para as atividades de home office, principalmente equipamentos eletrônicos, celular, cabos e fones.
Os analistas avaliam que a China se beneficiou no ano passado em duas pontas: primeiro, porque reconheceu e confirmou rapidamente a pandemia. Em seguida, por ter gerado os estímulos para responder à crise e ainda ganhar mercado. O Brasil, por sua vez, entrou na tendência global de demandar bens ligados à pandemia, seja eles na saúde ou tecnologia.
“Não é à toa que o valor do frete da China explodiu. Mais uma vez, o que a gente vê não é o Brasil ditando a sua exposição, mas a China ditando o ritmo não só do Brasil, mas do mundo inteiro”, avalia Fabiana.
NOTÍCIAS RELACIONADAS
- Efeitos da covid-19 fazem custo de frete para a China disparar
- Balança comercial registra déficit de US$ 1,125 bilhão em janeiro
- Brasil perde R$ 4,6 bi em exportações com barreiras comerciais, estima CNI
Oliver Stuenkel: Desmonte do Itamaraty abre brecha para projeção internacional de governadores e prefeitos
Com o chanceler brasileiro priorizando assuntos internos, governadores, prefeitos e deputados estão virando interlocutores-chave de governos, empresas e ONGs no exterior
Quando os assessores de Anthony Blinken, secretário de Estado do presidente americano Joe Biden, começaram, recentemente, a discutir o futuro da relação entre os Estados Unidos e o Brasil, surgiu uma pergunta incomum: quem no Governo Bolsonaro seria o principal interlocutor do novo Governo americano? Em tempos normais, seria o chanceler brasileiro, é claro. Na prática, porém, Ernesto Araújo não é uma opção para gerenciar a relação bilateral. Afinal, o novo Governo americano avalia, corretamente, que o papel fundamental de Araújo não é a condução da política externa brasileira, mas, por meio da promoção de teorias conspiratórias, a mobilização permanente da base bolsonarista.
Mesmo se Araújo priorizasse a gestão das relações exteriores do Brasil, seus comentários sobre o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro (segundo ele, os invasores seriam “cidadãos de bem”) e a respeito das eleições presidenciais americanas (para ele, fraudadas) já seriam suficientes para torná-lo persona non grata em Washington. O cenário em Berlim, Paris, Pequim e Buenos Aires é o mesmo: alguma comunicação oficial e um aperto de mão protocolar até podem envolver Araújo, mas a maioria dos governos já estabeleceu canais alternativos.
Não há vácuo de poder na política, e o mesmo vale para a política externa. Na ausência de um chanceler disposto ou capaz de gerir as relações do Brasil com o resto do mundo, outros políticos brasileiros tornaram-se figuras-chave nos palcos internacionais. Durante o primeiro ano do Governo Bolsonaro, enquanto Araújo cumpria seu papel de cheerleader do presidente Trump, o vice-presidente Mourão e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se empenhavam no âmbito diplomático. Em viagem a Pequim, por exemplo, os dois souberam desfazer o estrago feito pelo presidente brasileiro na relação bilateral. Coube a eles acalmar os ânimos dos chineses porque Araújo, com seu histórico de ataques verbais à China, tinha perdido credibilidade em Pequim.
Para diplomatas chineses, ficou claro que, se for preciso resolver alguma questão com o Governo brasileiro, Mourão e Tereza Cristina serão interlocutores bem mais úteis do que o chanceler brasileiro. O cenário repetiu-se quando o ministro foi excluído das negociações com Pequim para a compra de vacinas contra a covid-19 e quando o governador de São Paulo, João Doria, e o então presidente do Congresso, Rodrigo Maia, tornaram-se interlocutores-chave para o Governo chinês e empresas farmacêuticas chinesas.
Nada disso é por acaso. Afinal, a marginalização do Ministério de Relações Exteriores (MRE) é um objetivo-chave da gestão atual, em uma tentativa de combater o que o bolsonarismo chama de deep state, estrutura composta por tecnocratas que supostamente sabotam as ideias do Governo. Como Eduardo Bolsonaro declarou depois da vitória de seu pai nas eleições presidenciais, o Itamaraty era “um dos ministérios onde mais está arraigada essa ideologia marxista e onde haveria uma maior repulsa ao presidente Jair Bolsonaro”. Ao permitir que outras figuras no Governo se ocupem de temas internacionais, Araújo está cumprindo sua missão de diminuir o controle do Itamaraty sobre a articulação da política externa. Mesmo no período pós-Bolsonaro, o MRE demorará para reconquistar o espaço perdido, um processo que dependerá muito da capacidade de futuros e futuras chanceleres.
A estratégia bolsonarista, porém, representa um risco político para o próprio presidente. Afinal, não são apenas ministros e familiares a preencher o vácuo que a atuação de Araújo está criando. Opositores de Bolsonaro, como o governador João Doria, também estão conseguindo se destacar no exterior com muito mais facilidade e são vistos por entidades públicas, privadas e da sociedade civil fora do país como interlocutores fundamentais para tratar de temas da relação bilateral. Em vez de chamar o chanceler brasileiro para participar de reuniões sobre o Brasil, cada vez mais, organizadores de eventos internacionais convidam governadores ou prefeitos capazes de articular uma visão mais pragmática.
Na hora de avançar a pauta ambiental com o Brasil, governos estrangeiros mantêm laços fortes com governadores e prefeitos da Região Norte, cientes de que é mais fácil trabalhar com eles do que com Ernesto Araújo ou Ricardo Salles, o controverso ministro do Meio Ambiente. Governadores e até prefeitos, como Eduardo Paes, têm hoje uma interlocução comparável ou até melhor do que a do chanceler com tomadores de decisão no exterior, uma situação sem precedentes na história do Itamaraty.
Esse novo cenário da multiplicação dos atores envolvidos na política externa brasileira ―um processo descrito por especialistas como pluralização ou fragmentação― pode ajudar a mitigar, em parte, o impacto nefasto da atuação internacional bolsonarista. O protagonismo de vários governadores no contexto do combate à pandemia e a obtenção de vacinas do exterior é apenas um dos vários exemplos disso. No futuro, porém, a perda de influência do Itamaraty complicará tentativas de governos pós-Bolsonaro de articularem e implementarem um projeto coeso de política externa. Quanto mais Araújo permanecer no cargo, mais árdua será a tarefa de seus sucessores de reerguer o Itamaraty.
É claro que governos estrangeiros, como a nova administração de Joe Biden nos Estados Unidos, não podem lidar apenas com entidades subnacionais brasileiras. Resta saber, no entanto, com quem no Governo Bolsonaro o novo Governo americano, por exemplo, buscará estabelecer um diálogo produtivo. Desta vez, o vice-presidente Mourão dificilmente poderá desempenhar o papel de interlocutor racional e “adulto na sala” porque tem sido visto como isolado em Brasília. O mesmo vale para Paulo Guedes, cuja palavra já não tem tanto peso no exterior. O mais provável é que os EUA e outros países com relações delicadas com o Brasil identifiquem seus interlocutores caso a caso, seja Tereza Cristina, da Agricultura, seja Roberto Campos Neto, do Banco Central, seja Mourão.
O uso do Itamaraty para animar a base bolsonarista traz vantagens inegáveis para o presidente, e o combate contra o “globalismo” e o “comunismo” são populares nos grupos de WhatsApp pró-Bolsonaro. Ao mesmo tempo, fica cada vez mais claro que o presidente também acaba entregando, de bandeja, a oportunidade ímpar aos seus adversários de se tornarem atores-chave na política externa brasileira e dar visibilidade às consequências desastrosas da estratégia internacional de seu Governo.
Oliver Stuenkel é professor adjunto de Relações Internacionais na FGV em São Paulo. É o autor de O Mundo Pós-Ocidental (Zahar) e BRICS e o Futuro da Ordem Global (Paz e Terra).
Míriam Leitão: O diplomata que virou pária
No Itamaraty, a expectativa é a de que Ernesto Araújo deixe de ser ministro em março. Seria um alívio para várias gerações de diplomatas, porque ele feriu normas essenciais da boa diplomacia. Um dos problemas para tirá-lo é saber para onde ele pode ser removido. Ele gostaria de ir para Paris, mas o risco é o governo de Emmanuel Macron não dar o agrément, que é o consentimento do país que recebe. Outro risco é o de constrangimento em sessão do Senado, que recentemente rejeitou o nome do embaixador indicado para Genebra, num recado para Araújo. Por isso, uma das possibilidades aventadas é a OCDE, posto que não exige sabatina, já que é uma espécie de embaixador alterno.
Há uma maioria sólida de adversários de Araújo dentro da carreira, mas os últimos acontecimentos aumentaram a indignação. Os olhos dos diplomatas brasileiros acompanharam com estupefação a atitude de Ernesto Araújo na cena em que Jair Bolsonaro berrou palavras sórdidas contra jornalistas numa churrascaria. O ministro aplaudiu, deu gargalhadas, gritou “mito”. Isso provocou repulsa generalizada. Não é nem mais uma questão de gostar ou não do governo, disse uma fonte diplomática, aquilo aviltou a própria Casa, até porque houve matérias no exterior descrevendo a baixeza da cena.
Ernesto Araújo tem também adversários fora do Itamaraty. O vice-presidente Hamilton Mourão recentemente falou que ele sairia, mas com isso lhe deu uma sobrevida. Na entrevista ao “Valor”, publicada na edição de sexta-feira, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, define o centrão como “estabilizador do governo” e diz que “a condução do Itamaraty hoje prejudica o Brasil” e por isso “tem que mudar”.
Os críticos de Ernesto podem ter motivos diversos, mas existem fatos concretos contra ele. Na área científica do governo, a convicção é que o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), que acaba de chegar da China para a Fiocruz, demorou semanas a mais pelos atritos criados pelo ministro com os chineses. No caso da Índia, a trapalhada de anunciar a ida do avião antes de conversar com as autoridades indianas causou o maior ruído no país fornecedor. A diplomacia existe para aplainar terrenos, desatar nós, dissolver conflitos. O pior problema não são os delírios persecutórios de Ernesto Araújo, mas o prejuízo que ele dá aos cofres públicos, anulando o empenho de servidores qualificados para o trabalho diplomático.
— A grande maioria dos nossos colegas acha que ele não tem o direito de destruir o Itamaraty como tem feito. O problema não é ideológico. O caso dele é clínico. Já há claros sinais precursores de que o tempo dele está terminando. O problema é achar um posto que o aceite. Ele queria que o Brasil fosse um pária, ele se tornou um pária — resumiu uma fonte diplomática.
Naquela série de tuítes sobre o assalto ao Capitólio, Ernesto Araújo fez um raciocínio tortuoso, quase justificando a violência com a hipótese, nunca confirmada, de “infiltrados”. Definiu os invasores do Congresso como “cidadãos de bem” e ainda disse, num comentário descabido, que “grande parte do povo americano se sente agredida e traída pela classe política”. Queria, claro, transpor para o Brasil. Esse episódio, o reiterado embate com a China, as trapalhadas frequentes com vários parceiros obrigam muita gente a consertar seus estragos. Suas ações têm um amadorismo que envergonha uma diplomacia outrora orgulhosa do seu profissionalismo.
Quem poderia ir para o lugar de Ernesto Araújo? Há quem fale na ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se a escolha for de fora da carreira. Ela impressiona os diplomatas pela sua habilidade em negociação, apesar da incapacidade de entender o cerne do problema ambiental, que será mais importante durante o governo Biden. Se for da carreira, há pelo menos um que faz campanha com bajulações explícitas, e há os que têm chances de reequilibrar o Itamaraty. Existem muitos que preferem distância do atual governo.
Ernesto Araújo tem levado doutrinadores extremistas para falar para os diplomatas jovens e estudantes do Instituto Rio Branco. Não tem tido sucesso nessa tentativa de lavagem cerebral, como se viu pela última turma, que escolheu o poeta João Cabral de Melo Neto como patrono. Ernesto Araújo, ao violentar tanto as normas da boa diplomacia, tem produzido sua antítese. Está aumentando no Itamaraty a defesa da diplomacia como carreira de Estado.
Bela Megale: Sob comando de Ernesto Araújo, Itamaraty fica sem dinheiro para pagar de aluguel à luz de embaixadas
A crise diplomática do Brasil com outros países agora bateu no bolso. O Itamaraty já entrou em contato com diversos diplomatas para alertar que vai faltar dinheiro até para pagar o aluguel de embaixadas e consulados brasileiros nos próximos três meses. As verbas para quitar despesas básicas como conta de luz, telefone e internet também vão atrasar. Além disso, será adiado o pagamento de auxílio moradia de parte dos funcionários do Itamaraty.
As contas só devem ser sanadas quando o orçamento para 2021 do governo federal for aprovado pelo Congresso Nacional. Enquanto isso, a ordem é controlar os gastos.
A falta de dinheiro para pagar as contas gerou mais desgaste interno para o ministro Ernesto Araújo. Com a notícia, ele passou a ser criticado pela falta de capacidade em manter o Itamaraty funcionando de maneira previsível também quando se trata de mera administração financeira.
O atraso para aprovar o orçamento não é inédito. Nos últimos anos, é comum o governo iniciar o ciclo seguinte sem ter o orçamento definido. Procurado, o Itamaraty não se manifestou.
Míriam Leitão: O ministro dos conflitos exteriores
‘Alívio’ era a palavra que se ouvia ontem na Fiocruz pela notícia de que a Índia embarcará hoje para o Brasil o lote de dois milhões de doses. Também nesta sexta-feira a Anvisa deve liberar as 4,8 milhões de doses a mais da CoronaVac. Isso não apaga os erros do ministro Ernesto Araújo, que nos levou a uma situação surreal, em que a diplomacia bloqueia os canais, apesar de ela existir para limpar os caminhos. As agressões à China foram muitas, azedou o diálogo, e o preço a pagar por esse erro é em vidas humanas.
Até o ex-presidente Michel Temer se mobilizou ontem para falar com autoridades chinesas. O ministro da Saúde falou com o embaixador e depois disse que não havia problemas diplomáticos. Segundo ele, é a burocracia que explica a demora do envio do IFA. Ora, o embaixador não iria admitir que os problemas são “diplomáticos”. O pretexto é sempre outro. Evidentemente os expedientes burocráticos podem ser mais rápidos ou mais lentos dependendo do contexto.
O fato em si de estarem tantas autoridades tentando fazer diplomacia — Michel Temer, Hamilton Mourão, Tereza Cristina, Rodrigo Maia — é o atestado do colapso da diplomacia de Ernesto Araújo. Neste caso, a demissão dele seria até um passo óbvio. Se o ministro, em vez de fazer seu trabalho, cria impasses e conflitos que outros têm que resolver, não deveria ficar no cargo até por uma razão prática.
O Brasil está na seguinte situação: paga o custo de manter os salários de pessoas altamente qualificadas, e elas não podem exercer as habilidades para as quais foram treinadas no serviço público. Nenhum país perde da noite para o dia um ativo desses, que é ter um corpo de diplomatas eficientes, reconhecidos no mundo inteiro. E por que os bons diplomatas, e eles são inúmeros, não conseguem fazer seu trabalho? A gestão caótica e delirante de Ernesto Araújo não os deixa. Um embaixador, por exemplo, aguarda instruções para agir. Ernesto Araújo ou não dá instruções ou elas não têm lógica, nem ganho palpável para o Brasil. Porque o ministro vive em luta contra inimigos imaginários, como o “globalismo” e o “comunismo” que estariam ameaçando, como escreveu outro dia, os valores dos Estados Unidos.
O trabalho diplomático tem vários códigos. Uma embaixada não deixa uma autoridade ligar diretamente para o seu correspondente em outro país para ouvir um não. Para evitar constrangimentos, ela faz uma ação antecipada para sentir o terreno e desatar os nós antes que eles apareçam. O ministro Eduardo Pazuello ligou na primeira semana do ano para o ministro da Saúde da Índia pedindo o envio das doses compradas pela Fiocruz, e o indiano, que é diplomata de carreira, teve que avisar, delicadamente, que o Brasil precisava pagar antes, dado que o Serum é uma empresa privada. Depois veio o vexame de anunciar a ida do avião já adesivado sem combinar com os indianos. O amadorismo está em cada iniciativa, simplesmente porque existem regras do jogo diplomático que não são seguidas. Ernesto virou o ministro dos conflitos exteriores. E paralisa o corpo de funcionários do Itamaraty. Ontem finalmente anunciou-se a vinda.
A boa política externa antecipa-se aos problemas, como um xadrez bem jogado. E desde o começo desta pandemia estava claro que o Brasil precisaria se posicionar estrategicamente no mercado de compra de vacinas. Como contei na coluna “Diplomacia sem pé nem cabeça”, do dia nove, houve um episódio em que Araújo foi procurado pelo ministro das Relações Exteriores de um país grande desenvolvedor de vacinas, meses atrás. A conversa tinha um interesse comercial, mas o nosso ministro preferiu discorrer sobre o “globalismo da Organização Mundial da Saúde”. Nada foi adiante.
Quando Araújo escreveu uma sucessão de tuítes sobre o ataque ao Capitólio, praticamente endossando o movimento extremista, rasgando todo o manual da boa diplomacia e do bom senso, houve uma reação da Associação dos Diplomatas. Nas mensagens coletivas que trocaram por um aplicativo, um integrante da carreira escreveu que a defesa da Casa não pode ficar apenas sobre os ombros dos aposentados.
A chegada dos dois milhões de doses da vacina importadas pela Fiocruz da AstraZeneca da Índia é excelente, a liberação pela Anvisa do uso dos 4,8 milhões de doses do Butantan é outra boa notícia. O país terá a partir deste fim de semana mais 6,8 milhões de doses. Mas o fundamental agora é fabricar aqui, nos dois institutos, com os IFAs que virão da China. Quanto mais cedo, melhor.
Rogério F. Werneck: Compromisso com o erro
Governo agride a China enquanto o Brasil se tornou crucialmente dependente de insumos chineses para a fabricação de vacinas
Entre as incontáveis deficiências do governo, uma lhe tem sido fatal. Faltam-lhe mecanismos eficazes de correção de erros. Bolsonaro é capaz de persistir meses a fio em linhas de ação equivocadas, ao arrepio dos seus melhores interesses, sem que isso deflagre as correções requeridas no seu processo decisório.
O Brasil levou 38 dias para reconhecer a vitória de Joe Biden, sem que houvesse, em Brasília, uma boa alma capaz de demover o presidente de tamanho despropósito. E, mesmo assim, o Planalto não se deu por satisfeito. Há não mais que 15 dias, ao comentar a brutal invasão do Capitólio, Bolsonaro se permitiu voltar a insinuar que a eleição presidencial nos EUA fora fraudada.
Pouco depois de Trump ter sido banido do Twitter, do Facebook e do Instagram, Bolsonaro saiu do seu caminho para aconselhar seus milhões de seguidores a passar a usar aplicativo alternativo, mais tolerante com a proliferação de fake news e a pregação da violência, em linha com o que já vinham disseminando as piores hostes trumpistas.
Tudo indica que o governo continua completamente despreparado para a guinada que Joe Biden promoverá nas relações dos EUA com o resto do mundo. E que será atropelado pela súbita restauração do compromisso norte-americano com o multilateralismo, sobretudo pelo realinhamento da postura dos EUA quanto ao aquecimento global e ao controle ambiental de forma geral.
Bolsonaro continua aferrado aos delírios de seu ministro das Relações Exteriores. E certo de que poderá enfrentar o que está por vir com Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente. Ainda não há sinais críveis de que, nessas áreas, o Planalto esteja contemplando correção significativa de rumo.
Os segmentos mais lúcidos do agronegócio brasileiro têm agora razões redobradas para se alarmar com o discurso destrambelhado do governo sobre a preservação da Amazônia. Ao desgaste crescente que já vinha sendo observado com países da União Europeia, deverão se somar desavenças com o governo Biden, advindas de pressões da ala ambientalista do Partido Democrata, desta vez, alegremente reforçadas pelo velho lobby agrícola norte-americano. O que está em jogo é nada menos que o promissor projeto de expansão desimpedida das exportações agropecuárias brasileiras.
Já às voltas com um contencioso potencial preocupante com os EUA e a União Europeia, o governo continua propenso a abrir novos pontos de atrito com a China, país que já absorve um terço das nossas exportações e dá sinais cada vez mais claros de alinhamento com as preocupações ambientalistas do mundo desenvolvido. Excessos verbais do entorno familiar do presidente Bolsonaro têm sido fonte recorrente de agressões gratuitas à China. Tudo isso num momento em que o Brasil se tornou crucialmente dependente de insumos chineses para a fabricação de vacinas.
É um desvario a mais a marcar não só a política externa, como a obstinada inconsequência com que o governo tem conduzido o combate à pandemia e, ao que parece, conduzirá a campanha de vacinação.
O surgimento de vacinas contra a covid-19 abriu a Bolsonaro a oportunidade de compensar, ao menos em parte, os desatinos que, por longos meses, perpetrou no enfrentamento da pandemia. Era o momento de tentar dar a volta por cima e criar condições para que o governo federal assumisse a liderança que dele se esperava na coordenação do colossal esforço requerido para levar adiante uma campanha eficaz de vacinação, num país mais de 200 milhões de habitantes com as dimensões territoriais do Brasil.
Mais uma vez, contudo, faltou a Bolsonaro a estatura requerida para promover a mudança de rumo requerida. Como já vinha fazendo no combate à pandemia, o presidente preferiu insistir no discurso negacionista e obscurantista e fazer da vacinação mais um palco para a pequena política, marcada por atritos tolos com os governos subnacionais. Tampouco há, nessa área, sinais de correção de erros. Bolsonaro continua apegado ao patético pau-mandado a quem, há oito meses, entregou o Ministério da Saúde.
*Economista, doutor pela Universidade Harvard, é professor titular do Departamento de economia da PUC-Rio
RPD || Guilherme Casarões: Ser ou não ser um pária mundial?
Isolamento do Brasil sob o governo Bolsonaro não tem precedentes em nossa história. Congresso Nacional e oposição devem se unir para adensar interação com governos e parlamentos estrangeiros, avalia Casarões
O Brasil está por um triz de se transformar em pária internacional. A crise econômica se arrasta há uma década, agravada pela conjuntura mundial. Desmatamento descontrolado e incêndios ilegais colocam o país nas manchetes de todo o planeta. Violência policial, violação de direitos indígenas e assassinatos políticos causam revolta nacional e arranham a já frágil imagem de nossa democracia. Nos altos círculos da diplomacia ocidental, discute-se seriamente a hipótese de isolar política e economicamente o governo brasileiro, cujo presidente, cercado de militares, é visto como prejudicial às boas relações do Brasil com o mundo.
O ano é 1989, mas poderia ser uma boa descrição do que vivemos hoje. Na superfície, a semelhança entre os dois momentos neste intervalo de três décadas é expressiva. Mas há uma diferença fundamental: ao contrário de José Sarney, enfraquecido, prestes a sair da presidência e com pouco controle sobre o que restou da imagem internacional do Brasil, Jair Bolsonaro quer marginalizar o Brasil como parte de seu projeto pessoal de poder.
Nos últimos dois anos, Bolsonaro construiu relações personalistas (e fugazes) com lideranças de extrema direita, hostilizou sócios de longa data, como Argentina, China e França, e abandonou virtualmente todos os tabuleiros multilaterais nos quais o Brasil se firmara como liderança. Tudo isso com a chocante complacência de seu ministro de Relações Exteriores, que ficará para a história como o diplomata que, pela inédita subserviência e obtusidade ideológica, desmoralizou a diplomacia nacional.
Não surpreende, portanto, que as perspectivas da política externa para 2021 não sejam exatamente alvissareiras. Se depender somente do governo atual, a tendência é agravar o isolamento brasileiro sem qualquer precedente em nossa história bicentenária. O país que se orgulhava da ação internacional pragmática e universalista, sem descurar os princípios pacifistas e multilaterais que marcaram a era republicana, fechou o trágico ano de 2020 causando temor, apreensão e até certo deboche ao redor do mundo.
Ainda que não seja tarefa fácil, creio que o Brasil possa virar o jogo. Antes de tudo, é necessário romper o “bunker” ideológico-olavista que se enraizou no governo. Se Bolsonaro tiver juízo – o mesmo que o levou a reconhecer, embora muito tardiamente, a vitória de Joe Biden – ele precisa substituir, com urgência, os dois maiores porta-vozes da péssima reputação brasileira no exterior, Ernesto Araújo e Ricardo Salles. Afeitos a teorias conspiratórias e inimigos dos consensos científicos e da boa diplomacia, ambos se transformaram em vozes radicalizadas que, ao açularem a militância bolsonarista mais aguerrida, são vistas como reais ameaças à cooperação multilateral.
A demissão de Araújo e Salles é simbólica, mas paliativa. O maior entrave à melhoria da imagem do país é o próprio presidente. Mesmo adotando tom mais moderado, Bolsonaro dificilmente abandonará pautas que lhe são caras politicamente, como a negação da vacina, o Foro de São Paulo ou o nióbio amazônico. Por isso mesmo, uma guinada na política externa dependerá de pressão constante sobre o governo por parte de pelo menos dois atores: o parlamento e os entes subnacionais. Nenhum deles conseguirá agir sozinho, mas poderão, juntos, criar uma espécie de diplomacia paralela que permita que o Brasil sobreviva ao governo de turno.
Outrora reativo em temas internacionais, o Congresso Nacional precisa criar e adensar canais de interação com governos e parlamentos estrangeiros. Forças de oposição devem trabalhar para reocupar espaços nas Comissões de Relações Exteriores das casas e construir, sempre que possível, uma agenda positiva em campos abandonados pelo bolsonarismo, como cooperação técnica, integração regional, direitos humanos e meio ambiente.
Durante a pandemia (e graças a ela), governadores e prefeitos conquistaram certa independência para desenvolver laços de cooperação científica, ajuda sanitária e aquisição de insumos. Diante do cenário de acirrada disputa política, cujo objetivo último é viabilizar nomes de oposição ao presidente em 2022, é possível que alguns desses atores movimentem-se no sentido de ampliar ainda mais os espaços de atuação subnacional em política externa, com importantes implicações para o futuro das relações internacionais do país.
Nada disso se concretizará sem o apoio de setores da sociedade brasileira. Industriais, ruralistas, cientistas, acadêmicos, ativistas, entre outros, reconhecendo a emergente correlação de forças na inserção internacional do Brasil, deverão trabalhar lado a lado com parlamentares e outros agentes políticos para resgatar nossa reputação no exterior. A despeito dos esforços do atual governo para fazer do Brasil um pária, o isolamento e o ostracismo certamente não expressam a vontade de maioria da população.
*Cientista político e professor da FGV EAESP. Foi pesquisador visitante na Universidade de Michigan (2019-2020).
Eliane Cantanhêde: Para que serve um chanceler?
No Brasil, Ernesto Araújo cai como uma luva para a política externa beligerante do presidente Jair Bolsonaro. Ou melhor, para a não política externa
A emocionante posse de Joe Biden e Kamala Harris dispara uma pergunta que não quer calar no Brasil: para que serve um chanceler, em qualquer país, de qualquer região, que vive numa guerra de nervos com a China e agora também com os Estados Unidos, as duas maiores potências econômicas do mundo? A resposta óbvia seria que não serve para nada, mas depende... No Brasil, o chanceler Ernesto Araújo cai como uma luva para a política externa beligerante do presidente Jair Bolsonaro. Ou melhor, para a não política externa.
E, neste momento de pandemia, aumento de casos, nova cepa do coronavírus e falta de vacinas, há uma segunda questão: para que serve um chanceler que não tem interlocução com a própria China e com a Índia, os dois maiores fornecedores de vacinas e insumos farmacêuticos do mundo? Para nada? Depende. Pode ser perfeitamente adequado quando o próprio presidente nega a pandemia, desdenha das mortes e dá de ombros para a vacina.
Bolsonaro, porém, não tem alternativa. Ou dá um cavalo de pau na política externa e muda Araújo e sua turma ou vai ter muito problema com a era Biden. Se, com Donald Trump, Bolsonaro deu muito e o Brasil não recebeu nada, política e comercialmente, a expectativa é a de que, com Biden, a pressão por democracia, direitos humanos e meio ambiente vá disparar.
Nos dois primeiros anos, Bolsonaro e Araújo se esmeraram em espancar os principais parceiros brasileiros, a partir de China, Argentina, França, Alemanha, Chile e mundo árabe, no pressuposto de que Trump bastava. Assim, o Brasil perdeu o que tinha e não ganhou o que não tinha. Os parceiros se descolaram, os EUA não contribuíram em nada e ainda tiraram vantagem dos devaneios ideológicos juvenis de Bolsonaro. Aliás, dos Bolsonaros.
A especialidade do presidente é usar bodes expiatórios para executar as próprias políticas estapafúrdias. O general Eduardo Pazuello apanha pela incúria no combate à pandemia, Ricardo Salles é alvo até do Ministério Público pelo desmonte no Meio Ambiente e Ernesto Araújo é o para-raios para o desastre da política externa. Mas todo mundo sabe, principalmente os militares do Planalto, que não adianta só trocá-los. Eles têm chefe. É Bolsonaro quem tem bons motivos para não dormir, nem nesta nem nas próximas muitas noites.