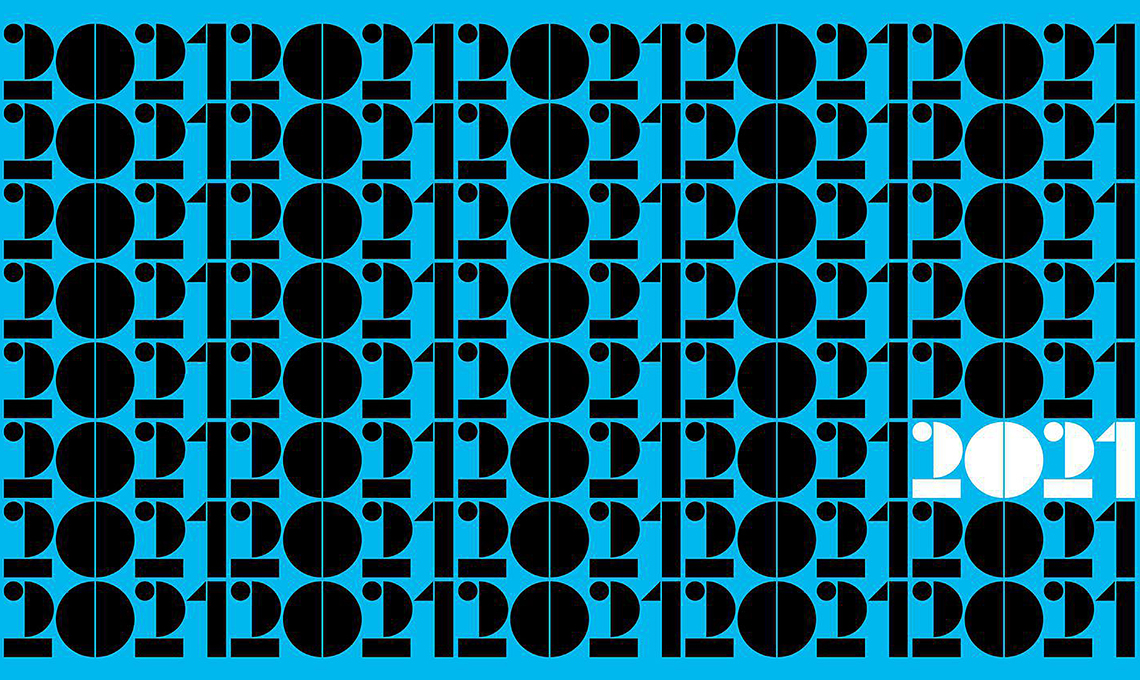indústria
200 anos agora: da independência à crise da nova República Brasileira
Vinicius Müller, Horizontes Democráticos*
A efeméride de duzentos anos da independência do Brasil, comemorada neste ano de 2022, vem suscitando um sem número de balanços sobre os caminhos de nossa história que buscam, sobretudo, identificar em nosso passado os erros e acertos que, de algum modo, nos trouxeram até aqui. Há um razoável consenso que afirma que é destes erros e acertos que tiramos alguns parâmetros para possíveis projeções que fazemos ao futuro da sociedade brasileira.
Neste sentido, e entre tantas possibilidades, há duas abordagens que nos auxiliam nesta tarefa de resgatar o passado em nome do entendimento do presente e da projeção do futuro. Uma delas vincula-se à identificação de uma história que, nestes duzentos anos, pode ser entendida como sendo de longa duração; ou seja, a história que recupera a formação do Brasil, do processo de independência aos nossos dias, apontando para os variados projetos que nesta trajetória foram apresentados, debatidos e disputados entre grupos e interesses múltiplos. Nela estão também as interpretações que pautaram o entendimento que temos sobre nossa própria trajetória. A outra busca na trajetória histórica brasileira os elementos que promovem a intersecção entre a temporalidade longa e a conjuntura. Neste caso, a pertinência de uma história mais recente e conjuntural – e que trataremos como sendo o período da Nova República – a partir de sua relação com a trajetória mais longa.
Na primeira perspectiva destacam-se quatro possibilidades de entendimento de nossa história. A primeira é aquela que expõe a formação brasileira, especialmente em sua dimensão econômica, por seus aspectos ligados à origem e destino da produção. Ou seja, aquela que vê o país por sua tradição primária e exportadora – e pelos problemas a ela relacionados, como a concentração da terra, a fragilidade diante das oscilações do mercado internacional, a incorporação de novas fronteiras agrícolas a partir de movimentos pouco ciosos com a lei e com a preservação ambiental e social, e a baixa sofisticação tecnológica aderente a esta formação econômica e produtiva. Por outro lado, a industrialização e a urbanização, marcadamente durante o século XX, teriam aberto a possibilidade de modernização brasileira, principalmente amparadas em três características que, circunstancialmente, apresentaram: a forte presença estatal (com destaque ao seu papel de empresário), sua forte vinculação ao mercado interno e, em tese, sua facilidade em contribuir com a ampliação da qualidade de vida e com a diminuição da desigualdade econômica.
A segunda é a dicotomia que opôs centralização e descentralização, entendidas como modelos de gestão tanto política quanto administrativa, e potencializadas pelo gigantismo territorial e pela diversidade regional brasileira. Esta dicotomia cristalizou, em razão de episódios históricos específicos, uma síntese que identifica a descentralização como necessariamente limitada em seu alcance, já que ela teria, nas vezes que foi ampliada, produzido três consequências indesejáveis: o questionamento da unidade brasileira (neste caso de maneira pontual e já superada), a ampliação da desigualdade entre as regiões brasileiras e o atraso – e/ou enfraquecimento – da cidadania e dos direitos sociais. Em oposição, a centralização – mesmo que em coexistência com algum nível de descentralização e/ou federalismo – seria responsável pela melhor distribuição da riqueza entre as regiões e, portanto, como propulsora de uma redução da desigualdade entre elas. E pela aceleração do processo de ampliação dos direitos sociais entendidos como pilares da democracia moderna.

Já a terceira é a associação entre pobreza e desigualdade presente em modelos explicativos sobre a formação econômica e social brasileira. Neste caso, haveria uma complementaridade entre o modo como estruturamos nossa produção de riqueza e a ampliação e/ou manutenção da desigualdade. Portanto, a desigualdade seria fundamentalmente fruto da estrutura produtiva, amparada na escravidão e na baixa capacidade de acumulação. Desta forma, apenas uma mudança aguda no modo de criação da riqueza poderia romper a relação histórica entre a (baixa) riqueza e a desigualdade. Não há duvidas quanto à herança nefasta da escravidão à sociedade e à economia brasileiras. Contudo, ao não dissociarmos estes elementos – e, portanto, os entendermos sempre em conexão um ao outro –, deixamos escapar algumas sutilezas que envolvem os outros elementos. Por exemplo, acabamos por creditar pesos iguais à escravidão e à estrutura de propriedade da terra; ou à estrutura do mundo (incluindo uma ética) do trabalho e à formação de nossas instituições de mercado.
E, por fim, esta mudança aguda e necessária para romper a relação histórica entre o modo de criação da (baixa) riqueza e a desigualdade viria não só por uma mudança produtiva que nos afastasse da tradicional estrutura econômica como também teria que ser acelerada e invertida. Ou seja, faríamos esta mudança a partir de uma ‘revolução’ que aceleraria a história de modo a nos lançar à outra organização econômica e social. Neste sentido, a aceleração dos processos históricos de ‘superação’ seria compatível com propostas de refundação e rupturas, não com arranjos e conciliações.
Todas estas considerações são, embora pertinentes, limitadas em seus diagnósticos sobre a formação brasileira. Assim, a construção de pares antitéticos criados a partir destes diagnósticos pouco produziram remédios eficientes em relação aos resultados desejados. Isto porque a formação agrária e exportadora da economia brasileira não é a matriz nem da baixa capacidade de criação de riqueza e muito menos da desigualdade. Ao contrário, não há uma relação linear entre as regiões que se formaram sobre a agricultura de exportação, pobreza e desigualdade. O que há é uma relação entre o modo como o uso dos recursos obtidos pela economia primária – tanto aquela voltada ao mercado externo quanto ao mercado interno – e a desigualdade. Ou seja, não foi o modo de criação da riqueza que determinou o menor ou maior desenvolvimento (e a maior ou menor desigualdade) e sim a maneira que se fez uso dos recursos oriundos da economia agrícola, especificamente, ou primária, no geral. Também porque a solução centralista, dada como resposta aos atrasos nos avanços sociais e da cidadania, pouco esteve amparada em análises sobre a estruturação do Estado brasileiro em seus aspectos burocráticos, autoritários e patrimonialistas. Acreditou-se que o atraso no desenvolvimento social e econômico estava vinculado à ‘oligarquização’ do Estado brasileiro. E que a solução passaria pela centralização do poder. Pouco se assuntou a possibilidade de que a burocratização do Estado em nome da centralização revelaria outros lados sombrios de nossa sociedade: o autoritarismo e a radicalização presentes naquelas que foram consideradas as duas experiências mais marcantes do país no século XX: a ditadura de Vargas e a ditadura militar.

Assim, duas características estiveram entre aquelas que impactaram na capacidade de criação de riqueza e na transformação desta riqueza em desenvolvimento: a combinação – e não oposição – entre duas dimensões da estrutura econômica (mercado interno e externo; setores da economia diferentes); e o ambiente institucional – formal e informal – que determina o uso da riqueza independentemente de sua origem (agrícola ou industrial; mercado interno ou exportação).
Portanto, ao contrário do que parte significativa da historiografia e dos diagnósticos sobre a formação brasileira diz, as regiões que melhor combinaram riqueza, menores índices de desigualdade e desenvolvimento em prazo mais alongado – e que sustentaram esta condição em períodos maiores – foram aquelas que independentemente da origem, combinaram de modo mais equilibrado produção e infraestrutura voltado ao mercado externo com estímulo e desenvolvimento do mercado interno; que melhor equilibraram a diversificação produtiva entre setores primários, secundários e terciários. E não quem tentou abruptamente passar de um ao outro. E quem, localmente, usou seus recursos em nome da criação de uma institucionalidade que incentivasse a competição, o empreendedorismo e, principalmente a educação. Em outras palavras, não foram os projetos nacionais que, de “cima para baixo”, estabeleceram as condições de desenvolvimento das regiões brasileiras. E sim, as condições oriundas da formação e das decisões regionais que determinaram a relação entre riqueza, desigualdade e desenvolvimento. Principalmente aquelas que, antes de buscarem grandes mudanças em suas estruturas produtivas, como, por exemplo, o desenvolvimento industrial em regiões de economia primária, desenvolveram sustentações mais duradouras, como educação, incentivos institucionais ao empreendedorismo e infraestrutura. Não funcionou a estratégia de modernização econômica que lideraria o desenvolvimento educacional, e sim o contrário: a educação e a infraestrutura vieram antes da modernização econômica, inclusive industrial.
Em suma, as condições do desenvolvimento brasileiro guardam mais relação com os resultados e desigualdades regionais do que com os projetos nacionais de desenvolvimento feitos de “cima para baixo”. Menos com escolhas ou tentativas de passar de um setor para outro – por exemplo, da economia primária para a industrial – e mais com o modo como um transbordou para outro, ou como eles se relacionaram e se complementaram. Assim como tem menor relação com sua orientação voltada ao mercado externo ou interno, e sim com a maneira que investiu os recursos independentemente de suas origens. Ou seja, não importou muito se os recursos vieram da economia agrícola de exportação ou voltada ao mercado interno, da indústria ou do comércio, mas sim em como esses recursos foram usados para transbordarem de seus setores de origem em direção a outros.
E, fundamentalmente, não existe uma sina que associa a riqueza (ou a pobreza) à desigualdade no Brasil. Riqueza e pobreza, de um lado, e igualdade e desigualdade, de outro, são eixos que, embora possam estar relacionados, também podem – e devem – ser vistos separadamente. Não há num país tão grande e com tantas diferenças internas como o Brasil um diagnóstico que explique a riqueza, a pobreza, a desigualdade e o desenvolvimento. E, portanto, muito menos um projeto nacional que sirva de remédio. Ao contrário, há inúmeras combinações, essencialmente regionais, que melhor explicam estas diferenças. Elas, em geral, seguiram estas três orientações, como já dito: decisões regionais e não nacionais; relação de transbordamento e complementaridade entre setores econômicos e produtivos diferentes e não oposição entre eles; e criação de infraestrutura, instituições de incentivo ao empreendedorismo e educação antes de apostarem em investimentos ‘de cima para baixo’ (em geral do governo nacional) como motores da modernização da economia, da industrialização e da geração de renda.
Em outra dimensão temporal, que não aquela vinculada às estruturas e diagnósticos relativos à longa história brasileira, há um desafio que também carece de diagnósticos mais certeiros ou minimamente revisados. Nas últimas três décadas um tornado de mudanças tomou de assalto o país e reorganizou nossos paradigmas e o modo como entendemos o passado e suas interpretações. Ao menos três elementos determinaram estas mudanças. Um deles foi a redemocratização do país a partir de 1985, ano oficial do fim do regime militar que durava desde 1964. E, fundamentalmente, a promulgação da Constituição de 1988, conhecida como a Constituição cidadã. Embora fruto do arranjo possível à época, a Carta máxima brasileira, como deve ser, manteve vivo um debate com o passado nacional e, portanto, com as interpretações que fazemos dele. Neste sentido, reconheceu o déficit de cidadania que nos persegue, apostando na ampliação dos direitos consagrados no mundo ocidental – civis, políticos e sociais – como redutora da desigualdade. Embora correta no atacado, a consolidação da Constituição – e do que chamamos de Nova República – dependia do ajuste possível naquele momento. E o momento, ou os momentos diferentes que se encontravam naquele contexto da segunda metade da década de 80, não eram tão simples. Se por um lado o protagonismo deveria e foi dado aos opositores da ditadura que se encerrava, por outro havia um baixo reconhecimento de que muitos dos problemas legados pelos militares tinham origem no período anterior. Ou seja, pouco se reconhecia que a estrutura burocratizada, centralista – não obstante a pretensa, porém frágil, repactuação do federalismo – e de estirpe positivista transpassava período mais amplo do que o governo militar. E, nos anos 80, teria que compor com a justa ascensão de novos atores – refiro-me ao sindicalismo e aos novos grupos políticos – e com a pressa de superar as mazelas legadas pela ditadura (crise econômica, atraso institucional, bloqueio da democracia e censura). Isso em meio à ansiedade que se manifestava na crença de que a Nova República conseguiria, finalmente, romper a barragem histórica que nos impossibilitava ter uma sociedade moderna, desenvolvida e menos desigual.

Esta esquina da história coincidente com nossa redemocratização ainda esbarrou em outros dois elementos fundamentais. O primeiro foi a dificuldade em superarmos a herança maldita (essa sim uma herança verdadeiramente maldita) deixada pela república militar e representada pela crise fiscal do Estado e pela inflação galopante. E o segundo foi a mudança do cenário internacional caracterizado pela queda do muro de Berlim, pelo fim da URSS e da Guerra Fria e pela reafirmação da liderança dos EUA e de seu modelo revigorado durante os anos 80 e 90. A inflação e a crise fiscal do Estado tornavam mais difícil, na prática, o ajuste da Constituição de 1988, ancorada tanto na superação de nossos entraves sociais quanto na manutenção de elementos de nosso nacional-desenvolvimentismo em suas partes mais condenáveis. Entre elas a antiga crença de uma liderança estatal (em sua forma burocratizada, protecionista e patrimonialista sob o eufemismo de política industrial) sobre nosso processo de modernização econômica. Em outras palavras, a Nova República nasceu sob a ameaça de ter sua virtuosidade, representada pela legítima defesa da Constituição cidadã, superada por seu vício de reproduzir os males de uma estrutura que superava, em termos históricos, o período sob o governo dos militares. E que, no fundo, remontava ao varguismo. Esta ‘linha de falha’ viria a produzir a nossa versão de uma esclerose institucional que se manifestou em diversas situações desde então: nos impedimentos de Collor e Dilma, nas parcialmente fracassadas tentativas de reforma do Estado e nas dificuldades de organização de um consenso mínimo sobre a responsabilidade fiscal. Mas também pelo persistente desequilíbrio do federalismo, pelos indesejáveis mecanismos de negociação e cooptação entre Executivo e Legislativo e pela captura do Estado por grupos organizados em torno de uma ética que estimula e naturaliza a corrupção. E pelos constantes, e cada vez mais graves, conflitos que envolvem poderes e organizações do Estado, como Judiciário e Forças Armadas. O resultado disso foi a incapacidade do estado brasileiro em ser responsivo à sociedade que se manifestou em 2013. E, claro, o renascimento de um tema que pensávamos superado: as críticas ao modelo democrático e as defesas de controle, censura e no limite de experiências autoritárias. Ainda somos, portanto e fundamentalmente, divididos entre as ‘viúvas’ de Vargas, de um lado, e as ‘viúvas’ da ditadura militar, de outro.
Já o fim da Guerra Fria e a retomada da liderança dos EUA no plano internacional culminaram na revalorização do modelo liberal e, mais do que isso, na internacionalização – ou globalização – deste modelo. Descontando as análises mais precipitadas e que se mostraram equivocadas, como aquela que decretava o fim da História ou a que acusava a globalização de ser o imperialismo norte-americano (?), esta conjunção entre globalização e liberalismo foi a senha para uma série de transformações cujos resultados ainda vivenciamos. Um deles foi a adesão menos orgânica e mais instrumental às tentativas de redefinição do papel do Estado, aqui exemplificado pelas privatizações. Instrumental, pois, mais do que amparada numa aderência ao debate sobre a quantidade e a qualidade do Estado (ou seja, se o ponto principal era a diminuição do Estado ou a ampliação da qualidade de sua atuação), a adesão do país aos códigos e linguagens do liberalismo global esteve vinculada fundamentalmente a uma tentativa quase desesperada de recuperação da credibilidade internacional e de superação da crise econômica e fiscal dos anos 80.

Ou seja, a oportunidade aberta pela reorganização internacional foi menos entendida como a janela para as mudanças estruturais e mais como uma ferramenta para superarmos problemas conjunturais. O resultado foi a falha em nossa preparação para nos integrarmos na nova economia internacional e em acompanharmos as mudanças tecnológicas, educacionais, institucionais e de gestão pública e privada. A comparação, neste caso, é eloquente e conhecida. Enquanto o Brasil apresentou esta dificuldade, países como Índia, Coréia do Sul e China potencializaram suas economias durante o alvorecer do século XXI de modo inequívoco e bem-sucedido.
A aproximação destes dois contextos diferentes – a Nova República, suas contradições e conflitos, e a dificuldade de nos prepararmos para a economia globalizada em um ambiente de renovado e ‘esburacado’ liberalismo – produziu resultados impactantes que revelam, então, nossas dimensões estruturais e conjunturais: a persistência da pobreza, a fragilidade de nossas tentativas de diminuição da desigualdade econômica, social e regional, a incapacidade de endereçarmos nosso sistema educacional em nome de um projeto realmente modernizador, a comprovação da fragilidade de nossa indústria (e, portanto, de todo o modelo de sua implantação e desenvolvimento que vigorou por quase um século) e, menos surpreendentemente do que pode parecer, a ascensão do novo agronegócio brasileiro.
A persistência da pobreza e, em partes, a dificuldade de diminuirmos a desigualdade de modo mais duradouro, deve-se ao equívoco analítico bastante difundido que trata as duas dimensões – pobreza e desigualdade – como siamesas. Talvez tenham sido no passado, mas há muito que não são. O avanço tecnológico e a economia de mercado internacionalizada desde o século XIX, e que nas últimas três décadas viveram um recrudescimento, criaram condições que fundamentalmente impactam na capacidade de ampliação da riqueza. Se esta capacidade de criação de riqueza não impacta na diminuição da desigualdade – o que não é verdade em várias regiões do mundo – é porque elas têm determinantes diferentes. Superar a pobreza tem sua relação principal com a capacidade produtiva. Nela se encontram tecnologia e trabalho, entre outros. Já a desigualdade guarda relação íntima com instituições informais e valores morais. Ambas ficam, assim, congeladas tanto pela nossa baixa capacidade tecnológica e educacional como pela inversão – principalmente após 1989 – do modo como entendemos o papel do Estado na redução da desigualdade. A desigualdade realmente se reduz quando os elementos da redução estão mais ligados ao lado da oferta do que ao lado da demanda. Ou seja, não é o aumento do consumo ou do acesso aos bens materiais – mesmos que justo e necessário – que faz com que a desigualdade caia de modo sustentável. E sim a ampliação equitativa da capacidade de trabalho, educacional e tecnológica. Além da mudança da mentalidade fundamentada em ideal aristocrático e hierarquizante que, no Brasil, é alimentada, entre tantos e há tanto tempo, pelo próprio Estado. A redução da desigualdade pela demanda é prato cheio para demagogos e populistas.

Por fim, a fragilidade da indústria frente ao processo de abertura econômica internacional e a ascensão do agronegócio revelam o equívoco dos paradigmas que norteiam nossas mais frequentes análises. Por um lado, revela que o modo como concebemos nossa industrialização não preparou o setor para enfrentar a abertura comercial e a integração global. Também não foi capaz de promover a diminuição da desigualdade entre as regiões brasileiras. Ao contrário, só as reforçou. E a ascensão do agronegócio nas últimas décadas (há uma projeção, crível, de que o Brasil será o maior exportador de comida do mundo em 2025) revela não só a preparação do setor para se integrar à globalização como também a superação de vícios que carregou em sua trajetória. Em tempo, vicio que esteve ligado à disponibilidade de terra e mão de obra que prescindiam de avanço tecnológico e de produtividade. Ao que tudo indica, antes de ser um retrocesso histórico e econômico, a ascensão do novo agronegócio será uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento do país, assim como já foi, ao menos parcialmente, em outras oportunidades históricas.
No final, é isso que importa: evitar que, mais uma vez, percamos a oportunidade de crescermos e desenvolvermos o país, como já ocorreu em vários outros momentos. E para tanto, urge pensarmos nossa experiência tanto em dimensão longa e estrutural, quanto conjuntural. Será nossa capacidade de criar um ambiente favorável ao debate que envolva as duas dimensões, que identifique as suas intersecções e que as proteja de capturas eleitoreiras de curto prazo que nos possibilitará sair da armadilha que nós mesmos criamos nos últimos 200 anos ou nas últimas três décadas. O momento de efeméride da independência pode nos estimular a isso, mas também a necessidade de reorganização da indústria, de maior e mais eficiente internacionalização da economia, de (re) nascimento da economia primária exportadora como uma oportunidade e não como um retrocesso, e da firme defesa da institucionalidade democrática e da estabilidade do país (independentemente de projetos de poder e de táticas eleitorais, como ocorreram em passado recente).
Estes elementos praticamente nos obrigam a refazer nossa trajetória. E principalmente, de repensarmos nossas grandes interpretações, que foram e continuam sendo parâmetros para nosso entendimento sobre o passado, seus problemas e soluções já identificados e testadas, assim como as bases de projeções de nosso futuro. Desta forma, qualquer projeto que se pretenda pensar o futuro do Brasil a partir de sua experiência de 200 anos independente ou de quase 40 de nova República deverá incorporar tais questões sobre nossa mentalidade, equívocos dos diagnósticos passados, resultados bons e ruins de nossas experiências anteriores. E, principalmente, enfrentar nossos tabus relacionados aos nossos modelos explicativos e nossos parâmetros analíticos, a fim de incentivar um debate mais amplo e arejado em favor do desenvolvimento econômico e social para os próximos anos, décadas e quem sabe séculos.
Sem o setor da indústria, a inovação no país fica capenga
História da Apple, em que a concepção dos produtos exigiu profundo conhecimento de materiais, eletrônica e hardware, nos aponta um caminho diferente, que poderia ser trilhado pelo Brasil
Evandro Milet / A Gazeta
Outro dia escutei uma palestra onde um economista defendia a ideia de que ter indústrias não seria importante para um país, visto que haveria uma tendência para que o setor de serviços tivesse maior relevância para os empregos e para o crescimento da economia.
A história da Apple contada na biografia de Steve Jobs de Walter Isaacson e no livro “Jony Ive, o gênio por trás dos grandes produtos da Apple'' nos dá uma impressão diferente.
A concepção dos produtos não foi algo que se fez apenas desenhando em um software. O trabalho envolveu um profundo conhecimento de materiais, eletrônica e hardware. Houve necessidade de desenvolver novos materiais que atendessem as especificações de tamanho e espessura preconizadas para atender o que Jobs e Ive perceberam como a necessidade que o mercado queria. Estudaram tudo sobre alumínio, aço, acrílico, titânio, vidro, plástico, circuitos, antenas, telas touch. Para implementar as facilidades do movimento de pinça e arrasto na tela descobriram e compraram uma pequena empresa em Delaware, chamada FingerWorks de pesquisadores que criaram a tecnologia. Para o vidro do iPhone foram buscar um novo desenvolvimento pioneiro com a Corning Glass, tradicional indústria de vidros. A quantidade de patentes geradas para cada produto Apple é imensa.
Para o projeto original do iPod os engenheiros casaram um disco da Toshiba com uma bateria de celular e uma tela da Sony; um conversor digital-analógico de uma pequena empresa escocesa, um controlador de interface FireWire da Texas Instruments; um chip de memória flash da Sharp Electronics; um chip de gestão de energia e carregamento da bateria da Linear Technologies Inc; e um chip controlador e decodificador de MP3 da PortalPlayer.
Quando Jony Ive decidiu que o iMac seria transparente, se deu conta que os componentes internos também teriam que ser projetados cuidadosamente, porque passariam a ser visíveis, o que implicava em uma proteção eletromagnética especial já que nos produtos opacos eles ficavam ocultos em uma caixa de metal grande e feiosa.
Jony pediu que os designers trouxessem as peças coloridas e transparentes que pudessem encontrar como inspiração. Trouxeram uma lanterna traseira de BMW, vários utensílios de cozinha, uma garrafa térmica de um azul profundo e brilhante. De fato, o iMac final pareceu um casamento entre a garrafa térmica e uma luz traseira de automóvel. A imaginação está acoplada com o pensamento industrial e não pode ficar distante do ambiente de produção.
A produção de muitos dos equipamentos da Apple é feita em outros países, muitos na China, não pela mão de obra barata, mas pela tecnologia mesmo de fabricação. Os engenheiros da Apple se deslocavam por semanas para as fábricas para acertar a produção. Porém se percebe, pela narrativa apresentada, a importância de conhecer profundamente os componentes e os processos industriais, sem o que ficaria impossível conceber adequadamente os produtos.
O exemplo da Embraer no Brasil mostra a importância do domínio da concepção dos produtos, mas também a capacidade de produção, mesmo que se use os melhores componentes do mundo. A engenharia é fundamental para que se aproveitem as oportunidades de inovação e participação nas cadeias globais de valor. Por exemplo, as novas exigências de sustentabilidade criam enormes possibilidades para quem é capaz de produzir automóveis elétricos ou equipamentos para energias alternativas. Ou empresas capazes de produzir dentro da bioeconomia ou da indústria farmacêutica. Tudo isso exige investimento em P&D, inovação, engenharia, patentes, formação de pessoal técnico e capacidade industrial, mesmo que não para todos os componentes de um produto.
Por que o Brasil não consegue ser relevante nas indústrias fornecedoras do agronegócio ou da mineração, onde domina boa parte das commodities no mundo? Essa história de ficar só concentrado em serviços não se sustenta.
Mas também não cabem mais reservas de mercados, subsídios infinitos, taxações enormes de importação e apoios irreais a pretensos campeões nacionais, normalmente alimentados por lobbies poderosos ou equívocos estratégicos. Os investidores anjo, os fundos de venture capital e private equity e as bolsas de valores estão ávidos por bons projetos capazes de competir no mundo, nos serviços, mas também muito na indústria, com sua enorme capacidade de gerar empregos de alto nível.
Fonte: A Gazeta
https://www.agazeta.com.br/colunas/evandro-milet/sem-o-setor-da-industria-a-inovacao-no-pais-fica-capenga-0821
Alexandre Sampaio Ferraz: A escalada dos impostos e o 1% mais rico do Brasil
Não resta dúvida que os mais ricos são taxados proporcionalmente menos, e não mais, como receita a teoria. E até aqui foram eficientes em imprimir sua agenda pelo fim da tributação.
Ao contrário do que diz o senso comum, o Brasil é um país pobre. A décima economia do mundo é apenas o centésimo país em renda per capita, segundo ranking de 2019 do Banco Mundial. Faturamos em média um pouco menos do que US$ 15 mil ao ano, o que mal chega a um terço da renda per capita da média dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). O brasileiro médio, no entanto, não passa perto dessa grana. De acordo com a Rais (Relação Anual de Informações Sociais), só 10% dos brasileiros trabalhando no mercado formal (CLT) recebem salário mais alto que este, o equivalente a R$ 5.000 por mês. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta ainda que cerca de 70% dos brasileiros dispostos a trabalhar mal ganham dois salários mínimos mensalmente no trabalho principal, o que equivale a R$ 2.200 em 2021.
Os baixos salários não livram o brasileiro de pagar um dos mais altos impostos sobre o consumo do mundo, mas os livra de pagar o IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) — o Brasil é o 8° país que proporcionalmente mais taxa o consumo no mundo, dos 61 países analisados pela OCDE. Não existe cidadão que não queira ganhar mais do que R$ 1.900 por mês, ou ter mais de R$ 300 mil em bens e direitos e, assim, poder pagar o IRPF. Mas nada menos do que 70% dos brasileiros estão fora do seleto grupo dos declarantes; são os isentos da Receita.
Os declarantes no Brasil se dividem em cinco faixas de renda, correspondentes às cinco alíquotas existentes. São poucas quando comparamos com os países desenvolvidos, que tendem a ter mais faixas/alíquotas de forma a maximizar a progressividade. Também temos uma das menores alíquotas máximas do mundo civilizado, 27,5%, contra uma média de 41% entre os países da OCDE. A discussão sobre a proporcionalidade das alíquotas é antiga e remonta a Adam Smith, que, no livro “A riqueza das nações”, argumentava que os cidadãos (súditos, para a época) deveriam “contribuir o máximo possível para a manutenção do Governo (...) em proporção ao rendimento de que cada um desfruta, sob a proteção do Estado”.
Taxar os cidadãos segundo sua capacidade e não com uma alíquota única tem sido uma máxima da teoria da tributação desde então. O Brasil passou a adotar o imposto de renda em 1922, e logo estabeleceu a progressividade. No ano base de 1988, ainda tínhamos nove faixas com alíquotas que variavam de 10% a 45%. Mas a minoria organizada exerceu eficientemente sua voz no novo período democrático. No ano seguinte passaram a ser apenas duas alíquotas, a maior de 25%. Em 1994, introduziu-se uma nova alíquota e a máxima subiu para 35%
Mas a grita levou a uma nova redução para duas faixas/alíquotas, com a máxima de 25%, que em 1998 passaria aos 27,5% atuais. Sem conseguir implantar a “progressividade para cima”, implantaram a “progressividade para baixo”. Em 1999, criaram as alíquotas de 7,5% e 22,5% ao lado da antiga mínima de 15%, que vigorava desde 1992. Não é simples implementar a progressividade e sobretudo taxar os mais ricos. E este não é um problema só do Brasil, como mostram Gabriel Zucman e Emmanuel Saez no livro “The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay” (em tradução livre, “O triunfo da injustiça: como os ricos evitam impostos e como fazê-los pagar”), publicado nos Estados Unidos, em 2019.
A alíquota padrão ou de referência não é, na verdade, a alíquota efetiva paga pelos declarantes. A tributação do IRPF varia também por tipo de rendimento auferido no ano, e ainda tem as isenções legais. Ocorre que justamente os mais ricos têm mais rendimentos provenientes de fontes com tributação exclusiva e isentas de imposto.
A REFORMA TRIBUTÁRIA E A ATUAL CRISE ECONÔMICA PODEM TER ABERTO UMA JANELA DE OPORTUNIDADE PARA MUDARMOS ESSE JOGO, EM DIREÇÃO A UM PAÍS MAIS JUSTO
A “alíquota efetiva”, ou o total de tributos pagos em proporção da renda total declarada, tributável ou não, deveria aumentar conforme a renda. Mas isso só ocorre até os contribuintes que declaram em média cerca de R$ 35 mil por mês em rendimentos. A progressividade pode ser vista no gráfico abaixo. O ordenamento e a alíquota efetiva foram calculados sobre a renda RB2, ou a renda tributável bruta + renda de sócio/titular + lucros e dividendos + rendimento sujeito à tributação exclusiva.
O recurso de imaginarmos uma escada com 100 degraus ordenando os contribuintes segundo sua renda anual declarada é sempre conveniente neste momento. Até o 15º degrau a alíquota efetiva é próxima a zero. A receita até recolheu cerca de R$ 5 milhões em impostos com os 7,5 milhões de contribuintes no primeiro quarto da escada — ou seja, com os que estão nos 25 primeiros degraus —, mas é um valor insignificante perto dos R$ 153,8 bilhões arrecadados em 2018.
A partir do 15º degrau a alíquota se eleva de forma progressiva até o 98º, o antepenúltimo. Neste patamar, os declarantes pagam entre 13,4% e 11,8% de imposto, e a alíquota é menor quando incluímos na RB2 as receitas declaradas como “outros rendimentos isentos”. Daí em diante a alíquota efetiva despenca. Os 29,8 mil declarantes no penúltimo degrau pagam em média 10,7% da renda em IRPF. Já o pessoal no clube dos 1% paga apenas 4,7% em média.
Mesmo os 1% mais ricos podem se achar injustiçados, pois enquanto os 10% mais “pobres” deste grupo pagam alíquota de 8,8% sobre a renda, os 10% mais ricos pagam uma alíquota efetiva de apenas 2,5%. A pontinha da cauda é ainda mais cruel: os 2.984 declarantes com maior renda pagaram efetivamente em 2018 apenas 1,6% em imposto sobre a renda total declarada. Não resta dúvida que os mais ricos pagam proporcionalmente menos, e não mais, como receita a teoria. E até aqui foram eficientes em imprimir sua agenda: chega de impostos! Mas a reforma tributária e a atual crise econômica podem ter aberto uma janela de oportunidade para mudarmos esse jogo, em direção a um país mais justo e com menos desigualdade.
Alexandre Sampaio Ferraz é economista, doutor em ciência política e assessor técnico do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).
José Roberto Mendonça de Barros: Existe futuro para a indústria?
Estamos longe da trajetória de crescimento sustentável, se comparado com o PIB global nas últimas décadas
O Brasil deixou de acompanhar o crescimento global desde 1980. Esse distanciamento se acentuou depois do novo milênio e, em particular, após 2010: nesse período, o PIB global cresceu 31%, enquanto o nosso mal se moveu, expandindo-se até o ano passado pífios 2% na última década.
A pandemia aumentará essa diferença, pois, na estimativa do FMI, o crescimento mundial deste ano será robusto, de 5,5%, e, para o Brasil, de 3,6%. A expectativa da MB é de um crescimento mais fraco, de apenas 2,6%. O cenário está desolador, com recrudescimento da covid, falta de vacinas, recorrentes restrições à mobilidade, piora generalizada nas expectativas, enfraquecimento do mercado de trabalho, fortes pressões inflacionárias e consequente elevação de juros e forte incerteza fiscal. Todos esses elementos dominam completamente a situação, ao contrário do mundo de fantasia que se vive em Brasília.
Mesmo o mais otimista observador do cenário brasileiro há de concordar que estamos muito longe de uma trajetória de crescimento sustentável.
Nos anos mais recentes, observamos uma desaceleração forte e sistemática do crescimento industrial. Isso explica boa parte da perda de dinamismo da economia como um todo. Sugere também que, sem algo novo na indústria, será difícil retomar uma trajetória construtiva.
Ao lado da queda da indústria, observamos uma expansão sistemática da agropecuária, baseada em investimentos e crescimento de produtividade. Esse processo se tornou endógeno e está levando a uma crescente utilização de produtos industriais e serviços no processo de produção (o modelo da agricultura de precisão). Expandem-se cada vez mais a produção de novos energéticos, alimentos e materiais, a partir das matérias-primas agrícolas, gerando uma produção industrial sustentável e biodegradável.
Será possível voltar a crescer sem a participação intensa da indústria? Não creio. Boa parte do progresso tecnológico ainda ocorre no setor. O Brasil ainda não tem maturidade nem massa crítica em ciência e inovação para ser um gerador de tecnologias, de forma a viabilizar a criação de valor sem indústria.
Como, então, explicar sua queda sistemática? Por que o setor agroindustrial tem sustentabilidade em seu crescimento? Existe alguma lição que se possa extrair para a indústria?
Boa parte das análises produzidas pelas lideranças industriais coloca exclusivamente no ambiente externo (o “custo Brasil”) a razão fundamental da perda de dinamismo. Estará aí toda a verdade?
Estamos no momento em que é imperioso debater valores e elementos das estratégias das indústrias para refletirmos a respeito de ações e políticas que possam alavancar seu desenvolvimento.
Junto com João Fernando Gomes de Oliveira, elaboramos um pequeno texto no qual, sob o título desta coluna, buscamos resumir nossa visão sobre como chegamos até aqui e o que deveria ser incorporado na formulação de bases para uma nova fase do setor.
Tendo isso como ponto de partida, combinamos com Marcos Lisboa e o Insper a realização de um webinar no dia 6 de abril, quando analisaremos também casos bem-sucedidos, que podem iluminar caminhos futuros. Participarão adicionalmente do evento João Paulo Gualberto da Silva, diretor superintendente da WEG Energia, Eduardo Augusto Ayrosa Galvão Ribeiro, presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), e Paulo Hartung, presidente executivo da Indústria Brasileira de Árvores. (www.insper.edu.br/agenda-de-eventos/existe-futuro-para-industria)
* * * * *
Consolidou-se a percepção de que a escassez de vacinas e a piora na situação da pandemia irão reduzir o crescimento esperado para o ano, levando muitos analistas a diminuir as projeções feitas em janeiro.
Embora não tenhamos alterado nossa previsão de crescimento (2,6%), elevamos a do IPCA para 5%.
Em consequência, agiu bem o Banco Central ao iniciar a normalização da política monetária nesta semana, embora tenha demorado para perceber que a pressão inflacionária é mesmo forte e tem de ser enfrentada.
*ECONOMISTA E SÓCIO DA MB ASSOCIADOS. ESCREVE QUINZENALMENTE
Rubens Barbosa: SOS Indústria
Se a crise do setor não for enfrentada já, perda da competitividade será irreversível
Basta de diagnósticos. A crise no setor industrial exige ação imediata dos empresários e do governo para recuperar o tempo perdido e reverter a tendência de seu gradual enfraquecimento. Se essa questão não for enfrentada de imediato, a perda da competitividade da indústria se tornará irreversível.
Nos últimos seis anos, 36,6 mil fábricas fecharam as portas no Brasil, 17 por dia. A saída da Ford e da Mercedes põem em risco todo o setor automotivo. No ano passado, com a crise econômica nacional agravada pela covid-19, o setor registrou sua menor participação no produto interno bruto (PIB) desde o início da série histórica, em 1946. O Brasil deixou de figurar como uma das dez maiores economias globais.
O processo de desindustrialização precoce está avançando pela ausência de políticas públicas voltadas para seu fortalecimento. A situação está tão grave que há até quem defenda a ideia de que o governo deixe de apoiar o setor industrial e se foque nas atuais vantagens comparativas do agronegócio e da mineração. Com mais de 200 milhões de habitantes e mais de 14 milhões de desempregados, o campo não tem como oferecer as oportunidades de emprego e renda que a indústria propicia.
A reindustrialização e a modernização industrial deveriam ser prioridades nacionais, aceleradas pela implementação da atual agenda de reformas horizontais (mudança estrutural) e pelo aumento da produtividade, complementadas com uma verdadeira política industrial que induza negócios estratégicos de alto impacto econômico e social, visando à geração de empregos e renda. Nesse sentido, caberia fortalecer mecanismos de apoio à indústria como financiamento, compras governamentais e estímulos à produção e exportação de bens de média e alta tecnologia; definir como áreas prioritárias as indústrias de alto conteúdo tecnológico e inovadoras; identificar nichos de mercado para a nacionalização de produtos essenciais estratégicos na área da saúde e outros (em quatro décadas, o Brasil reduziu de 55% para 5% sua capacidade de produção de insumos farmacêuticos); identificação de áreas para criar cadeias de valor agregado na América do Sul a partir de interesses da indústria nacional; apoio com políticas públicas à internacionalização da empresa nacional.
A agenda de competitividade poderia ser levada adiante mediante ação política junto ao Executivo e ao Legislativo para aprovação da reforma tributária, o fator mais importante para aumentar a competitividade da economia e das empresas nacionais. Outras políticas incluiriam a isonomia de tratamento entre produtos importados e nacionais; aprovação da reforma do Estado, com a desburocratização e simplificação de regras e regulamentos a fim de facilitar os negócios (portal único e OEA); fortalecimento de uma política de incentivos à inovação com estímulos a P&D para a iniciativa privada (universidades e centros de pesquisa) e os órgãos governamentais existentes em áreas estratégicas (mas não limitadas), como indústria 4.0, inteligência artificial e biotecnologia; incentivos à formação e capacitação de profissionais e dirigentes empresariais com a concessão de bolsas de estudo e estágios, no País e no exterior; licitação da tecnologia 5G ou autorização de redes particulares para acelerar o processo de modernização da indústria (4.0–inteligência artificial, automação avançada); alinhamento de políticas internas, principalmente a ambiental, com a política de comércio exterior para evitar medidas restritivas contra produtos brasileiros; medir os impactos sociais após a revisão completa dos tributos e outros projetos estratégicos no nível federal (sustentabilidade).
Com a pandemia surgiu a política de “autonomia estratégica”, que busca substituir importação em áreas limitadas e específicas, como saúde e alimentação, que interessam à segurança nacional. Nessas áreas, a vulnerabilidade dos países pela ausência de produção interna teria de ser superada. A autonomia estratégica, combinada com os avanços do 5G e da inteligência artificial, poderia ser nova referência para a definição de políticas para dar início a um ciclo de reindustrialização que ajudará a impulsionar o crescimento econômico e o emprego.
O Brasil tem ainda o maior parque industrial no Hemisfério Sul. Nos últimos 40 anos a participação relativa da indústria no PIB nacional vem caindo, passou de cerca de 26% no final dos anos 80 para pouco acima de 11% no ano passado.
Executivo e Legislativo estão devendo a aprovação das reformas em 2021. A questão, contudo, é de médio e longo prazos. Por isso, ao lado da política externa, do meio ambiente, da defesa nacional, a reindustrialização deveria necessariamente ser incluída no debate da eleição presidencial. A recuperação do setor industrial deveria ser uma das bandeiras do novo governo a partir de 2023.
O importante é olhar para a frente e defender políticas e medidas que possam, na década de 2020-2030, criar condições para a reindustrialização do País. E necessária uma visão estratégica de médio prazo. Para isso será necessário que a indústria se ajuste às transformações por que passa o mundo, se concentre em inovação e novas tecnologias e, sobretudo, não fique esperando as benesses do governo.
PRESIDENTE DO IRICE
Pedro Doria: Menos Mises, mais Mill
O 2020 foi tão intenso, gera tanta expectativa para 2021, que esquecemos que começa uma década
Aquele 2020 foi tão intenso, gera tanta expectativa para este 2021 e mal esquecemos que hoje não é só um ano que começa. É, também, uma década. Os anos 20 do século passado foram os da esperança, da celebração de vida pós-Primeira Guerra e gripe espanhola, enquanto a democracia liberal desmoronava no entorno perante fascistas e bolcheviques. Estes nossos anos 20 não precisam ser assim. Mas, para que seja um tempo de esperança, precisamos compreender que o Brasil está muito atrasado para chegar ao século XXI. E isto pode representar uma crise muito séria.
Na década de 10, apostamos numa imagem de país que data dos anos 1950. Apostamos em petróleo, em estaleiros, numa indústria hidrelétrica que ignora a mata e, claro, na agroindústria. Nada contra. Mas deveríamos ter colocado mais fichas na indústria de software, no conhecimento genético, energia limpa, e incrementado em muitos níveis a educação para termos brasileirinhos bem formados em matemática. No final deste século, trocamos aquela visão por outra – a dos ditadores dos anos 1960. China, Índia e Rússia mergulharam no século XXI. Pois é.
O problema é o seguinte: nesta década que entra algumas tecnologias vão se encontrar. São 5G, a inteligência artificial que chamamos “aprendizado de máquina” e robótica. O resultado será a completa automação do mundo físico. O resultado será também uma imensa onda de desemprego.
Se o Brasil for apanhado neste momento sem uma indústria de século XXI e com o desemprego que virá da automação, estaremos no pior dos mundos. E ainda temos dois anos do mais inepto dos governos pela frente. Ou seja: nas eleições de 2022, não podemos errar.
A um ponto da história, ocorreu este feliz encontro entre estas duas ideias – a democracia e o liberalismo. A democracia trazia consigo o sufrágio, o voto popular. O liberalismo, a ideia de que não pode haver opressão contra cada pessoa. Todos somos iguais em nossos direitos e deveres. E, assim, construímos um Estado de leis, atribuímos a todos direitos humanos, garantimos que o sistema pode ser democrático, mas a maioria nunca tem o poder de oprimir a minoria. Que ninguém tem o poder absoluto – os poderes são divididos, distribuídos. A democracia temperada pelo liberalismo é um achado. Que precisamos preservar.
Liberais-democratas sempre demonstraram a capacidade de se reinventar perante a realidade que encontravam. É a velha sabedoria do Eclesiastes: há um tempo para plantar e outro para colher. Ou, como diria John Maynard Keynes, há o tempo de o Estado entrar, e o tempo de ele sair. Keynes, um liberal.
Em meados do século XIX, perante o estrago social e a mancha de miséria trazidos pela revolução industrial em Londres, Karl Marx imaginou que, perante a incapacidade de se reformar dos liberais, só a guerra entre classes promoveria uma sociedade na qual todos podem de fato ser iguais em seus direitos.
Enquanto isso, um seu vizinho na mesma cidade, John Stuart Mill, percebia que o Estado precisava entrar para garantir que todos tivessem a mesma base. Percebeu que liberdade só existiria se dignidade fosse garantida a todos. Estas democracias com as quais nos acostumamos no pós-guerra são todas fruto do pensamento de Mill.
Nas últimas décadas, liberais brasileiros se abraçaram demais com a escola austríaca de Luwig von Mises. Pois bem, precisaremos de um grande investimento do Estado em educação a partir de 1.º de janeiro de 2023. De regras muito ágeis, sem burocracia, para a nova indústria. E de políticas que mantenham o povo fora da miséria mesmo com o tranco do desemprego. Precisaremos de um Estado com muito foco. E, para termos este foco, a conversa tem de começar já.
Quem sabe até Caetano Veloso não possa chegar a 2030 se encontrando com seu lado liberalóide.
Alon Feuerwerker: O PIB
O PIB do terceiro trimestre veio um pouco abaixo das expectativas, com um crescimento de 7,7% em relação ao anterior. A boa notícia é que indústria, comércio e investimentos puxaram o índice para cima (leia).
Ainda que no acumulado final do ano a maior parte das atividades vá mostrar queda em relação a 2019.
Os números positivos do Caged de outubro (leia) já haviam sido um indicador de recuperação. Mesmo a recente alta na taxa de desemprego medida pelo IBGE refletiu mais o aumento da busca por trabalho que qualquer outra coisa.
A dúvida agora é se a recuperação vai resistir ao fim dos mecanismos financeiros de suporte criados para enfrentar as consequências da pandemia. O governo parece apostar que sim, pois até o momento deixou de lado qualquer ideia de prorrogá-los. Até o momento.
Passadas as eleições municipais, o ritmo de recuperação da economia em 2021 vai ajudar a desenhar o retrato político do ano, com a óbvia consequência na sucessão presidencial de 2022. Pois daqui a dois anos, com as vacinas, espera-se que a Covid-19 tenha deixado de ser assunto.
Não custa ser otimista.
*Alon Feuerwerker é jornalista e analista político/FSB Comunicação
O Estado de S. Paulo: Indústria voltou ao patamar de antes da pandemia, mostra CNI
Produção total do setor em setembro superou em 1,1% o registrado em fevereiro deste ano, mês que antecedeu a chegada da covid; apesar do resultado, recuperação é desigual entre os segmentos
Eduardo Rodrigues, O Estado de S.Paulo
BRASÍLIA - Após uma queda vertiginosa na produção nos primeiros meses da pandemia de covid-19, a indústria brasileira conseguiu voltar ao nível pré-crise já em setembro, mas essa recuperação atinge de maneira desigual todos os segmentos do setor. Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra ainda que, apesar de já retornarem à atividade do começo do ano, muitas fábricas ainda está estão aquém dos volumes produzidos em 2019.
A recuperação na indústria tem sido bastante heterogênea. Ainda assim, a produção total do setor em setembro superou em 1,1% o registrado em fevereiro deste ano, último mês antes do novo coronavírus desembarcar no País. Com as medidas de isolamento social adotadas para conter o contágio da doença, em abril a produção chegou a ficar 31,3% abaixo do verificado dois meses antes.
Da mesma forma que a produção, o faturamento total da indústria – que chegou a ficar 24,6% abaixo do nível pré-crise - em setembro superou em 6,1% o patamar registrado em fevereiro. Os dois indicadores, porém, seguem abaixo da média de 2019. No acumulado dos nove primeiros meses de 2020, a faturamento tem um recuo 1,7% e se aproxima de igualar o desempenho do mesmo período do ano passado. Já a produção industrial ainda acumula uma queda de 8,2% na mesma comparação.
“Nossa expectativa é que a atividade industrial continue crescendo no quarto trimestre. O faturamento real da indústria certamente registrará um desempenho positivo na comparação do acumulado em 2020 com o de 2019. A produção, no entanto, fechará no vermelho”, avaliou o gerente-executivo de Economia da CNI, Renato da Fonseca.
Essa diferença entre faturamento e produção se deve à estratégia das empresas em interromperem a produção e reduzirem os estoques durante o auge da pandemia, já que a forte queda nas vendas em março e abril causou bastante incerteza sobre quando o consumo iria retornar. Com a retomada forte da demanda, no entanto, esses mesmos estoques baixos estão causando problemas na cadeia de produção.
“Com capacidades de resposta diferentes, as empresas industriais passaram a ter dificuldade de acesso a insumos e matérias-primas e de atender a demanda de seus clientes. Não fosse a dificuldade em se obter insumos e matérias-primas, o crescimento da produção industrial seria ainda maior”, destacou a CNI no documento.
O detalhamento dos dados da indústria mostra ainda que alguns setores seguem sofrendo com os efeitos da pandemia, enquanto outros parecem já ter deixado a crise para trás. As indústrias de alimentos e itens de higiene pessoal, por exemplo, já apresentam um desempenho positivo tanto na comparação com fevereiro como no acumulado no ano.
Outros segmentos de bens de consumos duráveis, como veículos automotores e vestuário ainda não conseguiram recuperar o patamar do início do ano. No acumulado do ano em comparação com 2019, eles apresentam queda de 36% e 31,6%, respectivamente.
NOTÍCIAS RELACIONADAS
- Indústria cresce em 11 de 15 locais pesquisados e 9 Estados voltam ao nível pré-pandemia
- Indústria cresce pelo 5º mês seguido e elimina perdas do auge da pandemia
- Falta de matéria-prima é a maior em 19 anos e leva indústria a reduzir produção
- Para empresários, escassez de insumos ameaça travar recuperação da indústria
- Há um descompasso entre produção e oferta no mercado, explica especialista