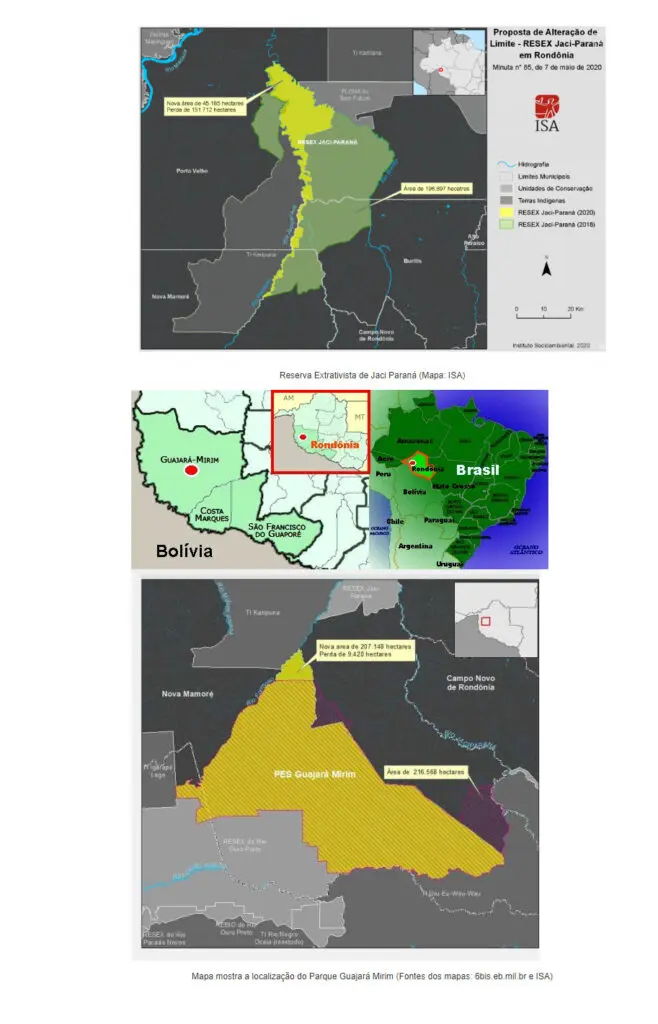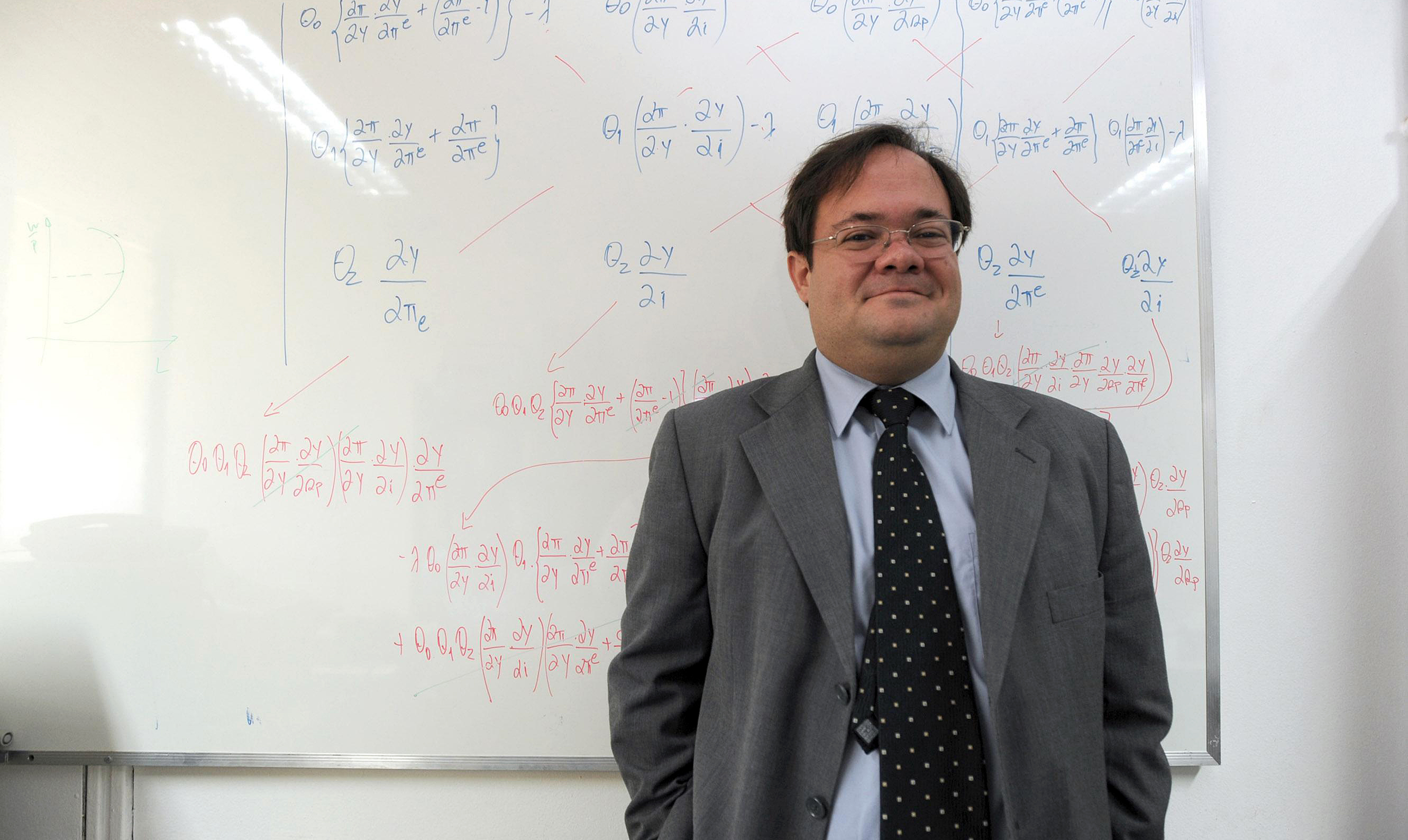ihu online
Agro desmatará 1 milhão de hectares/ano para atender demanda por carne até 2030
Pasto ocupa cerca de 90% das áreas desmatadas da floresta. Incremento na produção de carne bovina à base de mais derrubadas pode custar o caminho sem retorno
A reportagem é de Fábio Bispo e e Anderson Coelho, publicado por O Joio e o Trigo (21-10-2021).
Em setembro deste ano, o céu no sudoeste do Pará parecia constantemente tomado por uma névoa. O efeito visual, na verdade, era fumaça e indicava onde a floresta ardia. A 18 quilômetros do centro de Jacareacanga, às margens da Transamazônica, o gado já ocupava áreas recém queimadas. Do outro lado da rodovia, uma coluna de fumaça anuncia onde serão os pastos. O rastro do fogo e do desmatamento se estende por assentamentos da reforma agrária, unidades de conservação e áreas privadas requeridas pela agroindústria.

A maior parte da floresta derrubada vai virar pasto para alimentar gado e que alimenta uma cadeia perversa e repleta de ilegalidades: grilagem, extração ilegal de madeira, omissão e conivência do agronegócio.
Enquanto a carne se torna cada vez mais escassa no prato do brasileiro médio — e por questões econômicas —, o Ministério da Agricultura projeta um crescimento anual na produção bovina entre 1,4% e 2,4% até 2030. A expectativa é abater até 12 milhões de toneladas por ano para atender o mercado, em especial às exportações.
A lógica agrícola que impera no Brasil diz que os fazendeiros vão precisar produzir 17% mais em dez anos, o que é um mau sinal para a floresta. Sem incremento de produtividade por hectare, para atender o consumo e as exportações, o agronegócio vai ter que desmatar um milhão de hectares por ano na Amazônia.
O pasto ocupa cerca de 90% das áreas desmatadas na Amazônia. O incremento na produção de carne bovina à base de mais derrubadas da floresta pode custar o caminho sem retorno para o bioma em determinadas regiões.
E o Brasil é capaz de produzir sem desmatar. É capaz, inclusive, de reduzir a área de pasto para atender a demanda do mercado.
Publicado em agosto deste ano, o estudo “As políticas para uma pecuária mais sustentável na Amazônia”, do engenheiro florestal Paulo Barreto, pesquisador associado do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), mostra que para atender a demanda por carne bovina sem desmatar mais, pecuaristas da Amazônia teriam que reformar entre 170 mil e 290 mil hectares de pasto degradado por ano até 2030, o que aumentaria a produtividade dos atuais 80 quilos por hectare para 300 quilos por hectare.
“O sul da Amazônia está ficando mais seco e a gente corre o risco de perder a floresta como conhecemos nessas regiões. Áreas imensas poderão nunca mais ser recuperadas se continuarmos destruindo a floresta dessa forma”, explica o pesquisador.
A demanda crescente por gado vai custar até R$ 1,63 bilhão por ano em desmatamento, prevê Barreto. Já o investimento para reforma de pastagem ficaria entre R$ 270 milhões e R$ 873 milhões por ano.


































Segundo ele, estudos já mostram que se o Brasil fizer a recuperação ideal de toda área de pasto poderá atender à demanda prevista com uma sobra de 67 milhões de hectares. “Em alguns pontos da Amazônia é só abandonar o pasto que a floresta toma seu espaço, em outros seria necessário reflorestamento”, explica.
“Embora seja viável tecnicamente e financeiramente produzir sem desmatar, não há garantia de que esta alternativa prevalecerá. O custo global para aumentar a produção por meio da reforma de pasto é menor, mas os incentivos à destruição da floresta e as barreiras à adoção das melhores práticas podem tornar a opção do desmatamento ainda assim vantajosa”, afirma Barreto.
O aproveitamento médio da produção bovina nos pastos da Amazônia é um terço da média nacional. Em 10 hectares, que poderiam alimentar 33 animais, na Amazônia, alimenta apenas 10 bois.
A cada 1,3 hectare de pasto perdido nas fazendas, um novo hectare para compensar é desmatado, mostram estudos. Em escala, a matemática mostra que é mais caro desmatar que recuperar pasto, mas o produtor precisa produzir mais com menos área.
O custo para desmatar um hectare na Amazônia é de R$ 1,5 mil. Reformar a mesma área varia entre R$ 1,6 mil e R$ 3 mil, dependendo do grau de degradação. Só que para produzir gado na mesma proporção que em um hectare de pasto recuperado é preciso desmatar 3,7 hectares.
As promessas do governo federal de legalizar ocupações irregulares na Amazônia soam como mais um incentivo para invasões. Exemplo disso é o PL 2633/2020, conhecido como “PL da Grilagem”, que traz possibilidade de regularizar terras públicas que foram invadidas sem necessidade de vistoria prévia.
Cerca de 28% das terras na Amazônia, aproximadamente 144 milhões de hectares, não estão destinadas ou constam sem informação de destinação, segundo a pesquisa “Pecuária na Amazônia: tendências e implicações para a conservação”, do Imazon. Áreas intactas da floresta que se tornam alvo fácil para grileiros e desmatadores.
Governo investe em baixa produtividade
Em 2020, fazendeiros contrataram R$ 9,15 bilhões em crédito rural destinados à pecuária bovina nos estados da região Norte e em Mato Grosso, segundo dados do Banco Central.
Historicamente, o setor é privilegiado com linhas de financiamentos e incentivos. Entre 2008 e 2017, o setor recebeu R$ 12,3 bilhões de subsídios por ano, incluindo isenção de impostos e incentivos fiscais, além de anistias e perdões de dívidas.
A consequência dos seguidos programas voltados à pecuária fez o rebanho bovino aumentar quase dez vezes na Amazônia Legal, passando de cerca de 9 milhões de cabeças de gado em 1974 para 89 milhões em 2019. Hoje, quase metade do gado criado no Brasil (42%) está na Amazônia. São 56,6 milhões de hectares e com um rendimento agropecuário abaixo da média nacional.
“O Brasil produz pouco por hectare. Se tem essa ideia de que abrir mais pastagem é melhor que implantar tecnologias para aumentar a produtividade, o que é um erro. A situação é ainda mais crítica na Amazônia, onde vários fatores influenciam na baixa produtividade, como baixo poder cooperativo dos pequenos produtores, falta de informação e de políticas públicas adequadas”, explica Barreto.
Para combater o desmatamento, o pesquisador traçou quatro eixos principais: eficácia da fiscalização; proteger e destinar as terras públicas para usos compatíveis com a conservação; transparência para fortalecer iniciativas privadas de combate ao desmatamento; e ampliar os pagamentos pela conservação florestal.
Os altos investimentos pulverizados entre os pequenos agricultores como forma de incentivo, na prática, financiam baixa produtividade e pouca geração de renda. Esse pequeno produtor acaba destruindo ainda mais a floresta e, mesmo assim, sua produtividade continua irrelevante para o agronegócio.
“Se esse mesmo incentivo fosse oferecido para recuperação ambiental teríamos um enorme ganho. Esse produtor poderia receber o mesmo incentivo que ele recebe para pecuária, mas direcionado para outras atividades com menos impacto na floresta. E deixa que o mercado resolva o problema da produção de carne com os grandes e médios produtores”, afirma Barreto.
Na outra ponta, o Brasil e outros países deveriam estabelecer um mercado global de compensação pela proteção florestal com base no Acordo de Paris e outras políticas internacionais. Para participar desse mercado, o Brasil deve imediatamente cumprir o contrato do Fundo Amazônia que está suspenso.
“Quando se anunciam baixas taxas de juros para o crédito rural, significa que toda a população está pagando para financiar um produtor com baixa produtividade econômica e social”, afirma Barreto.
Ele explica que os gastos dos vários países para agropecuária chegam a 600 bilhões de dólares por ano, e questiona: “como esse dinheiro que já está indo para o setor está sendo canalizado para diminuir as emissões de gases ou combater desmatamento?”
Outro ponto destacado pelo pesquisador é o baixo grau de envolvimento associativo dos produtores na região amazônica, ao contrário do que ocorre nos estados do sul e sudeste. Sem se organizarem em associações ou consórcios, os pequenos produtores têm menos acesso a tecnologias e serviços que poderiam aumentar a produtividade sem desmatamento. “Até para contratar um veterinário é mais caro para um pequeno produtor, isso dificulta muito o acesso a tecnologia e informação também”, pontua o pesquisador.

Fogo e boi em assentamento do Incra
Em 2020, os pastos, áreas para agricultura, mineração ou áreas urbanas atingiram 15% de toda a Amazônia Legal, nos nove países onde está a floresta. A perda de 20% a 25% da cobertura pode significar o ‘ponto de inflexão’ para o funcionamento dos serviços ecossistêmicos da maior floresta tropical do mundo, e o Brasil é peça chave nesse processo por abrigar a maior parte do bioma. E estudos apontam que se as taxas atuais de desmatamento forem mantidas podemos chegar ao ponto de inflexão ainda nesta década.
A destruição da floresta para novas áreas de pastagens está mais concentrada no sul do Amazonas, no Pará, Mato Grosso e Rondônia, esses três últimos campeões de desmatamento.
Um acordo firmado em 2009 entre o Ministério Público Federal (MPF) e mais de uma centena de frigoríficos proibiu o abate de animais em áreas de conservação, terras indígenas e fazendas sem licença ambiental. Uma das formas de monitoramento das áreas onde o gado é adquirido é através do Cadastro Ambiental Rural, o CAR.
O acordo, conhecido como “TAC da Carne”, foi um aceno das grandes produtoras mundiais para conter o avanço do desmatamento. Nos primeiros anos após a assinatura do TAC, o desmatamento caiu e em 2012 o país atingiu a menor área desmatada desde 1988. Em 2018 o desmatamento voltou a aumentar e nos últimos anos o Brasil bateu a marca emblemática de 1 milhão de hectares desmatados por ano.
O Pará, que concentra 40% do desmatamento, tem a maior área de pastagem na Amazônia, com 21 milhões de hectares,o que representa 37% de todo pasto aberto na floresta.
No interior do Pará, a reportagem flagrou áreas de extração de madeira e propriedades agrícolas operando sem o Cadastro Ambiental Rural (CAR) regular. Em uma área de assentamento da Reforma Agrária, o gado ocupava áreas recém queimadas.
Em um desses assentamentos, PA Jacaré , em Jacareacanga, dados do CAR mostram que 4,4 mil hectares, dos 27 mil hectares da área, já foram desmatados.
O assentamento está em fase de estruturação, etapa que antecede a titulação da área aos ocupantes. Segundo o INCRA, pelo menos 279 famílias ocupam a área com capacidade para 280 famílias.
Questionado, o órgão informou que não foi comunicado de irregularidades ambientais naquela área.
Deputados legalizam boi em Unidades de Conservação
O deputado Ezequiel Neiva do PTB de Rondônia apressou o discurso na sessão da Assembleia estadual da tarde de 20 de abril deste ano. Falou em nome da boiada para aprovar o projeto de lei que reduziu 90% da Reserva Extrativista de Jaci Paraná, que já é uma das mais desmatadas do país, e do Parque do Guajará-Mirim. Dali a dois dias, a cúpula do clima reuniria líderes de 40 países para debater questões ambientais como o futuro da Amazônia.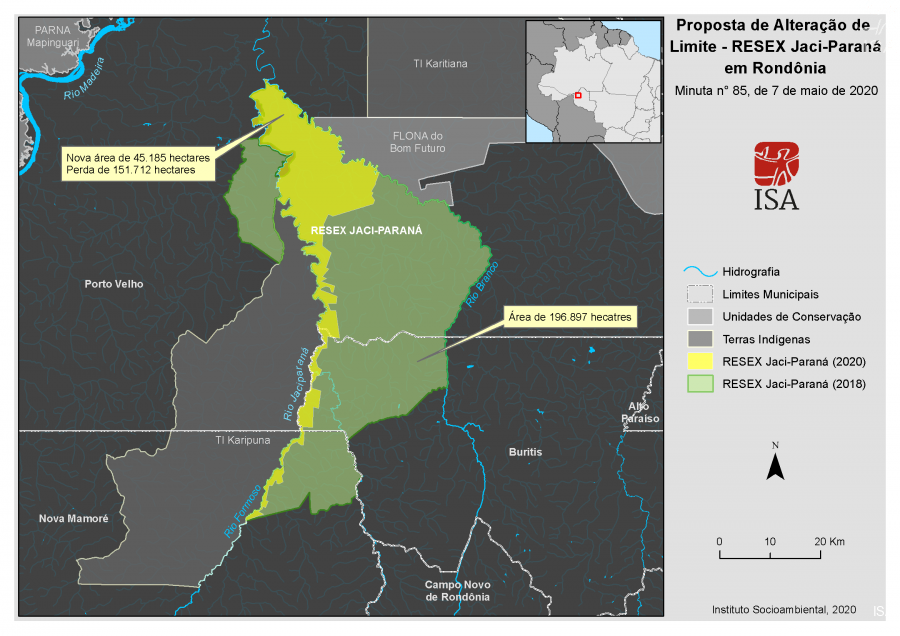
Reserva Extrativista de Jaci Paraná (Mapa: ISA)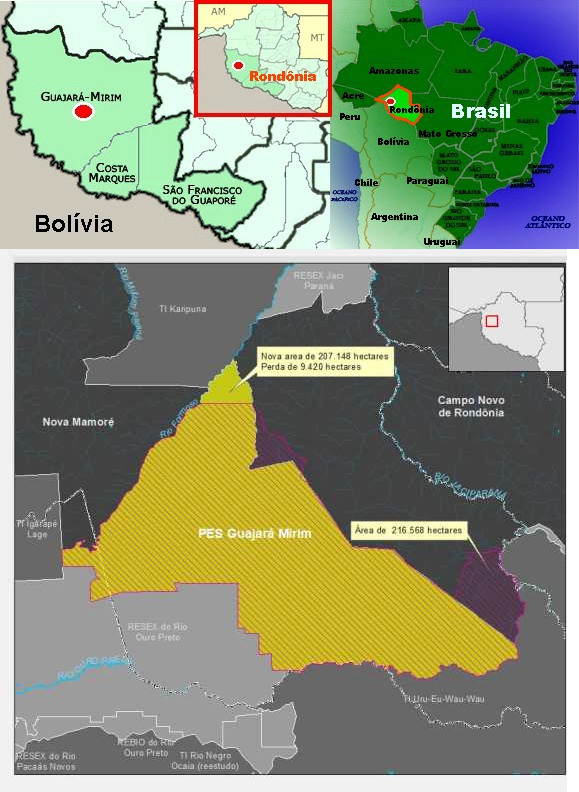
“Essa é uma das últimas oportunidades [de o projeto ser aprovado], haja vista que, em poucos dias, estará acontecendo a grande Cúpula do Clima”, alertou Neiva.
O projeto sancionado pelo governador coronel Marcos Rocha (PSL) riscou 226 mil hectares do mapa de preservação da Amazônia para virar, predominantemente, pasto.
A Reserva de Jaci-Paraná é a segunda mais desmatada na Amazônia. Até 2020 foram desmatados quase 100 mil hectares. O Joio e o Trigo teve acesso à lista das pessoas classificadas como responsáveis pelo gado que estava dentro dos limites da reserva antes da aprovação do projeto na Assembleia, em abril. A tabela faz parte do controle sanitário do estado, o Idaron, que manteve a vacinação e o acompanhamento dos animais —mesmo ilegais na área de preservação— como meta para busca do selo de estado livre da aftosa sem vacinação.
Os dados do segundo semestre de 2019 mostram que 99.958 animais foram registrados pelo estado dentro da reserva de Jaci-Paraná. Entre os proprietários encontramos grandes empresários, como os fundadores do grupo Rondobrás, Domingos Ângelo Debarba e Plínio Augusto Ben Carloto.
No entanto, segundo os próprios deputados, o número de gado na reserva aumentou. Somavam mais de 160 mil este ano no início deste ano.
O Ministério Público de Rondônia abriu mais de cinquenta processos contra invasores na reserva Jaci-Paraná e no parque de Guajará-Mirim. Em pelo menos trinta casos os réus foram condenados. Só com as multas aplicadas, segundo o MP de Rondônia, seria possível recuperar toda a área invadida. Na decisão mais recente, de julho deste ano, a Justiça condenou um ocupante a multa de R$ 106 mil e retirada dos animais do local.
O ex-chefe das Unidades de Conservação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (Sedam) de Rondônia, Paulo Henrique Bonavigo, nos contou que ocupações como as de Jaci-Paraná e Guajará-Mirim ocorrem na Amazônia há décadas. “Empresas ou pecuaristas interessados nas áreas escolhem algumas pessoas para encabeçar as invasões e criar associações locais que fazem tudo parecer legítimo. Com o tempo, vão chegando forasteiros que aceitam comprar as terras mesmo sabendo que são irregulares. Eles se fiam em promessas de legalização, geralmente associadas a políticos.”
Na campanha de 2018, quando passou por Porto Velho, Bolsonaro reclamou que Rondônia tem muita área protegida: 23 terras indígenas e 40 unidades de conservação estaduais e 24 federais. “É um absurdo o que se faz no Brasil usando o nome ambiental”, protestou na época.
O Ministério Público de Rondônia ingressou com pedido de inconstitucionalidade da lei. Segundo o MP, as áreas desafetadas pela lei estadual fazem parte de um mosaico de proteção e estão localizadas em área da União, próximas ou limítrofes das terras indígenas Karitiana, Karipuna, Uru Eu Aw Aw, Rio Negro Ocaia, Lage e Ribeirão e das unidades de conservação Parque Nacional dos Pakaas Novos, Flona do Bom Futuro e Resex Rio Ouro Preto.
Os empresários e fazendeiros Domingos Ângelo Debarba e Plínio Augusto Ben Carloto confirmaram a propriedade do gado nos limites da Reserva de Jaci-Paraná e disseram não enfrentar dificuldades para comercializar os animais, mesmo quando eles estavam dentro dos limites da unidade de conservação.
“O gado está lá, está vacinado e é controlado pelo Idaron [órgão sanitário estadual]. Não temos nenhum problema para comercializar os animais e nunca recebi nenhuma notificação para retirar o gado de lá”, disse Plínio Carloto ao Joio.
Os dois empresários dizem que mantêm os animais na área por meio de arrendamento, e que não são proprietários das áreas. Plínio classificou os ocupantes de Jaci-Paraná como “miseráveis”.
“Se tirar essas pessoas lá de dentro será uma grande injustiça, como foi com a Raposa Serra do Sol, em Roraima, destruíram lá, os índios tinham tudo pelos fazendeiros e agora estão morrendo à míngua”, afirmou. Em 2009 o STF julgou a demarcação contínua da Terra Indígena em Roraima e decretou imediata retirada dos ocupantes não indígenas.
Debarba foi mais longe e afirmou que as Guias de Transporte Animal (GTAs) são emitidas normalmente dentro da área da Reserva. “Não vamos tirar nosso gado de lá”.
Debarba e Plínio já foram alvo de uma investigação da Polícia Federal no Acre, acusados de receberem ilegalmente do INCRA títulos de uma área da União em Acrelândia. Na área de 7 mil hectares, com pista de pouso, às margens do rio Abunã, os empresários criavam gado na chamada Fazenda Graúna. A área, originalmente, seria destinada a um assentamento da Reforma Agrária.
Desmatamento tipo exportação
Em 2019, a pecuária gerou R$ 53 bilhões de valor bruto da produção e cerca de 800 mil empregos na região da Amazônia. Entretanto, o rendimento médio dos trabalhadores do setor foi 34% menor do que o rendimento médio dos trabalhadores da região, R$ 1.692 por mês. Os municípios da Amazônia Legal estão entre os mais ineficientes em indicadores de educação, saúde, saneamento e finanças.
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 2021) classifica o Brasil em 2030 como líder mundial absoluto na exportação de carne bovina, com estimativa de 30% nas negociações internacionais.
As projeções do MAPA para produção, consumo e exportação mostram que o incremento nos rebanhos para a demanda por carne será praticamente absorvido pela expectativa de aumento na exportação. Os dados mostram que 2030, quase 45% da produção nacional será vendida para os EUA.
Enquanto o agronegócio segue expandindo áreas de pasto no Brasil e aumentando as vendas no exterior, no Brasil de 2021 o brasileiro já vê cada vez menos comida no prato. Com a alta da inflação, desvalorização do real frente ao dólar, e mais de 14 milhões de desempregados, o consumo de alimentos vai diminuir quase 14% este ano. Chegaremos ao menor consumo de carne bovina em 26 anos.
O aumento nos preços da carne vermelha para os brasileiros foi três vezes maior que a alta da inflação geral dos últimos 12 meses, que é de 9,68%.
E a agropecuária que se apresenta como vilã dessa trágica história social, também é (ou será em algum momento) vítima da própria destruição da floresta que patrocina direta ou indiretamente.
Enquanto a atividade contribui para elevar a emissão dos gases do efeito estufa em cerca de 25%, o setor também é um dos que sofre com o aquecimento global e a falta de chuvas. Estudos apontam que as variações climáticas reduziram o ganho de produtividade agropecuária em até 34% nas regiões mais quentes do planeta, incluindo o Brasil, e 21% globalmente entre 1961 e 2015.
“Nós sabemos, e pesquisas já mostraram, quais são os frigoríficos que compram em áreas de desmatamento. O Estado sabe onde o risco de se perder a floresta é maior, sabem quais são as empresas que atuam nessas regiões. Temos que parar com essa história de que é complexo ou difícil resolver a questão do desmatamento e da produção de carne. Para desenvolver a região sem desmatar é urgente repensar a atividade.”, dispara o pesquisador do Imazon.
Fonte: IHU Online
http://www.ihu.unisinos.br/613888-agro-desmatara-um-milhao-de-hectares-por-ano-na-amazonia-para-atender-demanda-por-carne-ate-2030
Mario Giro: A mentalidade fascista nunca morre, não se pode baixar a guarda
É necessário sempre lembrar o que causou, para combatê-la dentro da sociedade, avalia Mario Giro
IHU Online
"Destas poucas observações emergem duas coisas: a primeira é que a mentalidade fascista nunca morre e por isso é necessário sempre lembrar o que causou, para combatê-la dentro da sociedade. A segunda é que essa mentalidade pode facilmente se fundir com outras formas de rebelião e ressentimento social, como os No-vax,", escreve Mario Giro, vice-ministro do Exterior italiano, em artigo publicado por Domani, 16-10-2021. A tradução é de Luisa Rabolini.
Eis o artigo.
Perguntemo-nos seriamente: existe o risco de voltar o fascismo? Muitos comentaristas respondem que não, assim como parte dos líderes políticos. A resposta deles se baseia em uma análise plana da atualidade, sem perspectiva histórica e sem conhecer o poder das ideologias na história.
O fascismo do passado
É óbvio que não existe o risco de um retorno ao fascismo que foi: flâmulas, hinos, marchas e camisas pretas. Na Itália, o regime fascista caiu em 25 de julho de 1943. A turma republicana (apesar da percepção de quem participou dela) foi muito diferente: não era mais o fascismo italiano, mas uma facção sujeita ao nazismo alemão (como para outros movimentos em Europa), ou seja, a corrente itálica do regime germânico.
O neofascismo
Depois da guerra na Itália, o neofascismo renasceu, diferente do regime fascista dos anos 20, com uma marca subversiva e contra o estado. Essa forma neofascista ainda hoje existe e, embora seja considerada ilegal e ilegítima pela Constituição, é tolerada há décadas.
Fascismo Eterno
Para entender o que realmente é a essência fascista, basta reler o Fascismo Eterno de Umberto Eco.
Uma "colagem" desordenada e grosseira de várias ideias políticas, uma "colmeia de contradições", o fascismo eterno é "um exemplo de distorção política e ideológica".
Não é por acaso que hoje o protesto do universo No-vax e No-green pass anda, em si distante da prática do fascismo, regime que preferia um estado centralizador em política sanitária, de recuperação e convictamente favorável à vacinação. Em seu progresso desordenado na sociedade, o neofascismo atual pisca os olhos para tudo o que é subversivo, como os movimentos anticapitalistas radicais por exemplo, que não fazem parte de seu background exceto na prática rebelde dos inícios.
Segundo Eco, o fascismo eterno tem características constantes como o irracionalismo em que a cultura é suspeita e também a ciência; ou a obsessão pela conspiração ou o desprezo pelos fracos.
Muitas reações ou posições desse neofascismo destorcido surgem da frustração individual ou social que se transforma em raiva, sempre de acordo com Eco.
Um pensamento eterno
Destas poucas observações emergem duas coisas: a primeira é que a mentalidade fascista nunca morre e por isso é necessário sempre lembrar o que causou, para combatê-la dentro da sociedade.
A segunda é que essa mentalidade pode facilmente se fundir com outras formas de rebelião e ressentimento social, como os No-vax.
Quem não vê esse risco não sabe ler a nossa sociedade e os perigos que a ameaçam. A recusa em ver nos fatos de Roma a matriz fascista já representa em si uma emergência constitucional.
Leia mais
- A volta do fascismo e a intolerância como fundamento político. Revista IHU On-Line, Nº 490
- A psicologia das massas do nazi-fascismo e a ‘nebulosa do ideário bolsonarista’. Entrevista especial com Luís Carlos Petry
- “O perigo real é o retorno do fascismo”. Entrevista com o filósofo Rob Riemen
- A nova república acabou, a esquerda ainda não ressurgiu e o fascismo insiste em ressuscitar
- Com 80% de cristãos, Brasil vira país da intolerância e ruma ao fascismo
- “O fascismo social se move sob estruturas formalmente democráticas”. Entrevista com Juan Carlos Monedero
- O fascismo vive em nós através do dispositivo do neoliberalismo. Entrevista especial com Rodrigo Karmy Bolton
- “Um passado que acreditávamos não mais voltar”: os neofascismos e a atualidade de Primo Levi
- Umberto Eco, como se nasce e como se morre de fascismo
Cimi: Brasil tem “uma das piores práticas indigenistas para enfrentar a pandemia”
Declaração foi feita em painel sobre direitos humanos dos povos indígenas na pandemia, que integra programação da 48ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU
A reportagem é publicada por Conselho Indigenista Missionário - Cimi, 28-09-2021.
Na manhã desta terça-feira (28), durante um painel da 48ª sessão do Conselho de Direitos Humanos (CDH) das Nações Unidas (ONU), o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) denunciou as diversas “omissões deliberadas” que marcaram a atuação do governo brasileiro no combate à pandemia do coronavírus entre povos indígenas.
A afirmação foi feita durante a participação do Cimi no painel anual do CDH sobre os direitos dos povos indígenas, cujo tema, neste ano, foi “a situação dos direitos humanos dos povos indígenas frente à pandemia de covid-19, com foco especial no direito à participação”.
“As forças políticas predominantes no Brasil aproveitam a pandemia para desmantelar uma sólida governança ambiental e indígena, conseguida com sacrifícios após a redemocratização do país”, afirmou o coordenador do Cimi Regional Sul, Roberto Liebgott, que fez a manifestação em nome do Cimi no painel do CDH.
Assista abaixo:
A fala faz referência a uma série de medidas do governo federal e do poder Legislativo aproveitaram a pandemia para, como afirmou o então ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, “passar a boiada”, flexibilizando uma série de medidas de proteção ambiental e retirando direitos territoriais dos povos indígenas.
É o caso de medidas do governo federal como a Instrução Normativa (IN) 09/2020, da Funai, que liberou a certificação de propriedades privadas sobre terras indígenas, e da Instrução Normativa Conjunta 01/2021, da Funai e do Ibama, que liberou a participação de não índios em associações voltadas a realizar empreendimentos dentro de terras indígenas; e de medidas do Congresso Nacional, como o Projeto de Lei (PL) 490/2007, que busca retirar os direitos territoriais indígenas e foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em junho.
“Infelizmente, hoje trazemos um exemplo de uma das piores práticas indigenistas estatais para enfrentar a pandemia: a do Brasil”, declarou Roberto Liebgott.
Segundo dados oficiais da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), 53.457 indígenas foram contaminados pela covid-19 no país até o dia 27 de setembro. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) contabiliza 1.208 mortes indígenas decorrentes da contaminação pelo coronavírus no mesmo período.
A fala do Cimi também fez referência às diversas denúncias levadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e à própria ONU acerca das violações e da negligência do governo federal na proteção dos povos indígenas durante a pandemia de covid-19. Em 2020, a própria CIDH emitiu medidas cautelares em favor dos povos Munduruku, Yanomami e Ye’kwana, sob grave ameaça devido à presença de invasores em seus territórios em plena pandemia.
Em agosto deste ano, o Comitê da ONU contra a Discriminação Racial (CERD) notificou o Estado brasileiro por meio do seu mecanismo de alerta de atrocidades, chamando atenção para os “impactos dramáticos” da pandemia da covid-19 sobre as populações indígenas, em particular no estado do Amazonas.
“Durante a pior fase da pandemia no Brasil, ao invés da participação, os povos indígenas e ONGs tiveram que recorrer à CIDH e ao CERD para deter as atrocidades em curso, em meio a uma série de omissões deliberadas e sabotagem do Plano de Contingência ordenado pela Suprema Corte de Brasil”, afirmou o representante do Cimi, fazendo referência às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709, de autoria da Apib.
O painel sobre os direitos indígenas durante a pandemia foi presidido pela vice-presidente do CDH da ONU, Keva L. Bain, e teve a participação da secretária-geral adjunta de Direitos Humanos, Ilze Brands Kehris, da presidente do Mecanismo Especializado sobre os Direitos dos Povos Indígenas (EMRIP), Megan Davis, do relator especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, José Francisco Cali Tzay, e da presidente do Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas, Anne Nuorgam.
A fala de Roberto Liebgott foi a primeira de diversas participações previstas sobre a temática indígena pelo Cimi e outras organizações indígenas, indigenistas e da sociedade civil durante a 48ª sessão do CDH. Outras duas manifestações em diferentes espaços e um evento paralelo sobre os direitos indígenas estão previstos para esta semana.
Veja a íntegra do discurso do Cimi:
Painel anual sobre os direitos dos povos indígenas
Tema: a situação dos direitos humanos dos povos indígenas frente à pandemia de covid-19, com foco especial no direito à participação
Declaração oral de Roberto Liebgott – Conselho Indigenista Missionário (Cimi)
28 de setembro de 2021
O Cimi parabeniza o Conselho de Direitos Humanos por realizar este painel importante e oportuno, que oferece a oportunidade de levantar diferentes preocupações dos povos indígenas no Brasil.
O slogan “reconstruir melhor” é um sonho distante para os povos indígenas do Brasil. Não há um plano, nem mesmo uma visão no país de como sair da pandemia, e o presidente da República segue projetando uma realidade paralela, como fez antes da Assembleia Geral da ONU este ano. Ao contrário de uma visão que consideraria os povos indígenas como agentes de mudança, no espírito dos ODS, e emergindo da pandemia com uma realidade melhor para todos, as forças políticas predominantes no Brasil aproveitam a pandemia para desmantelar uma sólida governança ambiental e indígena, conseguida com sacrifícios após a redemocratização do país.
Durante a pior fase da pandemia no Brasil, ao invés da participação, os povos indígenas e ONGs tiveram que recorrer à CIDH e ao CERD para deter as atrocidades em curso, em meio a uma série de omissões deliberadas e sabotagem do Plano de Contingência ordenado pela Suprema Corte de Brasil. Foram as diversas marchas a Brasília, levando 15 mil indígenas de 117 diferentes povos, que fizeram a diferença na luta por seus direitos e na resistência aos retrocessos.
Os povos indígenas do Brasil foram grandes defensores da Constituição do Brasil, cuja democracia hoje sofre uma das maiores ameaças e que afeta fortemente seus direitos e sua própria existência.
Infelizmente, hoje trazemos um exemplo de uma das piores práticas indigenistas estatais para enfrentar a pandemia: a do Brasil.
Obrigado.
Leia mais
- Os indígenas nos ensinam sobre resistência e sobre esperança. Entrevista especial com Roberto Liebgott
- Em defesa dos direitos indígenas e contra a antipolítica que vislumbra o genocídio dos povos. Artigo de Roberto Liebgott
- A ameaça institucional, jurídica e física à existência dos povos indígenas. Entrevista especial com Roberto Liebgott
- A resistência dos indígenas. 'O que está acontecendo é um genocídio e um biocídio. A Igreja só pode estar com os índios e sua floresta. Uma Igreja amazônica, como a quer o Papa'
- Desmatamento em terras com indígenas isolados cresce mais de 200% em julho
- Atlas da Violência 2021: assassinatos de indígenas aumentam 22% em dez anos
- MapBiomas comprova que terras indígenas são as áreas mais preservadas do Brasil
- Liberdade de expressão dos Povos Indígenas. Artigo de Eduardo Viveiros de Castro
- O que passou na “boiada” de Ricardo Salles durante a pandemia?
- Marco temporal: terra para os Povos Indígenas ou para o agronegócio devastador?
- 10 mensagens dos povos indígenas do Brasil para o mundo
- Articulação dos Povos Indígenas lança “Dossiê Internacional de Denúncias dos Povos Indígenas do Brasil”
- Diante da catástrofe climática, o que podemos aprender com os povos indígenas?
Fonte: IHU Online
http://www.ihu.unisinos.br/613252-brasil-tem-uma-das-piores-praticas-indigenistas-estatais-para-enfrentar-a-pandemia-afirma-cimi-na-onu
IHU Online: O oceano é crucial em nossas vidas e precisa de cuidado
Ao perdermos a qualidade do ambiente marinho, perdemos benefícios para as pessoas e inúmeras oportunidades de desenvolvimento de atividades socioeconômica
"É preciso mais atenção aos desafios do oceano, pois, embora a temática esteja presente na agenda internacional, não há muito a comemorar", escreve Alexander Turra, membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN), professor titular do Instituto Oceanográfico da USP e responsável pela Cátedra UNESCO para Sustentabilidade dos Oceanos, em artigo publicado por EcoDebate, 17-09-2021.
Eis o artigo.
Ao perdermos a qualidade do ambiente marinho, além de colocar em risco os serviços ecossistêmicos e benefícios providos para as pessoas, reduzimos oportunidades de desenvolvimento de atividades socioeconômicas sustentáveis e ameaçamos o simbolismo do mar em nossa cultura.
Fonte de inspiração para a música, a literatura, as artes plásticas e as mais diversas manifestações da cultura popular, o oceano desempenha um papel crucial em nossas vidas. Mas, mesmo com sua enorme importância para a economia, a saúde, a alimentação, a ciência, o bem-estar, entre outras áreas, e frente aos reconhecidos serviços ecossistêmicos essenciais para a manutenção da vida no planeta, o oceano ainda parece distante de muitos de nós. Sem conhecê-lo, deixamos de estabelecer a conexão necessária para protegê-lo.
Desde a Rio 92, a histórica conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, realizada no Rio de Janeiro em 1992, líderes mundiais buscam formas de fazer frente aos desafios e ameaças que o oceano enfrenta. No entanto, a mobilização internacional ganhou um pouco mais de força apenas em 2009, quando foi estabelecido o Dia Mundial do Oceano, lembrado no dia 8 de junho, que surgiu com o intuito de celebrar a nossa ligação com o mar, bem como aumentar a conscientização sobre a necessidade de cuidar melhor dele.
Esse hiato de 17 anos teve consequências para a saúde do oceano. A degradação é como um câncer que rapidamente se alastra e que demanda imediata remediação. Demorar em tomar atitudes pode ser a diferença entre a vida e a morte. E quanto antes as medidas forem tomadas, inclusive na prevenção, melhor tende a ser o resultado. Essa morosidade em cuidar do oceano pode ser considerada como negligência da humanidade em relação a um grande aliado de sua existência. Por outro lado, essa demora pode também ilustrar uma falta de clareza dos líderes mundiais sobre esse papel central do oceano na sustentabilidade do planeta.
Recentemente, o movimento em prol do oceano recebeu reforços. Além de contar com um dia para lembrar sua importância, em 2017, a ONU propôs que a década entre 2021 e 2030 fosse dedicada à Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Surgia assim a proposta de somar esforços em nível global entre os governos nacionais, convidando também a sociedade civil organizada a se engajar na luta por um oceano limpo e saudável.
É preciso mais atenção aos desafios do oceano, pois, embora a temática esteja presente na agenda internacional, não há muito a comemorar. A qualidade do ambiente marinho continua sendo perdida ao longo do tempo. Infelizmente, o mar torna-se um grande sumidouro dos rejeitos gerados pelas atividades humanas, como o esgoto, o lixo e os poluentes industriais, a exemplo do petróleo e do mercúrio, e também sofre com outros tipos de agressões. Extinções de espécies que sequer foram conhecidas pela ciência; invasão de espécies exóticas; destruição de ambientes como manguezais e recifes de coral; pesca irregular, ilegal e não reportada; e mudanças do clima correspondem a importantes ameaças que ilustram a ampla crise que assola o oceano.
Essas alterações se desdobram em catástrofes para a humanidade. Ao perdermos a qualidade do ambiente marinho, perdemos benefícios providos para as pessoas e inúmeras oportunidades de desenvolvimento de atividades socioeconômicas, como turismo, pesca e aquicultura. Estamos falando de cerca de 20% do Produto Interno Bruto do Brasil, valor que depende direta e indiretamente do oceano. Estamos falando de oportunidades para ampliar a oferta de alimento e a segurança alimentar para o planeta. Estamos falando de condições para gerar milhões de empregos e produzir a energia limpa e renovável que tanto precisamos para caminharmos na direção de uma economia de baixo carbono e combatermos os efeitos das mudanças climáticas.
"Ao perdermos a qualidade do ambiente marinho, perdemos benefícios providos para as pessoas e inúmeras oportunidades de desenvolvimento de atividades socioeconômicas, como turismo, pesca e aquicultura" - Alexandre Turra Tweet
Mas perdemos mais ainda. Perde-se o próprio simbolismo que o oceano tem para a humanidade. Sem o simbolismo do oceano não teríamos a suíte dos pescadores de Dorival Caymmi, os quadros de José Pancetti, os romances de Jorge Amado, os contos populares compilados por Câmara Cascudo e as aventuras de Júlio Verne.
Essa simbologia move inúmeras pessoas a conhecer o mar. Cito duas histórias que repercutiram amplamente e que ilustraram a magia que o mar exerce sobre as pessoas. Em 1995, Maria do Carmo Jerônimo, mineira de 124 anos, conheceu o mar. Tendo sido escrava até os 17 anos, aguardou muito tempo até ter podido realizar esse desejo, uma segunda alforria, que só se igualava à sua vontade de conhecer o Papa.
Em 2021, Pâmella Rocha, uma menina goiana de 9 anos, também conheceu o mar. Com um câncer em fase avançada e que levou à amputação de uma de suas pernas, Pâmella tinha um enorme desejo de estar próxima ao mar. E ela o fez. Junto com sua família e diversos apoiadores, o sonho virou realidade e ela veio a conhecer o que achava que era uma “grande represa”. “Foi maravilhoso ver os olhinhos dela brilhando”, registrou sua mãe, Vannina Rocha.
A exemplo de dona Maria do Carmo e de Pâmella, cerca de 70 milhões de brasileiros nunca tiveram a oportunidade de ver, sentir e se banhar no mar. De sentir a energia das ondas, o sal no corpo, a brisa na face e a areia salpicando na pele. De ver o sol nascer, “emergindo” de um horizonte oceânico.
"Podemos aproveitar a Década do Oceano para refletirmos e para nos questionarmos sobre o que de fato conhecemos sobre ele, sobre o entendimento que temos a respeito da importância dele para nossas vidas e sobre o papel de nossas atitudes cotidianas na saúde do oceano" - Alexandre Turra Tweet
Podemos aproveitar a Década do Oceano para refletirmos e para nos questionarmos sobre o que de fato conhecemos sobre ele, sobre o entendimento que temos a respeito da importância dele para nossas vidas e sobre o papel de nossas atitudes cotidianas na saúde do oceano. Mas, mais que isso, que possamos resgatar o simbolismo do oceano em nossas vidas, renovando a importância dele para a garantia da nossa saúde e a necessidade de seu uso sustentável para superarmos as mais desafiadoras adversidades e progredirmos enquanto humanidade. Falando em simbolismo, considerando o planeta como um ser vivo, certamente o oceano seria sua alma. E sem alma jamais seremos um planeta efetivamente vivo!
Leia mais
- Rios são a maior fonte global de mercúrio nos oceanos e o Amazonas lidera a lista
- Relatório do IPCC: mudanças profundas estão em andamento nos oceanos e no gelo da Terra
- A principal corrente do oceano Atlântico pode estar próxima do limite crítico
- Estudo revela que bitucas de cigarro liberam substâncias tóxicas em praias e no oceano
- Impactos das mudanças climáticas nos oceanos
- Cientistas alertam sobre o acúmulo sem precedentes de mercúrio no Oceano Pacífico
- A proteção dos oceanos começa em nossas casas
- Como o oceano molda o tempo e o clima
- Serviços ecossistêmicos dos oceanos são essenciais para o planeta e a humanidade
- Aumento do nível do mar acelera a submersão costeira em todo o mundo
- Entenda a relação entre o aquecimento global e o aumento do nível do mar
- Aquecimento acima da meta do Acordo de Paris pode causar aumento catastrófico do nível do mar
- Transporte marítimo insustentável acelera os danos ao ambiente ártico
Fonte: IHU Online
http://www.ihu.unisinos.br/612958-o-oceano-e-crucial-em-nossas-vidas-e-precisa-de-cuidado
'Celebração do 7 de Setembro de 2022 será o réquiem da pátria'
Flavio Cabral, Valter Pomar, Marcos Napolitano, José de Souza Martins e Werneck Vianna analisam o que há para celebrar no 7/9 e os desafios para reconstruir o país
João Vitor Santos e Patricia Fachin / IHU Online
Aniversários são sempre momentos de revisões e projeções, por mais que alguns resistam. Com uma nação não é diferente. No Brasil, que em breve comemorará 200 anos de independência de Portugal, o 7 de Setembro de 2021 parece ter um gosto estranho. Afinal, ainda patinamos num atoleiro de crises. Na política e entre as instituições que devem resguardar essa independência e democracia, disputas estéreis parecem ainda tragar a população para esse lamaçal. Assim, ao invés de desfile e paradas cívicas nas ruas, o país aguarda atônito a promessa de manifestações e até confrontos entre apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e aqueles que não aceitam o negacionismo, o populismo, a corrupção e o totalitarismo, ou mesmo quem não aguenta mais tantas mortes pela Covid-19 e não tem trabalho e o que pôr na mesa. Então, o que este 7 de Setembro de 2021 significa? É nesse debate que o Instituto Humanitas Unisinos - IHU mergulha, consultando algumas vozes que podem nos ajudar a clarear o horizonte.
Para o sociólogo Luiz Werneck Vianna, há apenas uma razão para celebrarmos o 7 de Setembro deste ano: “a resistência do povo brasileiro, de várias camadas sociais, a esse regime arbitrário que tenta negar e destruir o sistema de liberdade que construímos ao longo das últimas décadas”. Em entrevista ao IHU via plataforma de videochamadas Microsoft Teams, ele diz que as manifestações previstas para esta terça-feira “são tambores de guerra que rufam do lado do governo”. E acrescenta: “para o governo, a legalidade é sentida como algo muito perigoso e por isso é preciso interromper a legalidade democrática, porque ela se volta naturalmente contra a natureza autocrática desse governo”.
Já o sociólogo José de Souza Martins não vê motivos para celebrarmos a data. “Rigorosamente falando, não temos nada a celebrar. Estamos passando, coletivamente, por um dos piores momentos da história brasileira”, disse em entrevista concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos - IHU. Ao invés de manifestações nas ruas, sugere, “talvez seja o momento de pensar na pátria em silêncio, em casa e nas igrejas, já que será feriado. Como um ato de contrição e de reflexão crítica sobre nossos erros políticos e nossos impasses históricos. A pátria está em perigo porque mergulhada no abismo da incerteza, dos desmandos do mau governo, da falta de um projeto de nação, de um reconhecimento das radicais necessidades dos simples, dos desvalidos, dos socialmente excluídos, dos famintos, das famílias em número cada vez maior, de adultos e crianças, que dormem ao relento, sob frio e chuva”.
O historiador e dirigente político Valter Pomar é direto ao considerar que “o Brasil precisa de uma nova independência. Aquela que será bicentenária em 2022 manteve a monarquia e a escravidão, sem falar que deixamos de ser colônia portuguesa para virar semicolônia inglesa”. Na entrevista concedida por e-mail ao IHU, ainda insiste na necessidade de ações de resistência ao atual governo, mas também faz a tão falada autocrítica à oposição. “Me preocupo mais com certas atitudes de setores da esquerda, tipo não defender o Fora Bolsonaro, tipo não querer fazer manifestações de rua, tipo propor não fazer o Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro, tipo achar que 2022 está garantido etc. Acho que falta lógica para estes setores ‘quietistas’ da esquerda”, critica.
Já o historiador pernambucano Flavio Cabral diz que esse cenário do Brasil de 2021 lembra muito os confrontos de Pernambuco em 1820, quando um certo governador régio da província ignorava as transformações do mundo. “Muitas vezes Luís do Rego não queria observar as reformas políticas desencadeadas a partir de 1820. Frequentemente ele juntava os aliados e fazia determinado tipo de manifestação, conclamava as pessoas a ficarem do lado dele, da dita liberdade”, explica, na entrevista concedida ao IHU via chamada de áudio pelo WhatsApp. O curioso é que Rego defendia uma tal liberdade, mas na verdade queria assegurar a velha ideia de despotismo esclarecido e as benesses de um governo régio nas províncias. “Foi um momento crucial de nossa história, em que vemos como as independências foram diferentes nas províncias. Quando vi o anúncio dessas manifestações de 7 de Setembro de 2021, fiquei lembrando desse momento aqui de nosso estado, com o governador de um lado e os liberais de outro, se atracando”, completa.




























Marcos Napolitano, um dos historiadores referência quando o assunto é Brasil Republicano, compreende as crises que temos vivido especialmente a partir de 2016. “Mesmo com os avanços das políticas públicas que tivemos desde 1995, mas sobretudo entre 2003 e 2016, corrupção, fisiologismo político e desigualdade social crônica permaneceram como chagas nacionais”, observa na entrevista concedida por e-mail ao IHU. Por isso, acredita que “construir um país mais democrático e igual passa pela revalorização da racionalidade, institucionalidade e decoro na política, pela construção de consensos civilizatórios mínimos entre setores da esquerda e da direita republicana e liberal visando reconstruir as políticas públicas voltadas para alguma inclusão social e isolar – política e institucionalmente falando – o autoritarismo de extrema direita”.
Flavio José Gomes Cabral é doutor e mestre pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, licenciado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru - Fafica, professor de História da Universidade Católica de Pernambuco - Unicap. Ainda é pesquisador associado do Museu de Arqueologia e Ciências Naturais da Unicap e tem se dedicado a temas como América portuguesa (séculos XVIII e XIX), leitura, movimentos messiânicos, imprensa, cultura política da Independência do Brasil, história de Pernambuco, História municipal.
Valter Pomar é historiador formado pela Universidade de São Paulo - USP, mestre e doutor em História Econômica pela mesma instituição. Foi secretário de Cultura, Esportes e Turismo da Prefeitura Municipal de Campinas de 2001 a 2004. É professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC - UFABC e dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores - PT.
Marcos Napolitano é doutor e mestre em História Social pela Universidade de São Paulo - USP, onde também graduou-se em História. Atualmente, é professor titular de História do Brasil Independente e docente-orientador no Programa de História Social da USP. É assessor ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e do CNPq. Especialista no período do Brasil Republicano, com ênfase no regime militar, e na área de história da cultura, com foco no estudo das relações entre história e audiovisual, tem, entre seus livros publicados, Coração Civil: a vida cultural brasileira sob o regime militar (1964-1985) - ensaio histórico (São Paulo: Intermeios - Casa de Artes e Livros, 2017) e 1964: História do Regime Militar Brasileiro (São Paulo: Editora Contexto, 2014).
Luiz Werneck Vianna é professor-pesquisador na Pontifícia Universidade Católica - PUC-Rio. Doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo - USP, é autor de, entre outras obras, A revolução passiva: iberismo e americanismo no Brasil (Rio de Janeiro: Revan, 1997), A judicialização da política e das relações sociais no Brasil (Rio de Janeiro: Revan, 1999) e Democracia e os três poderes no Brasil (Belo Horizonte: UFMG, 2002). Sobre seu pensamento, leia a obra Uma sociologia indignada. Diálogos com Luiz Werneck Vianna, organizada por Rubem Barboza Filho e Fernando Perlatto (Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2012). Destacamos também seu livro intitulado Diálogos gramscianos sobre o Brasil atual (FAP e Verbena Editora, 2018), que é composto de uma coletânea de entrevistas concedidas que analisam a conjuntura brasileira nos últimos anos, entre elas, algumas concedidas e publicadas na página do Instituto Humanitas Unisinos - IHU.
José de Souza Martins é graduado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo - USP. Foi professor-visitante da Universidade da Flórida e da Universidade de Lisboa e membro da Junta de Curadores do Fundo Voluntário da ONU contra as Formas Contemporâneas de Escravidão, de 1998 a 2007. Foi professor da Cátedra Simón Bolívar, da Universidade de Cambridge (1993-1994) e atualmente é professor titular aposentado da USP. Entre suas obras, destacamos Exclusão social e a nova desigualdade (São Paulo: Paulos Editora, 1997), A sociabilidade do homem simples: cotidiano e história na modernidade anômala (São Paulo: Contexto, 2000), Linchamentos: a justiça popular no Brasil (São Paulo: Editora Contexto, 2015) e Do PT das lutas sociais ao PT do poder (São Paulo: Editora Contexto, 2016).
Confira as entrevistas.
IHU – O que temos a celebrar neste 7 de setembro e o que significa a data em meio à crise política em que o país está imerso?
Flavio José Gomes Cabral – O 7 de Setembro é um momento bastante interessante, porque tem toda uma tradição, mas também é um momento de fazermos várias reflexões. É sim um momento a se celebrar, mas é uma celebração com o intuito de podermos fazer contrapontos, observar o que avançamos e o que temos ainda por avançar. Que liberdades foram essas? Para quem foi essa liberdade da Independência?


O quadro do Grito do Ipiranga é muito sugestivo, especialmente a figura daquele senhorzinho à esquerda de D. Pedro, que está com uns bois. Enquanto temos ali no centro a figura daquele que seria o futuro imperador, temos o povo que está ali sem saber bem o que estava acontecendo. Que grito é esse que se está ouvindo? Ali, claramente se percebe que poucos estão escutando, poucos ouviram. Os indígenas, os negros, as mulheres, as classes excluídas em que a Independência não avançou sobre as suas condições.

(Imagem: reprodução Google Artes)
Podemos também celebrar alguns avanços de crescimento tecnológico, mas ainda temos muito a fazer nesse sentido. Ainda temos uma educação que precisa ser bastante melhorada para atender os reclames das classes menos privilegiadas. Temos também uma saúde que não é para todos. Assim, temos mais o que pensar do que vamos querer, porque essa liberdade ainda está muito limitada a alguns grupos. É um Brasil que ainda não olhou para toda sua população.
Então, o 7 de Setembro é um momento celebrativo sim, mas também é um momento de fazer uma reflexão. Tocam-se os tambores, coloca-se toda a cavalaria na rua, é feito todo aquele estardalhaço, mas aquilo ali parece esconder que por detrás de tudo tem um país que está descalço, um país que ainda precisa avançar, e muito.
O Brasil precisa de uma nova independência. Aquela que será bicentenária em 2022 manteve a monarquia e a escravidão, sem falar que deixamos de ser colônia portuguesa para virar semicolônia inglesa
Valter Pomar
Valter Pomar – Temos que celebrar a disposição de luta de uma parte importante do povo brasileiro. Afinal, o Brasil precisa de uma nova independência. Aquela que será bicentenária em 2022 manteve a monarquia e a escravidão, sem falar que deixamos de ser colônia portuguesa para virar semicolônia inglesa. Precisamos de uma independência de verdade, com efetiva igualdade e liberdade para a imensa maioria de nosso povo. E isso só virá com muita luta, com muita disposição de fazer transformações verdadeiramente revolucionárias.


Marcos Napolitano – Datas comemorativas são sempre uma oportunidade de a sociedade refletir sobre seu passado, seu presente e seus projetos de futuro. Estas reflexões devem ser críticas, e ir além da mera celebração ufanista. Acho que o "Sete de Setembro" é uma data que deve propiciar uma reflexão sobre que nação queremos ser e que podemos ser.


Da minha parte, acho que a sociedade nacional brasileira, mesmo com seus conflitos e contradições, deve buscar alguns consensos mínimos em torno da democracia, pluralidade cultural, inclusão social e direitos humanos, como base do seu projeto civilizacional. Isto significa rechaçar – no cotidiano, na cultura, nas eleições, nas instituições jurídicas e políticas – todos os projetos autoritários e regressivos que nos ameaçam.
Há uma coisa importante a celebrar: a resistência do povo brasileiro
Luiz Werneck Vianna
Luiz Werneck Vianna – Há uma coisa importante a celebrar: a resistência do povo brasileiro, de várias camadas sociais, a esse regime arbitrário que tenta negar e destruir o sistema de liberdade que construímos ao longo das últimas décadas. Apenas isso.
José de Souza Martins – Rigorosamente falando, não temos nada a celebrar. Estamos passando, coletivamente, por um dos piores momentos da história brasileira. O país desgovernado, a economia em crise e mal administrada, a sociedade em estado de anomia, na incerteza, sobrecarregada de problemas sociais sem perspectiva de solução.
Celebrar uma data como a do aniversário da Independência depende muito de que o fato celebrado esteja corretamente inscrito na memória social. Significa que a população se conceba como nação, que tenha memória de fatos históricos de que ela se considere propriamente herdeira. E essa efeméride, como outras, não o está na identidade do brasileiro.

Brasil: colônia do Estado brasileiro
Desde o próprio dia 7 de setembro de 1822, não só o acontecimento vem sendo usurpado como episódio da história do povo e como memória do povo. Como já mostrou Fernando Henrique Cardoso, em artigo dos anos 1970, a independência brasileira não resultou de uma revolução que definisse um ator coletivo, uma sociedade rebelada contra a dominação colonial, agindo como sujeito social e político. Único país da América Latina em que a Independência não foi feita por meio de uma revolução da sociedade contra a dominação colonial.
Não foi aquele acontecimento o fato inaugural da sociedade civil entre nós, dotada de identidade e vontade coletiva. Foi o Estado que proclamou a Independência, na pessoa do herdeiro da Coroa, para uma sociedade sem protagonismo histórico. E assim permanecemos. Deixamos de ser colônia de Portugal para ser colônia do Estado brasileiro e por meio dele colônia do Exército. As revoluções populares no Brasil, como a de Canudos e a do Contestado, como as tentativas do período ditatorial, foram não raro induzidas para legitimar a repressão em nome do Estado totalitário.
Neste 7 de setembro os cúmplices desse projeto anti-histórico e antinacional estarão nas ruas, de moto, a pé ou a cavalo para desafiar e sufocar o alento de liberdade e de independência refugiado em nosso peito
José de Souza Martins
Já na documentação das revoluções tenentistas está claro que o objetivo dos militares era tutelar a sociedade porque supostamente desprovida dos atributos da cidadania. Uma sociedade em que a grande massa do povo vinha da escravidão.
Essa mesma mentalidade nos domina até hoje. Na palavra e nos atos do atual governante, dos que o rodeiam e bajulam e dos próprios militares, o projeto da tutela do povo muda de forma, mas permanece. Neste 7 de setembro os cúmplices desse projeto anti-histórico e antinacional estarão nas ruas, de moto, a pé ou a cavalo para desafiar e sufocar o alento de liberdade e de independência refugiado em nosso peito.
A história política brasileira, no ato da Independência, inaugurou o roteiro de um desempenho político subalterno do povo, um povo conformista e manipulado. A história das revoluções brasileiras não é uma história do povo. Frequentemente é uma história das forças armadas, uma história de imposições e não uma história de conquistas sociais e políticas.
Deixamos de ser colônia de Portugal para ser colônia do Estado brasileiro e por meio dele colônia do Exército
José de Souza Martins

Dia da Independência: símbolo da militarização da pátria
Há muitos anos a celebração do Dia da Independência deixou de ter a relevância e o brilho que costumava ter até meados dos anos 1960. Desde o Estado Novo, o 7 de setembro fora capturado pela mentalidade do regime e, particularmente, pela acentuação da militarização que ocorreu no período da Segunda Guerra Mundial com a participação direta da Força Expedicionária Brasileira nos campos de batalha da Itália. Um desempenho épico que emocionou o povo brasileiro. Nas escolas as crianças desfilavam nesse dia, como soldadinhos de um exército imaginário. Vencido o Estado Novo, o 7 de setembro continuou a ser um episódio dos símbolos da militarização da pátria, uma pátria em guerra, mesmo já não havendo guerra. Uma pátria de inimigos imaginários e inventados por gente que tem poder, mas não tem cultura política, como se vê nestes momentos dolorosos de uma pátria entre parênteses.
O golpe militar de 1964 reacentuou a mentalidade militarizante dos símbolos pátrios. O Brasil que não conseguira construir uma identidade nacional civil, democrática e pluralista foi subjugado pela concepção equivocada de que o patriotismo só o era na perspectiva militar, sendo impossível um patriotismo civil. Embora não haja nada mais patriótico do trabalho de milhões de pessoas que construíram este país, muitos produzindo riqueza ainda crianças, tendo como única recompensa a pobreza de futuro, o desvalimento, o abandono. Sei do que estou falando. Conheço essa história desde os onze anos de idade, já no trabalho, ganhando muito menos do que valia o meu trabalho para uma pátria que me roubava a infância.
Essa realidade afastou os civis e democráticos da concepção patrioteira de pátria e de celebração da pátria. Durante a ditadura, porque o país estava dominado pela ideia de uma pátria militarizada e de uma sociedade civil defeituosa porque oposta à militarização e à repressão militar, porque civil.
Cresceu o desinteresse pelas celebrações patrióticas. As novas gerações sentindo-se desencaixadas e sem motivação. A ideia de uma pátria de todos era desmentida pela realidade de uma pátria de alguns, um número enorme de brasileiros sem acesso a direitos próprios de uma sociedade democrática, excluídos.
É difícil esperar algo da ideia de pátria neste 7 de setembro, num momento de desilusão, amargura, morte e luto incompatíveis com sentimentos de comunidade e de pátria.
A ideia de uma pátria de todos era desmentida pela realidade de uma pátria de alguns, um número enorme de brasileiros sem acesso a direitos próprios de uma sociedade democrática, excluídos
José de Souza Martins
IHU – O que vislumbra para as manifestações desse dia?
Flavio José Gomes Cabral – Penso nessas manifestações com muito cuidado, com certo temor e receio. Não vai haver desfile, etc., mas se conclama o povo a ir para rua defender determinadas causas. Isso é muito complicado em um momento em que se dizia que devemos comprar armas e o alimento fica para depois. Então, quem comprou armas e não comprou alimento? O armamento é uma coisa complicada.
As manifestações são por liberdade, mas que liberdade é essa? Parece haver liberdades que extrapolam determinados limites da própria liberdade. Precisamos realmente pensar, refletir, sobretudo, com receio em relação a esses chamamentos. Que chamamentos são esses?
Flavio Cabral
Por isso vejo que esse é um momento em que devemos ter muito receio do que pode acontecer. As manifestações são por liberdade, mas que liberdade é essa? Parece haver liberdades que extrapolam determinados limites da própria liberdade. Precisamos realmente pensar, refletir, sobretudo, com receio em relação a esses chamamentos. Que chamamentos são esses? Que ruas são essas que estarão aí salpicadas de pessoas e o que essas pessoas estão portando? E que busca de liberdade é essa que estão querendo? Me parece que é uma liberdade mais para atender a demanda do chefe da nação, o chefe do Executivo nacional. Nunca escutei em nenhum momento coisa desse tipo. Quando isso vem da voz de uma pessoa que ocupa uma posição tão importante, nos deixa de sobreaviso. O que essas ruas vão fazer?
Temos que aprender muito com a História, o que aconteceu em momentos como esses. As pessoas iam para a rua, mas pensando no direito de cada um, quando um não olha para o outro. Não é o momento para esse tipo de manifestação, ao menos se realmente é como ouvimos na mídia. O que se diz é que há um chamamento para defender uma liberdade que seria a do chefe do Executivo nacional, que está propondo a não observância de determinadas questões, até mesmo inconstitucionais.
História
Aqui em Pernambuco, nós tivemos passagens de nossa história muito complicadas. Essa independência de que falamos é um longo processo, é interessante ver também como se dá o processo de independência nos estados. Eu estudo muito o período depois da Revolução do Porto [movimento liberal que eclodiu a 24 de agosto de 1820 na cidade do Porto, em Portugal, e que teve repercussões no Brasil. O movimento resultou no retorno (1821) da Corte Portuguesa, que se transferira para o Brasil durante a Guerra Peninsular, e no fim do absolutismo em Portugal, com a ratificação e implementação da primeira Constituição portuguesa (1822)], e o governo de Luís do Rego Barreto, um sujeito que governou Pernambuco a partir de 1817 e vai ser chamado de déspota pelos liberais da época.
































Muitas vezes Luís do Rego não queria observar as reformas políticas desencadeadas a partir de 1820. Frequentemente ele juntava os aliados e fazia determinado tipo de manifestação, conclamava as pessoas a ficarem do lado dele, da dita liberdade. Aliás, liberdade que, naquela época, tinha um sentido diferente, era liberdade de imprensa, liberdade de pensar e tudo isso ele reprimia. Mas, no momento em que vem a notícia da revolução do Porto e tudo muda, vai haver um governo que não será mais régio, e sim uma junta que passa a governar. E ele, então, luta aqui em Pernambuco até o fim para não entregar o governo e fazer as reformas, e as ruas se sublevam, tanto do lado dos partidários dele, como do lado do liberalismo, dos constitucionais.
Fazia-se muita panfletagem, mas havia fortes confrontos, prendendo pessoas com muita violência. Foi um momento crucial de nossa história, em que vemos como as independências foram diferentes nas províncias. Quando vi o anúncio dessas manifestações de 7 de Setembro de 2021, fiquei lembrando desse momento aqui de nosso estado, com o governador de um lado e os liberais de outro, se atracando, inclusive os que conseguiram a liberdade depois dos problemas de 1817 [Revolução Pernambucana], que saíram da Bahia e foram combater o governador no norte da província, em Goiânia. Aliás, este ano se celebra o bicentenário da Junta de Goiânia, que tentava combater, desestabilizar e que foram verdadeiramente confrontos.
Quando vi o anúncio dessas manifestações de 7 de Setembro de 2021, fiquei lembrando desse momento aqui de nosso estado, com o governador de um lado e os liberais de outro, se atracando
Flavio Cabral
Militares na rua
Luís do Rego botava os militares na rua, enquanto do outro lado os senhores de engenho arregimentavam pessoas para combater. Tudo isso hoje me lembra muito aquele momento conflitante que foi o ano de 1822. No final todo o conflito foi decidido pelas cortes de Lisboa, determinando a saída do governador porque não tinha mais condições de manter governadores régios nas províncias da América Portuguesa. Muitas vezes olho esse quadro que vivemos e penso nessa conexão lá atrás com Pernambuco, numa ocasião que foi bastante difícil.
Valter Pomar – Logo saberemos quantas pessoas vão atender a convocatória do bolsonarismo. Eles estão fazendo um esforço imenso – nas redes, nos quartéis, nas igrejas e empresas aliadas – e estão difundindo um discurso agressivo e golpista. Portanto, é possível que haja bastante gente nas manifestações deles e é possível que cometam atos de violência. Não devemos descartar, inclusive, que promovam “atentados com falsa bandeira”, promovidos pela extrema direita mas atribuídos à oposição.
Da nossa parte, devemos nos esforçar para que em todas as cidades do país haja manifestações pelo Fora Bolsonaro, preparadas por atividades menores nas periferias, nos locais de trabalho, de moradia, de estudo, nos espaços de cultura e lazer. Quanto maior o comparecimento, maior será a segurança das manifestações. Devemos estimular as organizações partidárias, sindicatos e movimentos a organizarem blocos, que compareçam unidos e identificados aos atos, assim como dispersem em ordem ao final. Devemos contribuir, também, para que todas as manifestações organizem sistemas de comunicação e de registro em vídeo e fotografia dos atos. E para que todas as manifestações contem com equipes que impeçam a ação de provocadores e infiltrados.
Nosso objetivo no dia 7 de setembro não é o de colocar mais pessoas que eles; nossos objetivos são realizar o Grito dos Excluídos, como fazemos desde 1995, e garantir o direito democrático à manifestação
Valter Pomar
Ou seja, além das medidas sanitárias de proteção contra o vírus, é preciso tomar medidas políticas e de segurança contra os cavernícolas aliados do vírus. Nosso objetivo no dia 7 de setembro não é o de colocar mais pessoas que eles; nossos objetivos são realizar o Grito dos Excluídos, como fazemos desde 1995, e garantir o direito democrático à manifestação, ameaçado não apenas por Bolsonaro mas também por governos como o do estado de São Paulo, que tentou impedir que a oposição pudesse se manifestar no dia 7 de setembro.
Marcos Napolitano – Acho que será o retrato de um país ainda muito polarizado e dividido. Embora a extrema direita autoritária não tenha o mesmo apoio social do passado recente, ainda estão muito mobilizados e com apoiadores ativos em setores-chave: polícias militares, lideranças religiosas, comunicadores populares, pequenos empresários, grandes entidades empresariais. O raio social atingido por estes grupos é muito grande, e suas redes de comunicação são muito competentes.
Luiz Werneck Vianna – Na verdade, são tambores de guerra que rufam do lado do governo. Para o governo, a legalidade é sentida como algo muito perigoso e por isso é preciso interromper a legalidade democrática, porque ela se volta naturalmente contra a natureza autocrática desse governo. Esse governo não está satisfeito com o tipo de autoritarismo que tem vivido; ele quer mais. Ele quer ter o controle político e social de tudo na sociedade para fazer não sei bem o quê.
Esse governo não está satisfeito com o tipo de autoritarismo que tem vivido; ele quer mais. Ele quer ter o controle político e social de tudo na sociedade para fazer não sei bem o quê
Luiz Werneck Vianna

José de Souza Martins – Os apelos autoritários em favor de uma exibição de força e de poder de dominação de grupos minoritários e alienados poderão levar às ruas aqueles que acham que patriotismo é usar cueca verde e amarela. Os que se acham os únicos patriotas da pátria. É possível que até hostilizando os que têm sido satanizados como antipatriotas porque adversários da prepotência e da estupidez na política.
Talvez seja o momento de pensar na pátria em silêncio, em casa e nas igrejas, já que será feriado. Como um ato de contrição e de reflexão crítica sobre nossos erros políticos e nossos impasses históricos. A pátria está em perigo porque mergulhada no abismo da incerteza, dos desmandos do mau governo, da falta de um projeto de nação, de um reconhecimento das radicais necessidades dos simples, dos desvalidos, dos socialmente excluídos, dos famintos, das famílias em número cada vez maior, de adultos e crianças, que dormem ao relento, sob frio e chuva.
Seria muita hipocrisia falar em pátria e em celebrar a pátria que reduz a isso multidões de pessoas inocentes. No Brasil, a categoria povo é cada vez mais a categoria de vítima.
Esta não é uma hora de alegria e festa. Pela primeira vez em toda a história do Brasil independente esta é uma hora de pranto e de dor. Uma hora de medo.
Esta não é uma hora de alegria e festa. Pela primeira vez em toda a história do Brasil independente esta é uma hora de pranto e de dor. Uma hora de medo
José de Souza Martins
IHU – Como construir um Brasil não só independente, mas também democrático e igual?
Flavio José Gomes Cabral – Este talvez seja o grande desafio, aquilo que não conseguimos. A Independência a gente comemora, está lá, mas cadê essa igualdade, cadê essa democracia? Não aguento ouvir essa história de que ‘nossa democracia é jovem’. Nossa democracia não é jovem, pelo amor de Deus! Há momentos em que ela tem rupturas, para e instaura determinados governos com momentos autoritários, ditaduras. Agora, inclusive, vivemos um momento bastante autoritário.
Isso me mostra ainda uma fragilidade de nossa democracia. Há momentos que nosso mandatário joga, bate, grita para ver a reação. E acho que, muitas vezes, os congressistas de modo geral param. Podemos dizer que se está fustigando um golpe, etc., mas precisamos de um Estado mais sólido para enfrentar esses desafios. Porque paira um medo de uma ditadura, com alguma aliança que pode ter por trás e de que não temos muita clareza. A democracia está aí, mas há medos sobre essa democracia em determinados momentos.
Não aguento ouvir essa história de que ‘nossa democracia é jovem’. Nossa democracia não é jovem, pelo amor de Deus!
Flavio Cabral
Também, em alguns momentos, se usa da ideia da liberdade para extrapolar a própria democracia. É complicado e o resultado disso é o que vemos aí: temos uma exclusão muito grande. Muitas pessoas debatem esses problemas que vivemos hoje, mas muitas não. Mesmo com toda mídia temos pessoas que não falam ou não querem falar, porque também nem sempre quem cala está consentindo. Por tudo isso acho que somos um povo que ainda precisa de mais mobilização, defender seus direitos, dizer ‘não, basta!’. E os excluídos? Esses, então, seguem desde 1822, ou ainda antes, sem ter seus lugares na sociedade ou não se deixa que eles tenham seus lugares de fala. O que sempre me vem à cabeça no 7 de Setembro é a questão: no que avançamos e no que retrocedemos?
Valter Pomar – No curto prazo, derrotando o bolsonarismo e o neoliberalismo, elegendo Lula e implementando um programa de transformações democrática e popular. Mas isso não basta: nosso país precisa de uma revolução, nosso país precisa de socialismo. Não há outra maneira de garantir soberania, liberdade, igualdade e desenvolvimento em favor das maiorias.
Nosso país precisa de uma revolução, nosso país precisa de socialismo. Não há outra maneira de garantir soberania, liberdade, igualdade e desenvolvimento em favor das maiorias
Valter Pomar
Para isso, não bastam alguns anos de governos progressistas, que fazem políticas públicas populares, para depois serem derrubados por golpes que fazem a história andar para trás. Nossa classe dominante não se contenta em manter o país submisso aos Estados Unidos, optou também por um modelo primário exportador, que ademais serve de estufa para os capitais financeiros.
Desde 1980 está em curso uma desindustrialização que – apesar dos esforços em sentido contrário feitos entre 2003 e 2016 – destruiu boa parte do que foi feito depois da revolução de 1930. E sem uma potente indústria, o Brasil não tem como garantir empregos, salários, aposentadorias e políticas públicas de bem-estar social para os mais de 210 milhões de habitantes de nosso país. Sem destruir o pacto das elites, sem abandonar o modus operandi da conciliação e da transição pelo alto, sem uma versão plebeia da revolução de 1930, continuaremos sendo um país em que boa parte da população é periodicamente lançada no desemprego, na fome, no desespero, sem o direito nem mesmo de ter acesso à moradia, água limpa, saneamento básico.
Marcos Napolitano – Esse é um desafio histórico muito grande, e que sofreu retrocesso nos últimos anos. A crise conjuntural de 2016, ao lado do déficit histórico – institucional e social – em relação aos direitos civis e direitos humanos, abriram espaço para aventureiros, ressentidos e autoritários de extrema direita. Mesmo com os avanços das políticas públicas que tivemos desde 1995, mas sobretudo entre 2003 e 2016, corrupção, fisiologismo político e desigualdade social crônica permaneceram como chagas nacionais.
Este quadro alimentou muitos ressentimentos em relação à política, sobretudo na classe média conservadora, seduzida pelo populismo autoritário da extrema direita, também apoiado por amplos setores da elite econômica. Estes segmentos perceberam que a crise de 2016 era a janela de oportunidades para destruir as políticas públicas de distribuição de renda e inclusão, e impor reformas econômicas antipopulares. Aliás, eles conseguiram boa parte dos seus objetivos, apesar da pandemia, que exigiu uma nova presença do Estado na vida social.
Portanto, o desafio para construir um país mais democrático e igual passa pela revalorização da racionalidade, institucionalidade e decoro na política, pela construção de consensos civilizatórios mínimos entre setores da esquerda e da direita republicana e liberal visando reconstruir as políticas públicas voltadas para alguma inclusão social e isolar – política e institucionalmente falando – o autoritarismo de extrema direita, que hoje é a grande ameaça à democracia. Inclusive à instável e incompleta democracia liberal que temos desde 1988.
O desafio para construir um país mais democrático e igual passa pela revalorização da racionalidade, institucionalidade e decoro na política, pela construção de consensos civilizatórios mínimos entre setores da esquerda e da direita republicana e liberal visando reconstruir as políticas públicas voltadas para alguma inclusão social e isolar o autoritarismo de extrema direita
Marcos Napolitano
Luiz Werneck Vianna – Primeiro de tudo, derrotar e deslocar esse regime estúpido e grosseiro que nos assola e, a partir daí, tentar reconstituir os nexos, os laços na sociedade no sentido de fortalecer e dar vida nova às instituições que têm sido tão importantes nessa hora de resistência democrática.
As lutas igualitárias virão daí, das instituições democráticas, da organização popular, do voto, da expressão da vida da sociedade democrática e livre. A igualdade vem daí; não vem por um decreto. É um processo, um acúmulo de forças, de uma sociedade como a brasileira que nasceu autoritária, sob o signo da escravidão e do latifúndio, e até hoje não se libertou desses estigmas e dessas presenças nefastas na nossa vida.
José de Souza Martins – Fazer desta hora de incerteza um momento de oportunidade para o desenvolvimento de uma autoconsciência social crítica, isto é, de superação da euforia sem raízes na realidade contraditória que nos faz cada vez mais muito menos do que somos, do que podemos ser e do que queremos ser. Do que é justo que sejamos.
IHU – Em 2022 celebraremos 200 anos da Independência. Quais são as expectativas para o próximo ano?
Flavio José Gomes Cabral – É um ano que coincide com a data celebrativa e de grandes eleições que vão movimentar o país. Será um momento conturbado, que já se mostra pelo que vemos agora. Serão momentos difíceis, de se recorrer a tribunais, de muitas brigas para poder ganhar as eleições. E tudo é muito complicado.
Também não sei se teremos programação governamental em comemoração aos 200 anos. Lembro que, quando jovem, acompanhei o auê, no governo Médici, dos 150 anos da Independência, com desfiles, inclusive trouxeram os restos mortais de D. Pedro para o Brasil, que desfilou por todos os estados até ser levado ao Ipiranga. Quer dizer, o Estado fez a festa, envolveu todo mundo num momento difícil que se vivia, em plena ditadura Médici. Assim, a festa era vista como um bálsamo. Então é um caminho de mão dupla, pois se por um lado se fica alegre, também se coloca muita coisa debaixo do tapete. Agora, temos praticamente os mesmos problemas.
Em outro sentido, o trabalho que a academia tem feito é bacana, e ainda precisamos avançar mais com a historiografia. Este é nosso trabalho de historiadores e historiadoras, avançar com a historiografia, estudar as independências nos estados, ver o que foi escrito. Estamos sempre fazendo revisões, mas é um campo que tem sido muito estudado, em que se avança muito. Gosto muito dessa área, é o que trabalho aqui desde Pernambuco. É um momento bacana para fazermos essas reflexões. Enfim, será um ano tenso e espero que possamos sair dessa sem grandes atropelos.
Valter Pomar – Minha expectativa é que haverá muitos conflitos e que vai triunfar quem tiver mais força nas ruas. Há uma crise no mundo, há uma crise em nosso país, crises múltiplas. E há no governo uma extrema direita, apoiada pelo partido militar e por outras forças reacionárias, grupos que já demonstraram não estar de brincadeira. Eles não pretendem perder a eleição e farão tudo para evitar isso, inclusive se necessário colocando em questão as próprias eleições.
Neste sentido, a luta pelo impeachment de Bolsonaro continua sendo fundamental, pois cada dia a mais deste cavernícola no governo é um dia a mais de conspiração contra o povo, contra a soberania, contra o desenvolvimento e contra as liberdades. As pesquisas mostram que, se as eleições fossem hoje, Lula venceria. Mas as eleições não são hoje e a classe dominante possui muitas alternativas, desde apoiar Bolsonaro de novo, passando por forjar uma “terceira candidatura”, até mudar as regras do jogo, por exemplo via o tal semipresidencialismo.
Portanto, 2022 não será como 2002; e mesmo que tudo corra como desejamos, os problemas que enfrentaremos serão muito maiores do que os vividos entre 2003 e 2006. Logo, é preciso guarda alta, disposição de luta e clareza sobre o que está em jogo. Até porque, para os Estados Unidos é fundamental ter o Brasil como aliado na batalha que os gringos travam contra a China. Bolsonaro é parte do problema, mas nossos inimigos são muitos. Podemos triunfar, mas para isso é preciso saber que as eleições serão como uma guerra.
A depender do que acontecer, nosso bicentenário de Independência poderá significar um novo começo ou nosso atestado de óbito como coletividade nacional, caso a extrema direita ganhe as eleições, e tenhamos mais um mandato de terra arrasada e inapetência administrativa
Marcos Napolitano
Marcos Napolitano – Tenho esperanças de que as eleições possam mudar o quadro político atual. Mas não tenho tanta certeza disso. Há vários fatores que podem ajudar a extrema direita a ser reeleita: o antipetismo/antilulismo visceral (ainda muito forte entre eleitores da classe média), a dificuldade da esquerda petista e dos liberais em estabelecer coalizões eleitorais viáveis entre si (mesmo no segundo turno), a permanência de um núcleo social fidelizado da extrema direita que poderá criar factoides para tumultuar o ambiente político e disseminar fake news para iludir o eleitor.
A depender do que acontecer, nosso bicentenário de Independência poderá significar um novo começo ou nosso atestado de óbito como coletividade nacional, caso a extrema direita ganhe as eleições, e tenhamos mais um mandato de terra arrasada e inapetência administrativa. Hoje, eu não arriscaria um palpite do que vai acontecer, mas ao menos acho que o debate nacional será intenso. Tomara que seja esclarecedor e produtivo, mas eu também tenho minhas dúvidas quanto a isso.




























































Luiz Werneck Vianna – É difícil saber. Prever, neste país, é muito difícil. Aliás, como se tem dito frequentemente, o passado aqui muda também a cada dia. Não dá para prever um passado que não se consegue reconstituir; está sempre sujeito a novas narrativas.
Eu não quero manifestar um otimismo, mas acho que já podemos dizer que a sociedade demonstrou – e vem demonstrando – uma forte capacidade de resistência ao ver as suas conquistas destruídas. Esse é o caminho que sinaliza para o futuro.
Agora, quem será o candidato à presidência da República, sabe-se lá. Depende ainda, sobretudo, de como vamos assediar esse regime autoritário, minando as suas bases que estão, pelo visto, bastante minadas, para abrir caminho para conquistas mais interessantes, avançadas. Quem sabe, um candidato expresse melhor essas tendências e encontra essa possibilidade de vocalização. Acho que boa parte da sociedade está torcendo por isso e está procurando essa solução.
Qualquer que seja ela, a celebração de 2022 será o réquiem da pátria, a terra do brasileiro expatriado
José de Souza Martins
José de Souza Martins – Todos os anos neste dia refaço criticamente aquela imagem monumental do quadro de Pedro Américo que, no Museu do Ipiranga, em São Paulo, celebra o momento da Independência. Todos os anos.
Padeço porque aquele quadro é uma mentira triste. Conheço palmo a palmo o trajeto do retorno de Dom Pedro, de Santos a São Paulo, naquela tarde de 7 de setembro de 1822. Sei até nomes de modestos lavradores e tropeiros que moravam à beira daquele trecho da estrada, mamelucos, antigos índios administrados, libertados em 1757. Gente bem brasileira. Síntese dos muitos que ainda somos. Nasci e cresci naquela região. Li os testemunhos dos que acompanhavam o príncipe herdeiro na viagem.
Ele não estava napoleonicamente vestido com aquele fardamento de gala, coberto de medalhas. Estava vestido com uma fardeta. Estava doente e abatido. Não estava montado naquele cavalo de raça, monumental. Vinha montado numa mulinha baia, que era assim que se viajava naqueles tempos.
No quadro, o povo virou soldado, o regente virou imperador, a mulinha que carregava o príncipe no lombo, virou cavalo de raça, o punctun do quadro é o não somos da Independência.
Aquele quadro nos diz que o verdadeiro povo brasileiro não cabia no imaginário da Independência, que não tínhamos competência para criar uma nação altiva e independente. A mulinha do 7 de setembro foi abandonada pela pátria no próprio ato do nascimento da nação. Ela não era o que queríamos ser. Acabamos sendo uma pátria sem povo nem soberania, uma pátria de parada, de desfile.
Qualquer que seja ela, a celebração de 2022 será o réquiem da pátria, a terra do brasileiro expatriado. Será um dia de fome e sede de justiça, um dia tristemente de um verde e amarelo desbotado pela cobiça de poucos, pelo afã de riqueza e poder da minoria sem escrúpulo.
Provavelmente, será o dia de decisão da eleição de outubro. Porque nesse dia teremos a oportunidade de nos vermos no espelho do que não somos.
Me preocupo mais com certas atitudes de setores da esquerda, tipo não defender o Fora Bolsonaro, tipo não querer fazer manifestações de rua, tipo propor não fazer o Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro, tipo achar que 2022 está garantido etc. Acho que falta lógica para estes setores “quietistas” da esquerda
Valter Pomar
IHU – Deseja acrescentar algo?
Valter Pomar – Nos últimos meses vi alguns setores questionando por quais motivos o povo brasileiro não estaria fazendo o mesmo que fez, recentemente, parcela do povo chileno, paraguaio, colombiano e até parte do estadunidense, para citar só estes casos. Acho este um tema muito interessante, mas confesso que me preocupo menos com a atitude do povo e me preocupo mais com certas atitudes de setores da esquerda, tipo não defender o Fora Bolsonaro, tipo não querer fazer manifestações de rua, tipo propor não fazer o Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro, tipo achar que 2022 está garantido etc. Acho que falta lógica para estes setores “quietistas” da esquerda.
Pois é óbvio que, para dar um exemplo apenas, se aceitarmos ser tirados da rua agora, o que impediria a extrema direita de usar o mesmo método a partir do 8 de setembro até a eleição presidencial? Ou alguém acha que vamos ganhar a eleição, sem fazer campanha? Ou alguém acha que a campanha eleitoral será tranquila? Ou alguém acha que a extrema direita não vai dobrar a aposta?
O caso é o seguinte: é preciso que a esperança vença o medo desde agora, não apenas na eleição de 2022. Só uma imensa mobilização popular derrotará o bolsonarismo e o neoliberalismo. É verdade que, para haver mobilização popular, não basta que a esquerda dê o exemplo. Mas se a orientação da esquerda se limitar a um “aguarde em casa e venha votar”, o desfecho será nossa derrota. Por isso dia 7 de setembro estarei nas ruas. Sabendo dos riscos. Mas como já disseram, não se derrota Al Capone com Woodstock. Muito menos com WO.
Leia mais
- 199 anos. 07 de setembro e um Brasil entregue: a quem?
- Não devemos recuar de ir às ruas dia 7 de setembro
- 7 de Setembro. Uso da Força Nacional?
- O objetivo das manifestações de 7 de setembro não é manifestar apoio a Jair Bolsonaro. É para invadir o STF e o Congresso, afirma editorial
- “Ventos de confrontação”, avalia general sobre atos para o 7 de setembro
- 7 de setembro – mensagens criminosas convocando para manifestações pró-Bolsonaro - Frases do dia
- 7 de Setembro. Chefe de batalhões da PM paulista convoca para ato bolsonarista
- O Brasil requer a radicalização da democracia e um outro modelo de sociedade e de Estado. Entrevista especial com David Deccache
- O que está em jogo no Brasil não é somente a destruição do futuro, mas a ruptura completa do pacto civilizatório de 1988. Entrevista especial com Luis Felipe Miguel
- No sufoco das crises, o poeta e o historiador nos ajudam abrindo a ‘janela para o pensamento’. Entrevista especial com Heloisa Starling
- A terceira via não passa de uma miragem. Entrevista especial com Eduardo Sterzi
- As três alternativas, segundo Bolsonaro: Preso, ser morto ou a vitória – Frases do dia
- Resgate: derrotar o fascismo e refazer o Brasil
- Dom Leonardo: “É muito importante nos movimentarmos em busca de um Brasil onde todos e todas possam se sentir à vontade”
- Bispos e bispas anglicanas reforçam apoio ao Grito dos Excluídos
- “Vida em primeiro lugar”. Grito dos excluídos em tempos de pandemias
- Doria tira Grito dos Excluídos da Paulista e movimentos sociais criticam
- Ameaças constantes de golpe são busca de salvo-conduto para escapar de prisão, afirma o historiador Christian Lynch
- A sociedade adoeceu. Diante da ameaça do fascismo, Brasil precisa de um artista, um político que seja senhor da arte de tecer algo comum. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- Refundar o PT para solucionar os problemas da esquerda é uma ilusão. Entrevista especial com Valter Pomar
- “A pandemia decifrou e revelou a verdade profunda de Bolsonaro, dos bolsonaristas e do projeto político que estão impondo ao Brasil”. Entrevista especial com José de Souza Martins
- O óbvio ululante – O golpe a galope que não queremos enxergar – Frases do dia
- Renda mínima e desemprego: os desafios nas eleições de 2022. Entrevista especial com Paulo Baía
- ‘A Independência tem muitos passos a dar’: 7 de setembro terá Grito dos Excluídos em Porto Alegre
- 'Custo Bolsonaro' cobra fatura com dólar, inflação, juros e miséria em alta
- “O Bolsonaro boçal é só uma frente. O perigo está no que isso esconde” – Frases do dia
- Entre a arrogância e o paternalismo: a tutela militar sobre instituições do Estado brasileiro. Entrevista especial com Ana Penido
- Um projeto de nação, por favor
Fonte: IHU Online
http://www.ihu.unisinos.br/612628-7-de-setembro-a-historia-de-uma-liberdade-incompleta-e-da-resistencia-de-um-povo-algumas-analises
O que está em jogo no Brasil é ruptura do pacto civilizatório de 1988
Constante deslegitimação das instituições democráticas colocam em xeque a possibilidade de um país menos desigual
Ricardo Machado / IHU Online
O clima de sucessão presidencial no Brasil está posto. Mas a tensão comum desses períodos, apesar de o debate estar bastante adiantado, com mais de um ano de antecedência em relação ao pleito, mostra que a escalada da violência política subiu mais alguns degraus. “Não há dúvida nenhuma de que temos uma combinação bastante perigosa, com uma militância extremista radicalizada e uma liderança disposta a tumultuar e melar o processo. Se não forem, desde já, tomadas medidas a fim de conter a campanha de Bolsonaro e seus principais aliados contra as eleições, nós corremos o sério risco de termos uma escalada de violência política, pior ainda do que aquela ocorrida durante a campanha das eleições de 2018”, pontua o professor e pesquisador Luis Felipe Miguel, em entrevista por telefone ao Instituto Humanitas Unisinos - IHU.
Embora em várias pesquisas Lula apareça como líder das intenções de voto, as condições de um possível retorno e de governo do ex-presidente são bastante diferentes de 20 anos atrás. “Lula chegou à presidência nas eleições de 2002 com o compromisso de se manter em um programa de extrema moderação para não assustar a burguesia e a promessa de pacificar o país, por meio da inclusão social, sem afetar os privilégios dos grupos minoritários”, explica.
No entanto, explica o professor, a margem de manobra para que um hipotético governo Lula promova políticas compensatórias de combate à pobreza é bastante adversa. “O estado brasileiro foi severamente atingido pelas medidas de redução da sua capacidade de ação tomadas a partir do governo Michel Temer e porque existiu nesse período um processo de retirada brutal de direitos”. A instabilidade democrática não somente coloca em risco o futuro do Brasil, como compromete o pacto firmado com a Constituição de 1988, que, segundo o entrevistado, “apontava na direção de um Estado social, capaz de reduzir o padrão aberrante de desigualdade que impera no Brasil”.
Luis Felipe Miguel é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília - UnB e graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Leciona no Instituto de Ciência Política da UnB, onde coordena o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades (Demodê). Publicou, entre outros, os livros Democracia e representação: territórios em disputa (Editora Unesp, 2014), Consenso e conflito na democracia contemporânea (Editora Unesp, 2017) e Dominação e resistência (Boitempo, 2018).
Confira a entrevista.
IHU – Como o senhor avalia o atual cenário político brasileiro, com ameaças de golpe, tentativas de deslegitimação das urnas eletrônicas e um processo constante de questionamento e tensionamento entre as instituições?
Luis Felipe Miguel – Bolsonaro é um político de baixa competência, que não sabe negociar, que não tem capacidade de agregar e não sabe trabalhar coletivamente, como prova, aliás, sua incapacidade de formar um partido. Toda sua estratégia consiste em manter elevado o nível da tensão política. Graças a isso sua base fica mobilizada agressivamente e mantém os adversários na defensiva. No momento em que as chances eleitorais dele estão claramente se reduzindo para 2022, ele está optando por aumentar ainda mais o nível desta tensão que já foi mantida alta durante todo o mandato. Claramente está apostando em uma virada de mesa, ou seja, um novo golpe, a contestação do resultado das eleições de 2022 ou mesmo a tentativa de impedir a realização das próximas eleições. Ou está apostando em garantir que após a sua provável derrota nas urnas ele terá uma base militante minoritária, mas muito aguerrida, capaz de garantir que ele e seus familiares não sejam atingidos pelas medidas punitivas às quais certamente fazem jus, dadas todas as evidências recolhidas até aqui.
Se não forem, desde já, tomadas medidas a fim de conter a campanha de Bolsonaro e seus principais aliados contra as eleições, nós corremos o sério risco de termos uma escalada de violência política – Luis Felipe Miguel Tweet
IHU – Estando a mais de um ano das eleições, o que é possível projetar sobre o próximo pleito, senão do resultado, ao menos de suas condições de realização?
Luis Felipe Miguel – Sobre as eleições do próximo ano, creio que a única coisa que se pode dizer com algum grau de certeza é que, infelizmente, serão realizadas em um contexto de muita tensão. O bolsonarismo tem trabalhado para que não tenhamos uma campanha eleitoral com o mínimo de civilidade, de discussão sobre as alternativas para o país, sobre o significado das candidaturas. O que ele está fazendo é, deliberadamente, produzir suspeitas infundadas sobre o processo eleitoral, ao mesmo tempo que insufla sua base – composta por uma parte importante de homens armados – contra as candidaturas alternativas à dele, em particular aquela que é favorita neste momento, a do ex-presidente Lula.
Não há dúvida nenhuma de que temos uma combinação bastante perigosa, com uma militância extremista radicalizada e uma liderança disposta a tumultuar e melar o processo. Se não forem, desde já, tomadas medidas a fim de conter a campanha de Bolsonaro e seus principais aliados contra as eleições, nós corremos o sério risco de termos uma escalada de violência política, pior ainda do que aquela ocorrida durante a campanha das eleições de 2018.
Sobre as eleições do próximo ano, creio que a única coisa que se pode dizer com algum grau de certeza é que, infelizmente, serão realizadas em um contexto de muita tensão – Luis Felipe Miguel. Tweet
IHU – A pesquisa da XP/Ipespe divulgada no dia 17/8 indica que, no primeiro turno, Lula tem vantagem sobre todos candidatos e que, no segundo turno, tanto Lula quanto Ciro são capazes de vencer Bolsonaro. O que essa pesquisa sugere sobre o atual contexto político?
Luis Felipe Miguel – Este cenário tem reaparecido em todas as pesquisas mais recentes. Não há dúvidas de que há hoje um claro favoritismo do ex-presidente Lula, não apenas pontuando com larga vantagem sobre os adversários, particularmente sobre Bolsonaro no primeiro turno, ganhando com larga vantagem no segundo turno, como também existe uma tendência de queda da rejeição ao nome do ex-presidente Lula. Parece que o fantasma do antipetismo, que foi muito importante para garantir a vitória da extrema direita em 2018, e que ainda é apresentado por alguns candidatos que tentam se viabilizar como sendo um fator determinante na eleição, começa a ser superado.
Creio que vários fatores contribuíram para isso e gostaria de citar três em particular.
1) O primeiro, claro, é o desastre absoluto do governo resultante da campanha antipetista, que é o governo Bolsonaro. Um governo que trouxe ao país um rastro de destruição e demolição do Estado brasileiro, das instituições democráticas, além, é claro, da nossa contagem de centenas de milhares de mortos, em grande medida resultado da condução absolutamente irresponsável da pandemia.
2) O outro fator é a desmoralização da Operação Lava Jato. Desde sempre pesavam suspeitas mais do que sérias sobre a condução da Lava Jato por Sergio Moro e Deltan Dallagnol, além de outros participantes da força-tarefa. A partir sobretudo das revelações feitas pelo The Intercept Brasil, ficou mais do que evidente que a operação foi uma conspiração contra a democracia brasileira, e o ex-presidente Lula foi o principal alvo desta conspiração. Isso claramente pode reverter uma parte da antipatia construída contra ele.
3) O terceiro motivo se liga a quando Lula é finalmente solto de sua prisão política e arbitrária e, depois de recuperar os seus direitos políticos, consegue, rapidamente, se colocar diante do país como sendo a grande esperança de superação da situação em que nos encontramos. Naquele momento o Brasil testemunhava o pior momento da pandemia, e isso em uma situação em que as outras lideranças da oposição, particularmente as de direita, que o governador (João) Doria buscou encarnar em primeiro lugar, mostraram-se pouco capazes de conter o desastre que o bolsonarismo representava. Naquele momento Lula se tornou capaz de ser, tal como havia sido nas eleições de 2002, uma esperança de salvação para o país. Isso está se refletindo nas pesquisas de opinião.
Claramente é impossível fazer previsões faltando mais de um ano para o pleito de 2022, mas Lula entra na campanha eleitoral com essa bagagem de simpatia, novamente portador da esperança popular e isso, sem dúvida nenhuma, faz com que o favoritismo dele tenha um certo grau de solidez.
Acredito ser improvável que um terceiro nome alce voo, exceto na hipótese, infelizmente remota, do impedimento de Bolsonaro
Luis Felipe Miguel
IHU – Aliás, como o senhor avalia a possibilidade de uma terceira via? Quais são as condições hoje e quais as possibilidades de mudança até as eleições?
Luis Felipe Miguel – Acredito ser improvável que um terceiro nome alce voo, exceto na hipótese, infelizmente remota, do impedimento de Bolsonaro. Ou seja, de que ele não possa apresentar sua candidatura, quando, aí sim, há a possibilidade de um outro nome à direita se colocar. Mas, mantida a candidatura de Bolsonaro, parece pouco provável que a direita tradicional consiga colocar outro nome forte na disputa. Existem nomes que têm estrutura, que estão há muito tempo presentes e têm ativos a seu favor, como é o caso do governador Doria, que dirige o estado mais rico do Brasil, se projetou como o pai da vacina brasileira e tem a simpatia da mídia corporativa e de parte do empresariado, mas, apesar disso, continua patinando em torno dos 5% das intenções de voto. É muito improvável que um candidato como Doria aumente sua aceitação, pois mesmo com todos esses recursos não consegue ultrapassar a linha em que está.
Por outro lado, a tentativa de lançar um outsider como foi tentado com Luciano Huck, que acabou retirando sua candidatura da disputa – e, às vezes, aparecem nomes de outros apresentadores de televisão –, é um caminho muito mais difícil quando o país vive a ressaca da antipolítica. Quando os candidatos que procuravam representar um rechaço à classe política foram testados, deu no que deu. Desse ponto de vista, a possibilidade de que surja um nome surpresa me parece bem pouco auspiciosa.
Sobra o caso do candidato Ciro Gomes, que tenta se colocar como o nome da terceira via, inclusive se colocando de uma maneira bastante agressiva e buscando se distanciar da esquerda representada pelo PT e por Lula. A questão é que Ciro, além das dificuldades já conhecidas por quem acompanhou todas suas outras tentativas de chegar à presidência da República, enfrenta hoje o fato de que se descredenciou da esquerda, exatamente por não ter se engajado no segundo turno contra Jair Bolsonaro, como todos nós sabemos, e preferiu ir a Paris. Ao mesmo tempo a direita mantém uma desconfiança de que ele, embora tenha tido sua origem política na Arena, há muito tempo buscou se colocar como um político com perfil à esquerda. As pesquisas não indicam somente um movimento momentâneo, mas algo que está se cristalizando no cenário político eleitoral. Isso tudo nos leva a crer que a tendência é Ciro ficar abaixo do seu teto histórico que é de 12% dos votos, o que é insuficiente, portanto, para ele chegar ao segundo turno.
A questão é que Ciro, além das dificuldades já conhecidas por quem acompanhou todas suas outras tentativas de chegar à presidência da República, enfrenta hoje o fato de que se descredenciou da esquerda
Luis Felipe Miguel
IHU – Quais são as diferenças entre as atuais condições político-eleitorais de Lula para o pleito de 2022 em comparação com 2002? Em suma, qual o clima político que vivemos em relação a Lula?
Luis Felipe Miguel – Lula chegou à presidência nas eleições de 2002 com o compromisso de se manter em um programa de extrema moderação para não assustar a burguesia e a promessa de pacificar o país, por meio da inclusão social, sem afetar os privilégios dos grupos minoritários. Foi o que ele tentou fazer. Foi esse o grande programa do lulismo no poder. No entanto, apesar de toda essa prudência, com reformas tímidas, controladas, autolimitadas, que Lula e depois a Dilma introduziram, acabaram se desencadeando processos na sociedade brasileira que incomodaram os grupos dominantes.
A redução da vulnerabilidade dos mais pobres, dos trabalhadores, necessariamente aumenta a sua capacidade de barganha diante dos grupos sociais dominantes. Foi contra isso que foi desferido o golpe de 2016, que teve o claro sentido de devolver o país às condições ainda mais gritantes de desigualdade social que vigoravam antes dos governos petistas. No momento o presidente Lula recupera a interlocução com vários dos grupos que foram responsáveis pelo golpe que retirou o PT do poder. Ele parece querer reconstruir as condições de governabilidade que lhe permitiram exercer o mandato após a vitória em 2002.
A redução da vulnerabilidade dos mais pobres, dos trabalhadores, necessariamente aumenta a sua capacidade de barganha diante dos grupos sociais dominantes. Foi contra isso que foi desferido o golpe de 2016 – Luis Felipe Miguel Tweet
No entanto, a margem de manobra para que ele promova políticas compensatórias de combate à pobreza extrema está muito diminuída. O estado brasileiro foi severamente atingido pelas medidas de redução da sua capacidade de ação tomadas a partir do governo Michel Temer e também porque existiu nesse período um processo de retirada brutal de direitos. Em suma, o pacto que Lula fez em 2002, caso seja refeito agora, precisará ser feito em condições muito mais precárias. A estratégia de nenhum enfrentamento que o PT adotou nos governos Lula e Dilma parece, neste momento, estar fadada ao fracasso. As classes dominantes brasileiras mostraram que estão dispostas a aproveitar a correlação de forças favorável a elas e romper com os acordos que foram feitos com os representantes das classes dominadas. Tendo a acreditar que se um novo governo de centro-esquerda no Brasil não investir mais na mobilização de suas bases para garantir melhor correlação de forças para o progresso social, nós teremos uma reedição muito aviltada do lulismo que imperou a partir da vitória nas eleições de 2002.
IHU - Em seu texto publicado na FSP – Favorito em 2022, Lula pode normalizar desmonte do país se ceder demais – o senhor afirma que “Lula é a melhor promessa de pacificação do país”. Por quê?
Luis Felipe Miguel – Creio que são dois os motivos. Primeiro, por causa do perfil de Lula, que é um político voltado à negociação, à produção de consensos, um político que faz questão de manter abertas as portas do diálogo com todas as forças. Essa é uma característica que Lula traz desde o sindicalismo e que faz dele a pessoa, certamente, com as maiores condições e com a maior habilidade para conduzir o país a um cenário de disputa política mais civilizado. Mas, também, pelo fato de que Lula, como líder do PT e líder popular, que foi e é, foi o principal alvo dos retrocessos que o Brasil sofreu nos últimos tempos. Quer dizer, se quisermos simbolizar em uma pessoa a destruição da ordem regida pela Constituição de 88, essa pessoa é o Lula: foi ele quem se tornou um preso político por mais de um ano; ele foi o principal alvo da conspiração contra a democracia, representada pela Lava Jato; ele que foi impedido de disputar as eleições de 2018. Então, simbolicamente, Lula representa uma tentativa de retomada do caminho de construção democrática que foi interrompido com o golpe de 2016.
O pacto que permitiu os governos do PT, o pacto que Lula firmou ao longo de 2002, era um pacto de buscar um caminho de enfrentamento das premências dos mais pobres, mas que evitasse tocar nas vantagens dos privilegiados
Luis Felipe Miguel
IHU - Em contrapartida, o senhor adverte sobre os perigos de a esquerda ceder em nome da “governabilidade”. Quais são os riscos principais?
Luis Felipe Miguel – Creio que este é o risco principal embutido num eventual retorno de Lula à presidência. O pacto que permitiu os governos do PT, o pacto que Lula firmou ao longo de 2002, cujo maior emblema, certamente, é a Carta ao Povo Brasileiro, era um pacto de buscar um caminho de enfrentamento das premências dos mais pobres, mas que, ao mesmo tempo, evitasse tocar nas vantagens dos grupos privilegiados na sociedade. Nós vimos que, mesmo com toda essa prudência, esses mesmos grupos privilegiados se viram atingidos por mudanças que a melhoria das condições dos mais pobres gerou na dinâmica social, a tal ponto que optaram por romper com a ordem democrática, que ocorreu com o golpe de 2016, e esse rompimento foi aprofundado com as sucessivas manobras de exceção e apoio ao bolsonarismo.
No entanto, o pacto que foi feito no início do século não tem como ser recuperado agora; as condições mudaram. O espaço de manobra para um governo democrático, com manifestação popular, está muito reduzido porque o Estado brasileiro tem sido demolido. Todos os nossos instrumentos de intervenção no social, a fim de minorar as desigualdades, foram agredidos pelo subfinanciamento e pela campanha agressiva contra essas políticas, porque a Constituição está funcionando de uma maneira muito precária e porque muitos dos direitos conquistados pelo povo brasileiro foram retirados. Então, nessas circunstâncias, a possibilidade de um governo, por mais bem-intencionado que venha a ser, produzir políticas compensatórias se torna muito menor.
Se não for adotado algum tipo de estratégia que permita o enfrentamento das negociações políticas no Brasil, ou seja, que trabalhe para mudar a correlação de forças e permita que o campo popular se robusteça para os enfrentamentos que serão necessários, o caminho da retomada da democracia no Brasil será um caminho de acomodação a situações ainda piores de desigualdade social. A governabilidade pensada na maneira tradicional se limita à aceitação das barganhas impostas seja pela burguesia, seja pela elite política tradicional. É necessário buscar uma nova forma de ação que combine a busca da negociação nos espaços institucionais com a mobilização das forças sociais que estão interessadas na produção de um país menos desigual, menos injusto e menos violento.
O espaço de manobra para um governo democrático, com manifestação popular, está muito reduzido porque o Estado brasileiro tem sido demolido
Luis Felipe Miguel
IHU - Qual tipo de pacto civilizatório é possível fazer com as elites brasileiras que, sem cerimônias, romperam com o horizonte normativo estabelecido pela Constituição de 1988?
Luis Felipe Miguel – Qualquer pacto com as elites brasileiras tem que estar respaldado na capacidade de mobilização do campo popular. Se não houver capacidade de pressão, se não houver forças organizadas em defesa da igualdade, da democracia, qualquer avanço sempre será frágil e revogável a qualquer momento. É bom lembrar que a democracia não é simplesmente um sistema de regras que resume o sistema político a determinados espaços; é próprio da democracia que as diferentes forças sociais se mobilizem em defesa de seus projetos. A classe dominante nunca deixou de se mobilizar e utilizar recursos extrainstitucionais para fazer valer seus interesses. Ela usa o financiamento privado de campanha, a sua capacidade de definir o investimento. Acontece que o tipo de barganha que foi feito para permitir os governos de centro-esquerda a partir de 2003 contava com o silenciamento da pressão do campo popular. Ficou claro que não é possível aceitar esse silenciamento, porque os grupos dominantes no Brasil não têm nenhum tipo de compromisso com a ordem democrática, não têm nenhum tipo de projeto nacional de desenvolvimento, não têm nenhum tipo de solidariedade com as classes populares. Então, é um pacto que tem de ser baseado numa correlação de forças que seja, desta vez, ao menos, um pouco mais favorável ao campo popular.
Qualquer pacto com as elites brasileiras tem que estar respaldado na capacidade de mobilização do campo popular – Luis Felipe Miguel Tweet
IHU - Aliás, uma eventual vitória de Lula poderia levar o país a um estado de convulsão social? O que é possível vislumbrar sobre uma possível reação dos setores armados da sociedade (polícias, forças armadas e sociedade civil)?
Luis Felipe Miguel – Até o momento, creio que os grupos armados operam muito mais no caminho da ameaça do que, de fato, na busca de um enfrentamento. As Forças Armadas, sobretudo, não têm liderança, não têm unidade para desferir o golpe que vem sendo anunciado ou insinuado há tanto tempo. São Forças Armadas que, por erros na condução da questão militar ao longo de todo o processo de democratização, continuam profundamente antidemocráticas e antipovo, mas elas não têm essa capacidade de ação coordenada, inclusive porque estão divididas em muitos grupos internos e também porque hoje são, em grande medida, motivadas pela vontade de ocupar espaços do Estado brasileiro e se apropriar de vantagens e benesses que a presença nesses cargos proporciona.
Não acredito, no momento, que uma eventual vitória eleitoral de Lula vá levar a esse tipo de reação. Isso é muito mais um fantasma que é utilizado com o objetivo de obter concessões, moderação e uma autocensura das forças populares na elaboração de seu programa, do que propriamente um risco efetivo. O que não quer dizer que as condições para essa ação golpista aberta não possam ser construídas. Então, é necessário, neste momento, muita inteligência por parte dos operadores políticos do campo popular, dos partidos políticos da esquerda e da centro-esquerda, porque é necessário não aceitar as chantagens que essas ameaças colocam e, ao mesmo tempo, não dar gás para que elas, de fato, se tornem uma operação golpista efetiva. A resposta está em organizar na sociedade mobilização suficiente e eficiente para que uma intentona golpista tenha custos elevados para aqueles que tentem deflagrá-la.
As Forças Armadas, sobretudo, não têm liderança, não têm unidade para desferir o golpe que vem sendo anunciado ou insinuado há tanto tempo
Luis Felipe Miguel
IHU - Por fim, de que ordem é o desafio de reverter os desmontes social e de políticas públicas – incluindo o teto de gastos – empreendidos nos últimos anos, desde o governo Temer, no Brasil?
Luis Felipe Miguel – Medidas como o teto de gastos foram uma tentativa dos golpistas vitoriosos de inibir qualquer ação de um eventual novo governo democrático no país. É absolutamente impossível que um governo no Brasil cumpra seus compromissos com a população se ele tem sua ação tão severamente contida por medidas arbitrárias como a Emenda Constitucional que liquidou a possibilidade do investimento público e que, na verdade, reduziu a quase zero a margem para a implementação de políticas sociais. Da mesma maneira, a destruição da estrutura do Estado brasileiro e a privatização irresponsável de muitos órgãos absolutamente estratégicos apresentam o mesmo resultado. Quer dizer, se inviabiliza a possibilidade de que um novo governo aja em favor de prioridades diferentes daquelas do golpismo triunfante que foram, como sabemos, a garantia dos ganhos dos especuladores financeiros em primeiro lugar. A chamada autonomia do Banco Central, a autonomia em relação à vontade popular, com uma submissão explícita ao sistema financeiro, é outra medida. E, por fim, a retirada dos direitos trabalhistas, que torna muito mais difícil para o Estado regular as relações capital-trabalho de uma maneira que proteja, minimamente, a classe trabalhadora. Então, é absolutamente imperativo desfazer esse conjunto de medidas a fim de retomar o caminho de construção de um Brasil mais democrático e menos injusto. Quando eu falo em retomada do pacto constitucional de 88, isso tudo está incluído, porque o pacto apontava na direção de um Estado social, capaz de reduzir o padrão aberrante de desigualdade que impera no Brasil.
Quando eu falo em retomada do pacto constitucional de 88, isso tudo está incluído, porque o pacto apontava na direção de um Estado social, capaz de reduzir o padrão aberrante de desigualdade que impera no Brasil – Luis Felipe Miguel Tweet
Agora, vemos, claramente, uma tentativa de blindar essas políticas, de retirar do debate público a necessidade de desfazê-las; elas são apresentadas sistematicamente como artigos da lei, quer dizer, algo que é um pecado até mesmo questionar. Vemos isso claramente em muitos formadores de opinião, nos editoriais e colunistas da imprensa burguesa: tudo bem ser oposição ao governo Bolsonaro, porque é difícil não ser oposição quando se tem o mínimo de racionalidade, mas essa oposição não pode ir ao ponto de questionar o desmonte do Estado, das políticas sociais, dos direitos. Então, a primeira coisa que tem de ser feita é recolocar no debate público essa questão e mostrar que existe uma relação necessária entre os ataques à democracia e os ataques aos direitos, que existe uma linha de continuidade entre impedir a expressão da vontade popular e impedir que os interesses populares sejam levados em conta no processo de tomada de decisão. É claro que não é uma tarefa fácil, mas um governo que chegue ao poder legitimado pela necessidade de superar o desastre do bolsonarismo, legitimado por uma vitória eleitoral, tem força para colocar isso na pauta, para exigir que esses malfeitos sejam revertidos.
É por isso que eu digo: neste momento, a centro-esquerda e, particularmente, o ex-presidente Lula, têm condições de negociar numa posição que é também uma posição de força, porque eles são necessários a fim de pacificar o país, retomar uma convivência minimamente civilizada no Brasil. No caminho que estamos indo, estamos vendo o colapso do Brasil como nação. É para isso que o projeto de Bolsonaro e Guedes aponta. Então, todos aqueles que não apostam no colapso, incluindo setores das classes dominantes e da elite política tradicional, têm interesse numa recomposição. Essa recomposição passa, necessariamente, pelo PT e por Lula. O que o PT e Lula podem exigir? O compromisso com a revogação da agenda de desmonte do Estado social que foi colocada em prática nos últimos cinco anos.
Leia mais
- Dois anos de desgoverno – criminoso, antinacional e liberticida. Artigo de Luis Felipe Miguel
- O “populismo” não é a solução. Artigo de Luis Felipe Miguel
- Por que Bolsonaro não cai? Artigo de Luis Felipe Miguel
- “Estamos vivendo o capítulo brasileiro da falência global da democracia liberal”. Entrevista especial com Luis Felipe Miguel
- As três alternativas, segundo Bolsonaro: Preso, ser morto ou a vitória – Frases do dia
- Brasil, refém do temperamento vesânico do pior presidente que já governou o País – Frases do dia
- Sim, Bolsonaro venceu! Tornou-nos indiferentes ao odor nauseabundo de morte - Frases do dia
- Tanques nas ruas. Tristeza, impotência e constrangimentos – Frases do dia
- Um presidente contra a Constituição, rumo à tirania - Frases do dia
- ‘Já é hora de Lula voltar a se dirigir diretamente a quem tem fome’, afirma ex-assessor de imprensa do PT
- Somente erros gigantescos da oposição viabilizam Bolsonaro em 2022 - Frases do dia
- Centrão se divide e ala já admite derrota de Bolsonaro em 2022
- O “Auxílio Brasil” e a aposta de Bolsonaro para 2022
- Bolsonaristas e petistas correm atrás de voto decisivo dos evangélicos em eleições de 2022
- Bolsonarismo como identidade coletiva, a lógica sacrificial e a brutalização dos afetos. Entrevista especial com Rodrigo Nunes
- Voto impresso e os riscos à democracia – indo do ruim ao pior
- Libertar-se das camisas de força
- Da desinformação à corrupção: estratégias do governo Bolsonaro na pandemia. Entrevista especial com Isabela Kalil
- Jornal francês mostra como os EUA usaram a "lava jato" para seus próprios fins
- Qual é o ponto?
- O cálculo político de Ciro Gomes
- A terceira via não passa de uma miragem. Entrevista especial com Eduardo Sterzi
- "Não tem espaço para reforma dentro da ordem, porque as classes dominantes brasileiras não toleram qualquer mudança". Entrevista especial com Fábio Luís Barbosa
- Se Lula não tivesse sido vítima de conspiração, o Brasil teria tido um futuro diferente
- Bolsonaro detém o comando, mas não lidera as Forças Armadas
- O óbvio ululante – O golpe a galope que não queremos enxergar – Frases do dia
- A fratura da classe dominante. Artigo de Valério Arcary
- O verdadeiro inimigo da democracia é a eterna desigualdade
'Não há genocídio que não tenha sido precedido por discursos de ódio'
Em entrevista exclusiva ao portal Pública, Alice Wairimu Nderitu, do Escritório para a Prevenção do Genocídio da ONU explica por que o Brasil está no radar da instituição
IHU Online / Agência Pública
Garimpeiros ilegais atacando indígenas Yanomami, na região de Palimiu (RR), e Munduruku, em Jacareacanga (PA). A tentativa de regularizar a mineração nas terras indígenas (TIs), sem consulta prévia aos afetados. A total paralisação dos processos de demarcação de TIs pelo Ministério da Justiça e pela Funai – que vem sistematicamente atuando contra a proteção jurídica dos territórios. A falta de ação do governo federal para proteger as populações indígenas durante a pandemia de Covid-19.
A forma como a gestão de Jair Bolsonaro lida com as populações indígenas vem chamando atenção da comunidade internacional e provocando reações de organismos de proteção aos direitos humanos. Uma denúncia contra Bolsonaro por incitar o genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas do Brasil está sob inédita análise preliminar do Tribunal Penal Internacional (TPI), e outras representações contra o mandatário foram apresentadas ao órgão. Paralelamente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) emitiu uma série de medidas cautelares, solicitando que o Brasil aja para proteger diversos povos indígenas, incluindo os Yanomami e Ye’kwana, os Munduruku, além dos Guajajara e dos Awá.
Em junho, o Brasil sob Bolsonaro alcançou mais um feito inédito: pela primeira vez, o país foi citado no âmbito do Escritório para a Prevenção do Genocídio e a Responsabilidade de Proteger da Organização das Nações Unidas (ONU). A menção foi feita pela conselheira especial para a Prevenção do Genocídio, Alice Wairimu Nderitu, em seu discurso na última Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Um mês antes, outros oito relatores especiais das Nações Unidas já haviam cobrado explicações do Itamaraty sobre ataques contra povos indígenas no país.
Em sua fala perante o Conselho, a queniana destacou estar “particularmente preocupada com os povos indígenas” na região das Américas. “No Brasil, Equador e outros países, eu peço aos governos para proteger comunidades em risco e garantir justiça para crimes cometidos”, disse.
À Pública, a conselheira especial da ONU afirmou que sua equipe mantém interlocução com movimentos sociais no Brasil e que pretende visitar o país. Segundo ela, a inclusão do Brasil se deve a “processos que não asseguram o Consentimento Livre, Prévio e Informado [de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais], preocupações com a situação das terras indígenas e da demarcação, além de problemas ligados a instituições nacionais de proteção, especialmente a FUNAI”.
Em entrevista exclusiva, Wairimu Nderitu destacou a tese do “Marco Temporal” e os projetos visando à regularização da mineração em TIs como preocupações especiais, já que podem levar ao “despejo” das populações indígenas. A conselheira apontou também preocupação com o aumento do discurso de ódio contra populações vulneráveis no país e cobrou que o Brasil cumpra a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que prevê o Consentimento Livre, Prévio e Informado.

Alice Wairimu Nderitu (Foto: ONU | Reprodução)
A entrevista é de Bárbara D'Osualdo e Rafael Oliveira, publicada por Pública, 03-08-2021.
Eis a entrevista.
Em sua fala na 47ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos, o Brasil foi citado pela primeira vez por um membro do Escritório para a Prevenção de Genocídio da ONU. O que motivou a inclusão do Brasil em sua fala? Você recebeu alguma informação recente que a motivou?
A minha equipe já havia realizado uma visita ao Brasil em dezembro de 2018, com o objetivo de avaliar a situação no país da perspectiva do meu mandato, que é a Prevenção do Genocídio e a Responsabilidade de Proteger. A visita foi conduzida com base nos fatores de risco e indicadores que nosso escritório utiliza como parâmetro para a análise de crimes de atrocidade. Essa missão de avaliação foi motivada por relatórios iniciais que recebemos por meio de interações periódicas com representantes de comunidades vulneráveis, especialmente grupos indígenas e de afrodescendentes, além de organizações da sociedade civil e equipes da ONU no Brasil.
Meu mandato busca, antes de tudo, a identificação de comunidades vulneráveis, dos riscos aos quais elas estão expostas e a identificação de opções de como resolver essas questões. Então, em minha fala no Conselho de Direitos Humanos, eu mencionei minha preocupação com relação às populações indígenas no Brasil e em outros países da América do Sul, com base no trabalho que eu acabei de mencionar, conduzido pelo meu predecessor, além de preocupações recentes e relatos que temos recebido sobre supostos déficits no sistema de proteção dessas populações. Especificamente no caso do Brasil, essas reclamações se referem a processos que não asseguram o Consentimento Livre, Prévio e Informado [de povos indígenas e comunidades tradicionais], à situação das terras indígenas e de sua demarcação, além de problemas ligados a instituições nacionais de proteção, especialmente a Funai.
Assim como em outros países da região, meu escritório acredita que é extremamente importante que o Brasil enfrente déficits duradouros na implementação de obrigações legais nacionais e internacionais. E, mesmo que a consulta prévia [às comunidades indígenas] seja um requerimento legal em virtude de obrigações internacionais, como a Convenção 169 da OIT, eu recebi alertas de que, no Brasil, isso tem sido limitado a um pequeno número de processos.
Ao longo dos anos, meu escritório recebeu também alertas sobre o processo de demarcação de terras indígenas e sobre a aplicação da tese do Marco Temporal a todos os processos de demarcação. Eu entendo que, sob essa tese, o direito à terra é atribuído àqueles que a ocupavam no momento da adoção da Constituição Federal de 1988, não àqueles com direitos ancestrais sobre ela. Isso pode levar à expropriação legal de um número significativo de terras ancestrais de seus donos originais. Eu recebi também alertas sobre o impacto de regulamentações da extração de recursos naturais, contribuindo ainda mais para o despejo dos povos indígenas de suas terras.
Alguns desses problemas são específicos do Brasil, mas seguem padrões gerais observados na região [América do Sul]. Por exemplo, eu recebi denúncias sobre falhas nos processos de Consentimento Livre, Prévio e Informado planejados ou implementados em diversos países. Isso não é apenas contra obrigações internacionais sob a Convenção 169 da OIT, mas também contra o texto das constituições de diversos países da região, que protegem os direitos das populações indígenas.
No contexto da Covid-19, ao redor do mundo a pandemia contribuiu para tornar a situação de populações vulneráveis ainda mais vulnerável. E, em muitos lugares, comunidades minoritárias têm sido acusadas erroneamente de espalhar o vírus ou usadas como bodes expiatórios em lugares onde a resposta do governo nacional à pandemia é limitada. Isso também aumenta o discurso de ódio contra elas. Eu recebi também denúncias de que isso está acontecendo com comunidades indígenas em toda a região. Por isso, eu senti uma grande necessidade de falar sobre o Brasil no Conselho de Direitos Humanos. E eu acho que é importante que nós multipliquemos os esforços para enfrentar essas dinâmicas.
Nos últimos meses, a Suprema Corte brasileira determinou que o governo federal tomasse uma série de medidas para proteger as populações indígenas durante a pandemia de Covid-19. O governo não cumpriu boa parte delas, no entanto. Essa resistência do governo brasileiro em proteger as populações indígenas, mesmo após decisões judiciais, é também um motivo de preocupação para vocês?
Sim. Como eu mencionei na resposta anterior, minha preocupação se baseia em denúncias que o meu escritório tem recebido com muita frequência. Eu não recebi nenhum detalhe sobre as ações que têm sido tomadas em resposta às preocupações com a proteção [das populações indígenas]. Mas eu sei que propostas de lei que estão em avaliação no Congresso podem contribuir com o agravamento da situação das comunidades indígenas.
Por isso, eu gostaria de pedir ao governo e a todos no Congresso, às pessoas em posições de responsabilidade, que considerem as obrigações do Estado sob a Convenção 169 da OIT, além das obrigações internacionais de prevenção que emanam da Convenção de 1949 para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Todos os países, incluindo o Brasil, se comprometeram a proteger suas populações do genocídio, dos crimes de guerra, da limpeza étnica e de crimes contra a humanidade com a adoção do princípio da Responsabilidade de Proteger no documento final da Cúpula Mundial de 2005.
Durante alguns anos, o próprio Brasil conduziu os esforços para solucionar as falhas na implementação desse princípio na Líbia, na chamada iniciativa “Responsibility while Protecting” (“Responsabilidade ao Proteger”). É esse tipo de papel de liderança que eu encorajo as autoridades brasileiras a ocupar quando se trata de proteger a própria população. E eu estarei e me manterei à disposição para dar apoio a esses esforços como for necessário.
Meu escritório trabalhou muito bem no passado com o Ministério Público [Federal], que, pelo que eu sei, é um grande defensor dos direitos das populações indígenas. E eu vejo que meus predecessores também estiveram em contato com diversas organizações comunitárias de base, trabalhando continuamente para defender os direitos dos povos indígenas e pela sua proteção. Então é extremamente importante que aqueles no alto escalão não apenas repliquem os esforços que estão sendo feitos no nível local, mas também conduzam esses esforços o máximo possível.
O Brasil está oficialmente sob observação pelo seu escritório?
Eu diria que nós observamos o mundo todo. Inclusive, temos uma reunião daqui a duas horas para analisar o mundo todo com base no nosso sistema para a prevenção de atrocidades, que utiliza fatores de risco para analisar a situação dos países. Esses fatores de risco são fatores que existem em um país, região ou espaço onde um genocídio ocorreu no passado. Então nós vemos que há certos fatores recorrentes como pouca governança, lideranças autocráticas, presença de milícias armadas, planos visando populações étnicas, religiosas ou raciais específicas – esse tipo de coisa.
Então nós analisamos esses países e, com base nessas análises, decidimos em que situação esse país se encontra. E é com base nessa análise que nós decidimos que tipo de ação tomar com cada país. Então, sim… quando fazemos nossa análise, o Brasil é realmente um dos países sobre os quais temos que discutir em relação às populações indígenas e às populações vulneráveis em geral.
Você já mencionou isso rapidamente antes, mas gostaríamos de desenvolver um pouco mais a questão: há uma série de projetos de lei considerados “anti-indígenas” por especialistas tramitando no Congresso brasileiro. Eles incluem a exploração de terras indígenas, a legalização do garimpo e o enfraquecimento da demarcação de terras. Por que razão isso é um motivo de preocupação para o seu escritório?
É um motivo de preocupação porque populações indígenas no mundo todo correm risco de extinção. E parte do motivo tem a ver com leis como as que você descreveu. Leis que funcionam para separar os povos indígenas de suas terras ancestrais. Leis que se utilizam do fato de que terras ancestrais geralmente não têm documentos de posse ou qualquer tipo de papel que você consiga obter para dizer que a terra é sua, a não ser o fato de que seus ancestrais estão enterrados ali e que é onde você tem vivido.
[Além disso,] populações indígenas muitas vezes não têm o tipo de representação de que precisam para que suas vozes sejam ouvidas nos espaços que tomam decisões sobre elas. Isso significa que decisões são tomadas por elas, sobre elas, sem elas. Então é extremamente importante que nós façamos algo quanto a isso.
Em seu discurso, você enfatiza a importância de atuar preventivamente para evitar genocídios. Você pode falar um pouco sobre isso?
Muito do trabalho que eu faço, que é feito pelo meu escritório, é focado na prevenção. Nós apagamos muitos incêndios, não esperamos que as situações se tornem genocídios. Nós trabalhamos duro para garantir que isso não aconteça. Meu maior pesadelo seria que um genocídio acontecesse sob a minha supervisão. Quando se trata de riscos, a prevenção é a melhor resposta.
Meu papel é identificar riscos com base em um conjunto de fatores e indicadores que, como eu descrevi antes, são usados na nossa análise sobre crimes de atrocidade. Esse documento específico aborda não só genocídio, mas também crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade.
A partir dessa análise, meu escritório procura dar suporte aos Estados para promover medidas de proteção. No caso do Brasil, nós faríamos o que já fizemos com vários outros países. Isso começa, logicamente, com avisos iniciais, advocacy, quando e onde há preocupação. Na minha fala no Conselho de Direitos Humanos, eu mencionei diversas situações com as quais nos preocupamos. Isso é parte do trabalho de advocacy. Como parte do meu mandato, eu faço o máximo possível para engajar Estados membros, para encorajá-los a não medir esforços para proteger aqueles que consideramos correr mais risco.
Mas advocacy é apenas o primeiro passo, e normalmente não é o suficiente. É importante que as autoridades nacionais ajam em resposta aos alertas de maneira e no tempo apropriados. Porque, afinal de contas, isso é um compromisso que todos os Estados membros, incluindo o Brasil, assinaram em 2005, quando adotaram [o princípio da] Responsabilidade de Proteger.
Eu não estou em posição de aconselhar diretamente sobre as ações específicas que podem ser tomadas no caso do Brasil, pois eu ainda não tive a oportunidade de discutir essas questões com autoridades nacionais ou de visitar o país – espero visitar o país e vou fazer esse requerimento. Mas existem linhas gerais de conselhos que são conhecidas por todos os Estados membros. Em termos de assegurar a implementação de convenções internacionais, como a 169 da OIT; em termos de fortalecer as instituições nacionais de proteção, assim como garantir que todas as comunidades vulneráveis possam opinar em assuntos que as afetam; e em termos de garantir que não haja impunidade para crimes cometidos contra elas. E, claro, todas essas [questões] são críticas, nenhuma é mais importante que a outra.
Uma questão com a qual meu escritório pode ajudar diretamente hoje é o enfrentamento dos discursos de ódio. Isso é uma preocupação no Brasil assim como em diversos outros países e que se deteriorou muito no contexto da pandemia de Covid-19. Meu escritório é um ponto focal no sistema das Nações Unidas para o enfrentamento de discursos de ódio. Não há um único genocídio – o Holocausto, qualquer crime de guerra, crime contra a humanidade – que não tenha sido precedido de discursos de ódio.
Por isso, nós trabalhamos para auxiliar na implementação da Estratégia e do Plano de Ação das Nações Unidas contra o Discurso de Ódio, que foram lançados pelo secretário-geral em 2019. Nós temos ajudado as equipes da ONU nos países a desenvolver seus próprios planos de ação para essa questão. Isso é algo que também podemos fazer no Brasil. Nós temos ajudado a sociedade civil e também agências governamentais a elaborar seus próprios planos de ação contra o discurso de ódio. É algo que podemos fazer imediatamente.
Outra coisa que podemos fazer imediatamente é trabalhar com a equipe da ONU no país para desenvolver um sistema próprio ao Brasil de análise para a prevenção de atrocidades, mapear os fatores de risco que existem no Brasil a partir de uma perspectiva brasileira.
Quais lições aprendidas ao longo de sua trajetória como pacificadora e mediadora de conflitos no Quênia e em outros países africanos podem se aplicar ao caso brasileiro?
Eu aprendi que não há muito que possa ser alcançado pela força, com proeza militar. Que usar armas não resolve um problema, que ele continua lá e não avança. É extremamente importante que os governos ouçam e que o façam com o objetivo de agir sobre o que ouviram. E sei, da perspectiva do meu mandato, da prevenção de crimes de atrocidade, que a inclusão e a promoção de vozes plurais também são fundamentais.
Em termos de sustentabilidade de qualquer ideia a ser discutida, [é preciso] incluir todos os segmentos da população – mulheres, comunidades indígenas, LGBTs, todo mundo que geralmente é excluído. Quando você os inclui na tomada de decisão, você garante a sustentabilidade das decisões que toma, porque mais pessoas a validarão. Isso é extremamente importante.
Já em termos de avaliação de situações [de risco] e análise, é importante ouvir o maior número possível de interlocutores – em diferentes ramos do governo, na capital, nas províncias, pessoas da sociedade civil, de organizações comunitárias. Todo mundo tem algo a dizer.
Da mesma forma, do ponto de vista da resposta, a prevenção constitui uma responsabilidade coletiva. E, geralmente, quanto mais amplo for o “kit de ferramentas”, maior será o número de atores em posição de agir. O que precisamos é de boa sinergia e de coordenação. Assim, o todo pode se tornar maior do que a soma de suas partes.
Outra coisa que aprendi é que a imprensa livre é extremamente crucial para o sucesso na prevenção do genocídio e de crimes de atrocidade. Como diz Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, é difícil encontrar um lugar onde haja uma imprensa livre e onde também haja fome coletiva. Se ela é de fato livre, ela é capaz de se articular, e essas preocupações são suficientes para que uma ação seja tomada. É a mesma coisa com conflitos: se você tiver uma imprensa livre, que seja livre para expressar que há algo acontecendo no país e que é extremamente importante agir, então se torna muito mais fácil resolver esses problemas.
Outra coisa que aprendi é que muitos conflitos são localizados. Na minha experiência, e em pesquisas também, se você olhar para 90% dos conflitos violentos que acontecem, eles ocorrem entre comunidades no nível local. Portanto, no cumprimento do meu mandato, pretendo colocar muita ênfase no envolvimento das comunidades de base em ações preventivas. E isso inclui apoiar grupos que representam os interesses das mulheres e promovem seus direitos para [que possamos] avançar, inclusive na prevenção de atrocidades.
Eu gostaria de concluir apenas dizendo que as lições aprendidas cresceram com a inspiração de muitas pessoas, pessoas em comunidades que fazem tudo o que podem e muitas vezes têm sucesso em causar mudanças nos lugares em que vivem. Eles realmente são os verdadeiros defensores da paz. Eu vi esse compromisso inspirador, a força de vontade de tantos jovens em todo o mundo que pensam que um mundo melhor é possível e que desejam ser agentes ativos de mudança
Eu acabei de voltar da Bósnia e Herzegovina, e o que acabei de descrever, as lições que eu aprendi, eu também vi por lá na prática. Vi comunidades que, na ausência de lideranças que se unam para reconciliar o país, se reúnem e decidem o que vão fazer dali para a frente. Então, eu realmente gostaria de encorajar as pessoas no Brasil a continuar se manifestando, a continuar nos escrevendo. Elas têm escrito muito para o nosso escritório através do e-mail disponível em nosso site, e eu as encorajo a continuar.
Há uma denúncia apresentada ao Tribunal Penal Internacional contra o presidente brasileiro por genocídio contra a população indígena em análise preliminar, e outras denúncias foram apresentadas na corte. Além disso, órgãos como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também já demonstraram preocupação com o cenário para os indígenas do Brasil. Essa é uma preocupação generalizada da comunidade internacional?
Em relação ao Tribunal Penal Internacional, é uma jurisdição completamente separada de nós. E normalmente nosso escritório não determina se situações específicas, em curso ou do passado, realmente se qualificam legalmente, seja como crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra ou crimes que podem ir para o TPI. Já existem mecanismos legais para isso, que fazem essa determinação. Portanto, o que fazemos é avaliar se existe o risco de algum desses crimes ocorrer em uma situação específica, e trabalhamos para prevenir ou parar esses crimes – caso haja suspeita de que já estejam ocorrendo. E então, é claro, por causa do nosso advocacy, outras instituições como o TPI podem pegar o caso. No entanto, devo dizer, só sei o que está acontecendo em nosso escritório. Não sei o que outras organizações estão dizendo sobre o Brasil, porque estou falando de preocupações muito específicas que foram levantadas pela avaliação que já foi realizada pelo nosso escritório.
Você mencionou que o Brasil é signatário de uma convenção sobre o genocídio. O que pode ser feito caso o governo não cumpra as obrigações que assumiu?
Depois de reunirmos informações sobre situações que despertam preocupação, a fim de avaliar o risco de crimes de atrocidade, nós realizamos missões de campo para consolidar nossa análise. Nós precisamos consolidar nossa análise para compreender situações específicas em questão, mas sem realizar investigações criminais sobre incidentes específicos. Não temos nenhum mandato para instruir, por exemplo, as pessoas sobre o que fazer.
O TPI, por exemplo, é um órgão judicial independente que não faz parte da ONU. E temos um acordo entre a ONU e o TPI, que estabelece o quadro jurídico de cooperação entre as nossas duas instituições. Mas, a partir daí, acho que seria prematuro da minha parte apontar o que poderíamos fazer. Acho que, no momento, o que precisamos fazer é obter o máximo de informações possível e, em seguida, mantê-los informados, porque posso garantir que estarei sempre disponível para falar com vocês. E para mantê-los informados sobre tudo o que nosso escritório está fazendo.
Leia mais
Brasil é citado na ONU por risco de genocídio de indígenas
“Extermínio indígena pode levar Tribunal de Haia a julgar Bolsonaro”
Marco temporal, o nome elegante do genocídio
“Desgoverno transformou genocídio em projeto e encontrou eco”, diz professora indígena
Indígenas do Amazonas vão denunciar genocídio em fóruns internacionais
Ações de Bolsonaro podem caracterizar genocídio, apontam pesquisadores
Tribunal Penal Internacional de Haia sofre pressão para punir crimes de ecocídio
‘Impeachment de Jair Bolsonaro pelo crime de Ecocídio’
Juristas preparam denúncia contra Bolsonaro por ecocídio
Fonte: IHU Online / Agência Pública
http://www.ihu.unisinos.br/611707-nao-ha-um-unico-genocidio-que-nao-tenha-sido-precedido-por-discursos-de-odio
Política de renda básica continua sendo emergencial, diz Débora Freire
Segundo a economista, programas sociais de renda básica "serão muito necessários pós-Covid" e precisam ser elaborados tendo em vista o enfrentamento das desigualdades sociais e a recuperação econômica
IHU Online
A experiência do Auxílio Emergencial concedido no ano passado, que repassou parcelas de até 1.200 reais para os beneficiários, indica a urgência desse tipo de política no país para enfrentar o aumento da pobreza. "Na minha concepção, a política de renda básica continua sendo emergencial e vai ser emergencial pós-crise. Teremos que discutir o aprofundamento da proteção social no Brasil se não quisermos perenizar o aumento da pobreza e da desigualdade que vai aumentar quando acabar o Auxílio Emergencial ", diz Débora Freire.
No ano passado, a economista fez um estudo acerca dos impactos da renda básica emergencial tanto na vida das famílias que receberam o benefício quanto na própria dinâmica da economia. "Observamos um impacto de quase 50% na renda das famílias mais pobres, aquelas que recebem de zero a um salário mínimo. Essas foram as famílias mais atendidas pelo Auxílio Emergencial. Para algumas delas, o auxílio mais do que cobriu a perda de renda naquele período. Também percebemos impactos nas classes que recebem de dois a três salários mínimos. Chamo a atenção para os impactos positivos em famílias que não são elegíveis do programa, que não recebem diretamente a transferência de renda. Esse é um impacto importante dos programas de transferência de renda e acontece porque as famílias que recebem o benefício diretamente estão na base da pirâmide e gastam sua renda em consumo. Então, elas aumentam o seu consumo e isso significa mais venda, ou seja, os setores produtivos têm que produzir mais para atender aquela demanda e, ao produzirem mais, empregam mais capital e temos mais geração de renda na economia", ressalta.
No ano passado, Débora Freire participou do evento "A Renda Básica Universal (RBU) para além da justiça social", promovido pelo Instituto Humanitas Unisinos - IHU. Na palestra "Renda Básica Universal. Combate à desigualdade e busca da justiça social na experiência brasileira", ela defende a construção de um "aparato de proteção social que consiga se ajustar rápido às crises, visto que a população informal e uberizada tem uma característica de muita volatilidade nos seus rendimentos, e toda vez que os rendimentos tendem a ser reduzidos seria possível fazer alguma transferência imediata para as famílias".
A seguir, reproduzimos a conferência no formato de entrevista.
Débora Freire é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, mestra em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa - UFV e doutora em Economia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais - CEDEPLAR/UFMG. É professora adjunta do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG.
Confira a entrevista.
IHU – Quais as principais conclusões da pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada - Nemea sobre o Auxílio Emergencial?
Débora Freire – Fizemos um estudo no Nemea acerca dos impactos da renda básica emergencial e o olhar que trago, para além das questões sociais e do impacto nas desigualdades [gerado pelo auxílio], é o de olhar para programas sociais de renda básica como programas também de incentivo econômico e de incentivo à recuperação econômica, que serão muito necessários pós-Covid.
A discussão sobre a implementação de programas de renda básica já existia [antes da pandemia], muito por conta da dinâmica do mercado de trabalho que estamos observando nos últimos anos, como o aumento de empregos de pior qualidade e fenômenos de flexibilização no mercado de trabalho, conhecidos como uberização. Muitas pessoas, dada a crise econômica, especialmente no Brasil desde 2015, aceitam empregos de pior qualidade, com jornadas exaustivas e sem garantias de direitos – isso, de fato, piora o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Ao mesmo tempo, ocorre um processo de robotização que tem gerado uma substituição da mão de obra de trabalho por máquinas e fala-se de uma tendência em que não haverá emprego para todo mundo. Então, temos visto um aumento do desemprego. Nesse contexto, no mundo todo, a discussão sobre uma renda básica, sobre um nível mínimo de vida necessário para as pessoas, já estava ganhando forma há algum tempo, em razão dessas novas dinâmicas, mas ganhou outra perspectiva e velocidade por causa da pandemia de Covid-19.
No Brasil, implementou-se um programa de auxílio emergencial que foi, de fato, um sucesso do ponto de vista das políticas públicas na pandemia em relação ao eixo econômico
Débora Freire/Tweet
Na pandemia, os programas de transferência de renda foram utilizados na maioria dos países que conseguiram ser exitosos na tarefa de garantir um nível mínimo de renda para as famílias. No Brasil, não foi diferente: implementou-se um programa de auxílio emergencial que foi, de fato, um sucesso do ponto de vista das políticas públicas na pandemia em relação ao eixo econômico. Foi a política mais exitosa. No entanto, as transferências de renda foram reduzidas e não há perspectiva da continuação deste programa ou da implementação de um programa diferente. Também não sabemos, do ponto de vista da saúde, o que vai acontecer. Não sabemos até quando esta crise vai durar e, do ponto de vista econômico, a recuperação tende a ser lenta. Ao mesmo tempo, vemos uma discussão muito truncada e difícil de ser feita no âmbito federal, que não tem previsto no orçamento o que vai ser feito. O governo tem “batido muito a cabeça” [para encontrar formas] de como financiar uma renda básica, mas essa discussão não tem avançado na medida que precisa.
Não voltaremos para o mundo anterior e, muito provavelmente, teremos um mundo com muito mais desigualdades e com uma dificuldade de recuperação econômica muito expressiva
Débora Freire/Tweet
IHU – Como, a partir do Auxílio Emergencial, foi possível fortalecer minimamente o sistema de proteção social?
Débora Freire - Gostaria de destacar as potencialidades do tipo de transferência de renda, como a renda básica emergencial, para que possamos pensar novas perspectivas a respeito do aprofundamento da proteção social no Brasil, que vai ser necessário.
Não voltaremos para o mundo anterior e, muito provavelmente, teremos um mundo com muito mais desigualdades e com uma dificuldade de recuperação econômica muito expressiva. Na minha concepção, a política de renda básica continua sendo emergencial e vai ser emergencial pós-crise. Teremos que discutir o aprofundamento da proteção social no Brasil se não quisermos perenizar o aumento da pobreza e da desigualdade que vai aumentar quando acabar o Auxílio Emergencial.
A renda básica emergencial teve tanto sucesso, que conseguiu neutralizar o impacto da crise nas famílias. Não tivemos até hoje políticas tão distributivas como foi o Auxílio Emergencial no Brasil, mas tão logo o benefício acabe, vamos ver a face da desigualdade. Precisamos discutir possibilidades de políticas, de desenho de renda básica, e de financiamento.
A renda básica emergencial teve tanto sucesso, que conseguiu neutralizar o impacto da crise nas famílias
Débora Freire/Tweet
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde - OMS declarou a pandemia de Covid-19, e o Brasil teve um tempo para se ajustar, para tentar antever os efeitos da Covid. Mas, de fato, não aproveitamos esse tempo para nos planejarmos de maneira adequada. Do ponto de vista das medidas em relação aos impactos econômicos e das políticas a serem adotadas, primeiro, ouvimos declarações de que o governo continuaria com a agenda de austeridade, não mudaria os rumos da política econômica por conta da pandemia, o que de fato era um contrassenso, porque todos sabiam que a realidade iria se impor, a crise iria chegar e precisaríamos de um Estado fazendo política contracíclica, ou seja, aumentando os gastos estatais com saúde e proteção social. Já se sabia que isso deveria ser feito, mas o governo teve dificuldade de fazê-lo. Depois, o governo foi ajustando suas expectativas e anunciou que algumas medidas seriam tomadas, como a expansão do Bolsa Família, mas ainda havia uma incredulidade em relação aos impactos da crise. O ministro da Economia chegou a dizer que com oito bilhões seria possível dar conta da crise, mas hoje já se sabe que [aquilo] era uma fantasia, porque dada a magnitude dos gastos públicos que foram necessários e ainda são, aquela visão do início da crise era totalmente equivocada.
Impacto da pandemia na renda das famílias
Quando de fato foi decretada a pandemia de Covid-19, o nosso grupo de pesquisa reorientou sua agenda para avaliar os impactos sociais da pandemia. Nos perguntamos se o impacto seria homogêneo entre as pessoas e as famílias. Primeiramente, tínhamos um discurso de que por se tratar de uma crise sanitária, ricos e pobres enfrentariam a crise da mesma maneira. Obviamente, já sabíamos que isso não iria acontecer, do ponto de vista tanto da saúde como da economia.
Do ponto de vista da saúde, já sabíamos que a população mais pobre e vulnerável seria mais impactada, porque são pessoas que moram em condições mais precárias, vivem em locais com uma densidade populacional muito maior, aglomeradas, com mais dificuldade de acesso a serviços de saúde e a produtos de higiene que são necessários para tentar evitar o contágio e, além disso, pegam transporte público para ir trabalhar e não conseguem evitar aglomerações.
Do ponto de vista econômico, tentamos responder quão heterogêneo seria o impacto na renda das famílias, advindo de um cenário recessivo, que seria inevitável dada a crise de Covid-19. A nossa pergunta foi: como a queda de 1% no emprego impacta a renda das famílias por classes de renda? Para responder a essa pergunta, utilizamos um modelo de simulação – o qual desenvolvi na minha tese de doutorado – que mapeia os fluxos econômicos, como se fosse uma fotografia de toda a economia, mapeando os fluxos de vendas e compras entre setores produtivos, as famílias e o governo; as transferências de renda entre as famílias – como os setores produtivos remuneram as famílias na forma de renda do trabalho e do capital; e como essa renda é distribuída por classes de renda.
Do ponto de vista agregado, vimos que a queda de 1% no emprego se relacionaria a uma queda de 1,4% do PIB e a uma queda de 1,1% na renda disponível das famílias. Mas o nosso interesse era avaliar como esse impacto heterogêneo se daria do ponto de vista da renda das famílias por classes de renda, já que o modelo permitia essa análise. Conseguimos perceber que uma crise recessiva de 1% de queda no emprego afetaria a renda das famílias mais pobres – estamos considerando 11 classes de renda. Nas duas primeiras classes de famílias, que recebem até um salário mínimo e até dois salários mínimos, observamos que o impacto da recessão é 20% maior do que o impacto médio na renda das famílias de modo geral. Ou seja, projetamos que a renda das famílias mais pobres seria mais afetada do que a renda da maioria porque essa crise atingiu principalmente o setor de serviços, que emprega uma proporção maior de trabalhadores informais, com mão de obra menos qualificada e, portanto, a maior parte das famílias mais pobres trabalha no setor de serviços. Enquanto as famílias mais pobres têm uma renda menor e dependem exclusivamente da renda do trabalho e das rendas de transferência, as famílias mais ricas têm renda proveniente de rendimentos de capital, de ativos financeiros. Dada essa diferença, é mais impactado quem depende da renda do trabalho. Essas famílias precisariam ser auxiliadas porque, do contrário, aumentaria muito a desigualdade no país.
Implementação do Auxílio Emergencial
Primeiro, o Ministério da Economia anunciou um auxílio no valor de 200 reais para os autônomos. Já se sabia que isso seria insuficiente. O governo teve muita dificuldade de entender como conceder o auxílio: se iria utilizar o CadÚnico e como poderia expandi-lo. No entanto, a sociedade civil e os pesquisadores se mostraram muito participativos e pressionaram o Congresso para que votasse um benefício que fosse suficiente para lidar com a crise, visto que 200 reais era um valor insuficiente. O Congresso votou a renda básica emergencial de 500 reais, o governo acabou passando o valor para 600 reais, que foi aprovado no Senado.
IHU - Quais foram os impactos desse programa na economia?
Débora Freire - A pergunta da nossa pesquisa era: a renda básica emergencial é uma resposta suficiente aos impactos econômicos da pandemia de Covid-19 no Brasil? O nosso intuito era avaliar o impacto do auxílio na renda das famílias, mas também na economia, visto que, ao nosso ver, os impactos econômicos dos programas de transferência de renda têm de ser considerados. Esse tipo de política atua não apenas para diminuir a vulnerabilidade social das famílias no momento, mas como uma política de atenuação dos impactos da pandemia. Isso é importante de avaliar porque nos mostra os potenciais de um programa de renda básica para a recuperação econômica e como esses programas têm servido também do ponto de vista econômico e não apenas social.
Nós utilizamos aquele mesmo modelo de simulação que foi desenvolvido na minha tese de doutorado para simular os impactos da renda básica emergencial. No entanto, o adaptamos para um modelo trimestral – ele era anual – para captar os efeitos do trimestre e de curto prazo do programa. A estratégia de simulação mesclou duas bases de dados: a base de microdados do CadÚnico e os microdados da Pnad para mapear quem seriam os potenciais elegíveis para o programa, para conseguirmos mensurar os choques de transferência de renda que estabeleceríamos no nosso modelo.
O modelo tem 11 classes de renda e analisamos separadamente as três primeiras classes, que são as famílias que recebem de zero a três salários mínimos e que seriam contempladas pelo Auxílio Emergencial. Usando e mesclando essas bases de dados, estabelecemos os filtros usados pelo governo para determinar a elegibilidade para o programa: o indivíduo deveria atender a todos os pré-requisitos estabelecidos, como ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, não receber benefício previdenciário ou assistencial, exceto o Bolsa Família, ter renda familiar de até meio salário mínimo per capita ou até três salários mínimos totais e não ter recebido acima de 28.559 reais no ano anterior. Deveria também ou ser microempreendedor individual ou contribuir individualmente para o FGTS ou ser um trabalhador informal, tanto desempregado como autônomo, inscrito no CadÚnico, ou por meio de autodeclaração, que foi feita via aplicativo. Conseguimos chegar a um número de beneficiados muito próximo ao número projetado pelo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea e pelos dados divulgados pelo Dataprev. Posteriormente, o benefício atingiu um contingente populacional muito maior.
A estratégia de simulação que fizemos contemplou dois cenários: a renda básica emergencial nos três primeiros meses previstos, e depois analisamos um cenário sem o benefício.
Observamos um impacto de quase 50% na renda das famílias mais pobres, aquelas que recebem de zero a um salário mínimo. Essas foram as famílias mais atendidas pelo Auxílio Emergencial
Débora Freire/Tweet
Resultados
Observamos um impacto de quase 50% na renda das famílias mais pobres, aquelas que recebem de zero a um salário mínimo. Essas foram as famílias mais atendidas pelo Auxílio Emergencial. Para algumas delas, o auxílio mais do que cobriu a perda de renda naquele período. Também percebemos impactos nas classes que recebem de dois a três salários mínimos. Chamo a atenção para os impactos positivos em famílias que não são elegíveis do programa, que não recebem diretamente a transferência de renda. Esse é um impacto importante dos programas de transferência de renda e acontece porque as famílias que recebem o benefício diretamente estão na base da pirâmide e gastam sua renda em consumo. Então, elas aumentam o seu consumo e isso significa mais venda, ou seja, os setores produtivos têm que produzir mais para atender aquela demanda e, ao produzirem mais, empregam mais capital e temos mais geração de renda na economia. Uma vez que a distribuição de renda na economia entre as famílias é concentrada, os principais beneficiários indiretos desses programas de transferência de renda são as famílias que estão nas classes superiores. Esse efeito positivo para as famílias que recebem mais de três salários mínimos é um dos impactos indiretos da renda básica emergencial na economia.
Impactos macroeconômicos
Uma vez que esse tipo de programa gera impacto na renda das famílias, gera também efeitos macroeconômicos. Isso porque estimula o consumo das famílias que, por sua vez, gera um estímulo à produção de renda na economia, que se transforma em impactos macroeconômicos. Temos impactos no PIB, no consumo das famílias, no emprego e no investimento. Observamos um impacto positivo no PIB, de 0,44%, no primeiro trimestre, mas no cenário em que a renda básica fosse retirada, haveria uma queda nesses impactos, que perduraria ao longo do próximo ano (2021).
O programa de renda básica emergencial teve um impacto de mitigar a recessão e a crise econômica - Débora Freire Tweet
Dado o cenário econômico recessivo, o programa de renda básica emergencial teve o efeito de mitigar a recessão e a crise econômica, uma vez que gerou um impacto positivo no PIB e nas demais variáveis macroeconômicas. Se não fosse o Auxílio Emergencial, teríamos tido uma recessão econômica muito maior. Esse foi um programa muito importante, pois o consumo se manteve aquecido, apesar da crise. A queda do consumo foi muito menor do que se não houvesse a renda básica emergencial.
Financiamento
Uma questão importante das simulações é que nesses cenários nós consideramos o financiamento dessa política como de fato foi colocado em prática, por meio do endividamento público. Sabemos que os gastos para enfrentar a crise estão sendo financiados com o aumento do endividamento e, exatamente por isso, temos impactos maiores do ponto de vista econômico. Por que digo isso? Porque se tivéssemos que financiar a política com algum recurso como, por exemplo, impostos, teríamos um choque negativo na economia e os impactos seriam menores. Os efeitos [do Auxílio Emergencial] seriam maiores e teríamos um impacto ainda mais positivo se tivéssemos um financiamento baseado na tributação dos mais ricos, porque eles consomem uma maior parte da sua renda.
É importante ressaltar que o auxílio é uma política emergencial. Para pensar uma renda básica permanente, vai ser necessário algum tipo de ajuste e de mapeamento de fonte de financiamento. Não se financia uma política permanente com endividamento público. Então, precisamos pensar de onde tirar o recurso para desenhar uma política de renda básica permanente.
Os efeitos [do Auxílio Emergencial] seriam maiores e teríamos um impacto ainda mais positivo se tivéssemos um financiamento baseado na tributação dos mais ricos - Débora Freire Tweet
IHU – Quais setores econômicos foram impactados pelo Auxílio Emergencial?
Débora Freire - Esse tipo de transferência de renda para as famílias tem potencial de atingir setores produtivos de forma assimétrica porque eles têm participação distinta no consumo das famílias. Alguns setores têm uma participação muito mais efetiva. Quando consideramos as famílias em classes de renda, essa composição também muda porque enquanto as famílias de classe mais baixa gastam a renda em alimentação, serviços pessoais e eletrodomésticos, as famílias de classe mais alta têm uma cesta de consumo média diferente: elas consomem viagens, combustível, ou seja, têm outro perfil e padrão de consumo. Como as famílias de classes mais baixas foram as principais atingidas pelo auxílio, consequentemente o programa atingiu os setores de eletrodomésticos, de perfumaria, higiene e limpeza, de artefatos de couro e calçados, de saúde, de vestuário, de alimentos e bebidas. O setor de comércio foi muito afetado pela crise de Covid-19, mas o Auxílio Emergencial foi um programa de estímulo também para o setor.
Outro impacto do Auxílio Emergencial diz respeito à arrecadação do governo. O sistema econômico é integrado e muitas vezes fazemos algumas confusões em relação ao orçamento público, que não é igual ao orçamento familiar. Ou seja, a família gasta aquilo que ela tem de renda, mas o governo tem uma especificidade diferente: ele tem a capacidade de afetar a sua receita com seus gastos. O governo é um setor demandante da economia e, quando ele amplia os gastos, faz com que a economia se aqueça e gere o ajuste da produção dos setores produtivos para atender a demanda crescente. Esse novo cenário gera mais renda e, consequentemente, há um aumento na arrecadação de impostos. Então, o governo tem a capacidade de arrecadar e afetar a sua arrecadação.
O setor de comércio foi muito afetado pela crise de Covid-19, mas o Auxílio Emergencial foi um programa de estímulo também para o setor
Débora Freire/Tweet
Em função disso, chamamos a atenção para este resultado: a política de renda básica tem o efeito de, em partes, se autofinanciar, porque uma vez que o governo transfere renda para as famílias, a arrecadação do governo também vai ser afetada pela política. Segundo nossos cálculos, em três meses de renda básica emergencial, 24% do custo da política seria coberto pelo “desvio” que ela gera na arrecadação do governo. Ou seja, teríamos um efeito autoalimentador da política na receita do governo, que deveria ser considerado. Obviamente, a política não gera mais arrecadação do que o seu custo, mas no caso de uma política emergencial, o valor coberto seria de 24%. Então, é preciso considerar o custo líquido dessas políticas e não o custo bruto. O auxílio é primordial para as novas dinâmicas econômicas pós-Covid-19 exatamente porque essa nova dinâmica de desigualdades tende a se acelerar depois da pandemia.
IHU – Quais os desafios de instituir uma renda universal e incondicional?
Débora Freire - Quando falamos de renda básica, estamos falando de uma transferência de renda regular, incondicional e universal, ou seja, todos podem recebê-la. Mas a forma de financiamento é via imposto de renda: as famílias de classes mais altas seriam contribuintes líquidos, porque elas poderiam receber o benefício, mas teriam que pagar por ele no imposto de renda, ao passo que as famílias mais pobres seriam beneficiados líquidos, porque são isentas do imposto de renda.
A renda mínima diz respeito a programas focalizados, segundo critérios de renda, como o Bolsa Família, em que as pessoas precisam ter um limite de renda para receber o benefício, e também são condicionais porque tem alguma contrapartida, como as crianças terem que estar na escola para a família receber a renda etc. Os programas também podem ter focalização indireta, ou seja, crianças, idosos, famílias com crianças. Essa proposta tem sido muito discutida, visto que um programa de renda básica, inicialmente, é de difícil implementação porque é muito amplo. Teríamos que começar com programas com desenhos menores e, a partir das melhoras econômicas e fiscais, ir expandindo os programas. Poderíamos pensar na universalidade em um determinado tipo de focalização, como crianças, por exemplo. Ou seja, todas as famílias que têm crianças receberiam o benefício. Atingiríamos principalmente os mais pobres, visto que as famílias com mais crianças são as mais pobres, e teríamos um esquema de contribuintes e beneficiários líquidos. Também tem uma discussão importante acerca de uma renda para os jovens, porque as famílias com jovens costumam ser mais vulneráveis. Nesse sentido, a renda poderia ser estendida posteriormente aos jovens e depois aos idosos, por exemplo. Alguns desenhos estão sendo discutidos, principalmente na academia brasileira. O grande problema é o financiamento exatamente porque o governo tem sido reticente em fazer uma reforma tributária que angarie recursos dos mais ricos, que hoje são subtributados.
Além de combater a pobreza e a desigualdade, a renda básica tem a característica de dotar o cidadão de poder de barganha e, talvez, essa seja uma característica muito importante para os tempos atuais
Débora Freire/Tweet
Poder de barganha
Além de combater a pobreza e a desigualdade, a renda básica tem a característica de dotar o cidadão de poder de barganha e, talvez, essa seja uma característica muito importante para os tempos atuais, visto as dinâmicas do mercado de trabalho. O trabalhador tem perdido muito poder de barganha e muitas pessoas estão trabalhando de forma precária, com jornadas exaustivas, sem nenhum tipo de direitos. Em geral, as pessoas aceitam essas condições uma vez que não conseguem encontrar empregos em outras atividades.
Vejo a renda básica como uma política que não só vai auxiliar a recuperação da economia, como vai ajudar no processo de dotar o cidadão de poder de barganha, garantindo a ele um nível de renda mínimo. Com esse nível de renda mínimo, poderá barganhar melhores condições de trabalho, visto que ele não depende fundamentalmente daquele trabalho que o explora para sobreviver e mitigar os problemas relacionados à oferta de emprego.
Só o Bolsa Família, nos seus moldes atuais, não será suficiente - Débora Freire Tweet
IHU - Quais são as perspectivas para a proteção social no Brasil?
Débora Freire - Será necessário algum tipo de proteção social, porque do contrário tende a se perpetuar uma situação de vulnerabilidade, de aumento da pobreza e da desigualdade. Só o Bolsa Família, nos seus moldes atuais, não será suficiente.
É preciso um aparato de proteção social que consiga se ajustar rápido às crises, visto que a população informal e uberizada tem uma característica de muita volatilidade nos seus rendimentos, e toda vez que os rendimentos tendem a ser reduzidos seria possível fazer alguma transferência imediata para as famílias. A grande questão, como comentei anteriormente, é como financiar esse tipo de programa. Existem as propostas de realocação de programas, sem alterar gastos, como acabar com alguns programas e canalizar isso para expandir o Bolsa Família ou criar um programa de renda básica. Tem ainda as propostas de financiar por meio da tributação dos mais ricos. Na minha concepção, o ajuste e a recuperação da economia brasileira têm que ser via sistema tributário e gasto social. Se redistribuirmos a renda dos pobres para os extremamente pobres ou a da classe média baixa para os pobres e extremamente pobres, estamos limitando o efeito progressivo da política e, consequentemente, limitando o impacto da política na economia ao mesmo tempo que tendemos a gerar crises sociais exatamente porque sabemos que esse equilíbrio não é estável. Uma vez que os mais ricos continuam com seus benefícios tributários, com as reduções no imposto de renda, com a isenção de lucros e dividendos para pessoa física, isso tende a gerar uma instabilidade muito grande, porque a classe mais rica mantém seu aparato econômico, inclusive, ganhando participação na renda nacional, ao passo que a classe média baixa está sendo muito afetada e comprimida para que a renda seja transferida para os mais pobres. Isso não é um equilíbrio viável.
O caminho mais viável economicamente e socialmente para financiar a renda básica seria a tributação dos mais ricos. A grande questão é: por que tanta resistência? Para fazer isso, precisamos rever e flexibilizar o teto de gastos. Não estou dizendo que não precisamos de regras fiscais, precisamos, sim, mas temos de ter uma regra que não trate o gasto de forma homogênea e que possibilite uma canalização do gasto para transferências sociais. O teto de gastos, ao limitar o crescimento real dos gastos a zero, elimina esse tipo de possibilidade de tributar mais os mais ricos e canalizar recursos para os mais pobres via um programa de transferência de renda. Nesse sentido, o imposto de renda de pessoa física é a potencial grande fonte de recursos para financiar uma renda básica.
A invisibilidade do racismo nos dados da Covid-19
“O não preenchimento do campo “raça/cor da pele” relacionado às internações afeta gravemente, por exemplo, a comparação da letalidade entre pessoas brancas, pretas, pardas, amarelas e indígenas”, escrevem Edna Maria de Araújo, docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Ana Paula Nunes, professora de epidemiologia e bioestatística da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e Vitor Nisida, urbanista e pesquisador do Instituto Pólis, em artigo publicado originalmente no jornal Folha de S. Paulo, 20-07-2021 e reproduzido por Associação Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco, 20-07-2021.
Confira o artigo:
As respostas às desigualdades em saúde só podem ser adequadas quando a produção de dados é completa e dialoga com a realidade que visam transformar. Nesse sentido, não é possível planejar intervenções visando diminuir as iniquidades raciais sem conhecer sua verdadeira extensão.
Para isso, é fundamental organizar informações oficiais desagregadas por raça/cor da pele. É de interesse público, portanto, conhecer e reivindicar a qualidade dos dados sobre saúde quanto ao preenchimento do campo “raça/cor da pele” nos sistemas de informação oficiais.
Com o intuito de elaborar um diagnóstico sobre o impacto da pandemia de Covid-19 nas populações em situação de vulnerabilidade, sobretudo na população negra, o GT Racismo e Saúde da Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva) e o Instituto Pólis vêm investigando a qualidade dessas informações nesses sistemas.
Dados do DataSUS relacionados à Covid registrados no SIVEP Gripe (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica), no SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade), no SI-PNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações) e no eSUS Notifica (que monitora casos suspeitos de Covid19) foram selecionados e sistematizados para analisar a qualidade do preenchimento do campo “raça/cor da pele” ao longo da pandemia. Preocupa que alguns sistemas ainda não apresentem o preenchimento desse campo em nível satisfatório
O SIVEP Gripe, que trata das internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), incluindo a Covid, apresenta uma notificação do quesito “raça/cor da pele” em 80% das internações no Brasil. O preenchimento ideal seria de, ao menos, 90%.
Além disso, a variação entre as Unidades da Federação é grande e prejudica algumas análises. Enquanto SC, RR e TO preenchem acima de 95%, CE e RJ notificaram a “raça/cor da pele” em apenas 67% das internações. No DF, o dado foi preenchido somente em 53% dos casos.
O SIM, por outro lado, se destaca por apresentar taxas de notificação adequadas. Quase 97% dos óbitos nacionais por Covid registrados no sistema tiveram o campo raça/cor da pele preenchido. AL e ES são exceções, com preenchimento em apenas 77% e 84% dos óbitos, respectivamente.
O SI-PNI, que trata dos dados de vacinação contra Covid, tem uma taxa nacional de preenchimento do campo “raça/cor da pele” de 74%, percentual muito aquém do necessário para garantir um monitoramento apropriado do processo de imunização.
Além de insuficiente, o padrão de registro varia entre as unidades: TO tem o melhor preenchimento do campo, com 90%, e o DF tem o pior, com apenas 56,5%. A diferença não se resume às Unidades da Federação.
Um estudo feito no Município de São Paulo mostra que a notificação deste dado também é heterogênea na cidade. Bairros mais ricos e com população proporcionalmente mais branca registram o dado “raça/cor da pele” de apenas 7% da sua população vacinada.
É como se “branca” não fosse “raça/cor da pele”, já que em outras áreas da cidade, proporcionalmente mais negras, a mesma taxa de preenchimento chega a quase 81%.
Quanto às informações de casos suspeitos de Covid, cabe destacar que o e-SUS Notifica não disponibiliza o dado “raça/cor da pele” no DataSUS, embora este campo seja de preenchimento obrigatório na ficha de notificação.
Por um lado, é importante reconhecer que os dados de mortalidade apresentam notificação adequada, quanto ao campo “raça/cor da pele” –só dois estados registraram um preenchimento abaixo do ideal. Entretanto, em muitas Unidades da Federação, o preenchimento dos bancos sobre internações e sobre a vacinação esteve muito aquém do desejável.
O não preenchimento do campo “raça/cor da pele” relacionado às internações afeta gravemente, por exemplo, a comparação da letalidade entre pessoas brancas, pretas, pardas, amarelas e indígenas. A situação é mais preocupante quanto aos dados sobre infecção de Covid, já que o preenchimento deste campo nos registros de casos suspeitos não pode ser analisado, dada a sua completa ausência nas bases nacionais de acesso público.
Apesar do quesito “raça/cor da pele” ser obrigatório e considerado como indicativo de qualidade nos sistemas de informação do SUS desde 2017, por meio de portaria do Ministério da Saúde e da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), portanto, quando o preenchimento de fato deste campo é analisado nos sistemas de informação oficiais, os números mostram que ainda é necessário avançar muito para que cheguemos ao adequado monitoramento das iniquidades raciais de saúde, dentro e fora da pandemia.
Leia também:
Desigualdade racial: por que negros morrem mais que brancos na pandemia?
73% dos negros perderam renda no Brasil durante a pandemia
Organizações eclesiais denunciam a “Discriminação racial no Brasil no contexto da emergência Covid-19”
Sobre racismo estrutural no Brasil
ONU pede reformas urgentes contra racismo estrutural no Brasil
Apesar dos enormes desafios para superar o racismo estrutural, Brasil celebra o Dia da Consciência Negra em meio à globalização do debate. Entrevista especial com Kabengele Munanga
Orçamento, necropolítica e racismo estrutural
Escravidão, a origem do racismo
Democracia não combina com racismo
A escravidão contemporânea é apoiada em desigualdade, discriminação e racismo. Entrevista especial com Giselle Vianna
“O racismo estrutura a sociedade brasileira, está em todo lugar”. Entrevista com Djamila Ribeiro
Luiz Werneck Vianna: Uma rota de saída do inferno
Recebemos como herança maldita uma sociedade saída do ventre do latifúndio e da escravidão e fomos em nossa história lenientes em recusá-la. Ao contrário, seguimos em frente na ilusão de estarmos realizando obra civilizatória sem remover esse lastro pestilencial e até se aproveitando dele no que propiciava o ingresso na moderna ordem burguesa. Pagamos agora, gregos e troianos, nossos vícios de origem com as pragas que emulam com as das cenas bíblicas como as do bolsonarismo, da pandemia descontrolada, com a carnificina exercida sobre jovens pretos favelados e sob ameaça de que a fome venha ainda mais a afligir nossas populações desvalidas. Isolados do resto do mundo, não temos para onde fugir. As portas do êxodo estão fechadas para nós, que temos de ficar aqui e encontrar as vias de saída do inferno que nosso país se tornou.
O caminho para esta jornada é o da política que na aparência se mostra fértil para as incursões redentoras, mas basta que elas se iniciem para que se encontrem com os muros das nossas taras congênitas como as do patrimonialismo e do patriarcalismo que sempre o acompanha, engrenagens poderosas treinadas em barrar os processos de mudança, presentes em número expressivo na nossa representação parlamentar. Pois é preciso que se atente para o fato de que o atual governo não deve sua existência apenas à desastrada ação na política dos partidos democráticos, mas a uma concertação – elaborada sem dúvida açodadamente – de setores das elites cujas raízes se vinculam à formula reacionária com que o país veio ao mundo, tal como no caso exemplar das relações entre o secular latifúndio e o moderno agronegócio, uma das peças de sustentação do estado de coisas reinantes.
Tal circunstância, do ponto de vista do operador político democrático, deve ser levada em conta a fim de reparar na distância mantida entre as dimensões da política, em que o governo Bolsonaro mingua com as do social – entendidas aí restritivamente como a malha de interesses estruturadas a partir das ações das elites econômicas dominantes – até então confortáveis, em que pesem os desatinos presidenciais, com o terreno seguro que têm encontrado para a expansão dos seus negócios. Atuar nesse cenário, no contexto de uma pandemia que imobiliza a sociedade, reclama pela presença de personagens à altura do desafio de nos reconduzir à plenitude dos meios democráticos na condução da administração pública, objetivo ao alcance das mãos se tivermos a sabedoria de alguns dos nossos maiores como Ulisses Guimarães e Tancredo Neves na articulação de uma ampla coalizão democrática para a próxima sucessão presidencial, ou antes dela, na melhor das hipóteses.
Faz-se necessário compreender que a coalizão reacionária no poder, apesar da sua aparência caótica, nasce e persiste – como se evidencia no comportamento dos senadores governistas na atual CPI – como um projeto orientado para malbaratar o marco democrático fixado pala Carta de 1988 com os direitos sociais que consagrou e com seus procedimentos de controle do poder político. Imprimir um movimento de marcha à ré nas conquistas acumuladas por parte da sociedade em todas as suas esferas, das institucionais às culturais e comportamentais, tem sido o leit motiv do governo que aí está.
Com essa direção enviesada Bolsonaro arremedou a política retrô em questões internacionais e sobretudo ambientais de Donald Trump, fragorosamente derrotada nas últimas eleições americanas pela candidatura de Joe Biden cujo programa defendeu o retorno do seu país ao cultivo dos seus valores fundacionais. Essa metamorfose da cena internacional, de óbvio impacto em nosso continente, soma-se às dificuldades internas para que o “regime” Bolsonaro se reproduza, uma tentativa anacrônica de nos devolver aos idos do AI-5, especialmente vistas da perspectiva das questões ambientais e direitos humanos, em maré montante nos EUA e na União Européia, com a força gravitacional que suas políticas exercem sobre a cena brasileira.
Por dentro e por fora, as pretensões de continuidade do atual governo se confrontam com o mundo das coisas reais. Bolsonaro demonstra conhecer as dificuldades à sua frente, e, tal como Trump, de que é patética caricatura, envereda pelo atalho sinistro da conspiração contra o processo eleitoral, investindo contra o voto eletrônico, de notória lisura, atestada por várias investigações especializadas. Ainda como Trump, Bolsonaro visa melar o processo eleitoral, e, desde agora inicia esse movimento aliciando a ralé de camadas médias que o acompanha em ridículas passeatas de motocicletas, quando confessa sem rebuços, como Bonaparte às vésperas do golpe de 18 Brumário que leva seu nome, que a legalidade é o que nos mata.
Não será sem atropelos que teremos de volta a democracia livre dessa permanente conspiração que a assedia, para tanto, contamos com a vacinação massiva da população, agora alavancada pelos debates suscitados na CPI que esclarecem os motivos obscuros da inação do governo na obtenção de vacinas e destrancam as vias pelas quais elas podem ser melhor negociadas, a fim de que afinal, como já acontece em vários países, as ruas se abram às manifestações populares, que é o que nos falta para nos livrarmos da tormenta desse pesadelo.
Não é de ciência certa, em política nada é, mas se conseguirmos a lucidez que nos propicie, por cima dos pequenos apetites e das idiossincrasias que infestam a nossa política, articular o maior arco de alianças possível, está ao alcance das mãos trazer de volta a sanidade na administração pública e uma nova possibilidade para um ajuste necessário com o que subsiste em nós da herança maldita que recebemos ao vir ao mundo.
*Luiz Werneck Vianna, Sociólogo, PUC-Rio
Fonte:
IHU Online
http://www.ihu.unisinos.br/609152-uma-rota-de-saida-do-inferno-artigo-de-luiz-werneck-vianna
José Luis Oreiro: 'Sem medidas efetivas para controle da Covid-19, pandemia custará ainda mais caro ao Brasil'
Para o economista, “enquanto o vírus estiver circulando e as pessoas tiverem medo de morrer”, o setor de serviços não vai se recuperar e a indústria não conseguirá retomar sua capacidade de investimento e modernização
Patricia Fachin, IHU Online
O professor e economista José Luis Oreiro não tem meias palavras: “precisamos ter clareza de que o que afeta negativamente a economia não são as medidas de isolamento social, mas o vírus SARS-CoV-2 que causa a Covid-19”. Na entrevista a seguir, concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos - IHU, ele ainda detalha que “a negligência no combate à pandemia vai custar muito caro ao Brasil em 2021, tanto em termos de vidas humanas como em termos de atividade econômica perdida”. “Enquanto o vírus estiver circulando e as pessoas tiverem medo de morrer, as atividades ligadas ao setor de serviços serão duramente afetadas”, completa.
Já na indústria, pela natureza do negócio, ele diz que o impacto parece não ser tão grande. No entanto, chama atenção para o fato de que a pandemia pegou a indústria nacional num processo de desindustrialização que já dura pelo menos 20 anos. “Se o Brasil tivesse um percentual maior da sua força de trabalho na indústria de transformação, a queda do PIB teria sido menor. Vemos isso claramente nos países europeus. Países como a Alemanha, onde a indústria responde por um percentual maior do PIB e da força de trabalho empregada, tiveram uma queda menor do nível de atividade”, exemplifica.
E, ainda, há aqueles que são acometidos em cheio com a perda de renda e que encontraram no Auxílio Emergencial de 2020 a última saída para fugir da fome e do desespero. Cenário que, como bem lembra Oreiro, não se repetirá em 2021. “Não só os valores são menores, como ainda houve uma redução significativa do acesso ao benefício. Estima-se que, pelo menos, 20 milhões de pessoas que tiveram acesso ao auxílio no ano passado ficarão sem receber o benefício este ano. Veremos um aumento expressivo da miséria no Brasil por conta da irresponsabilidade do governo e do Congresso Nacional na renovação do Auxílio Emergencial em 2021”, dispara.
Para enfrentar a crise pandêmica, além de agir com a responsabilidade de promoção de um efetivo isolamento social e promover vacinação ampla e irrestrita, o professor defende a extensão do Auxílio Emergencial nos patamares do ano passado enquanto estivermos em pandemia. “Uma vez superada a pandemia, temos que passar à fase de reconstrução da economia do país por intermédio de um vasto programa de investimentos públicos em infraestrutura (mobilidade urbana, geração de energia, logística, estradas e ferrovias) com foco na descarbonização da economia”, indica.
José Luis da Costa Oreiro é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, possui mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-RJ e doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia pela UFRJ. Atualmente é professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília - UnB. Entre as inúmeras publicações, destacamos o livro Macroeconomia do Desenvolvimento: uma perspectiva keynesiana (publicado pela LTC em 2016) e o livro Macrodinâmica Pós-Keynesiana: crescimento e distribuição de renda (Alta Books, 2018).
Confira a entrevista.
IHU On-Line – Desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro se posicionou contrário ao isolamento social com a justificativa de que o isolamento poderia prejudicar a economia. Qual é a situação econômica do país neste momento em que também estamos imersos em uma crise sanitária e com altos índices de desemprego?
José Luis Oreiro – Antes de mais nada, precisamos ter clareza de que o que afeta negativamente a economia não são as medidas de isolamento social, mas o vírus SARS-CoV-2 que causa a Covid-19. As medidas de distanciamento social têm por objetivo reduzir o número de contágios para impedir o colapso do sistema de saúde. Essas medidas tiveram um relativo sucesso em 2020, mas agora em 2021 foram adotadas de forma tardia pelos governos subnacionais.
A população também relaxou as medidas de proteção, em parte por causa do cansaço com a situação posta pela pandemia, mas em parte por falta de uma campanha nacional de conscientização sobre os riscos da Covid-19. Caberia ao Ministério da Saúde vincular, por intermédio dos meios de comunicação social, informações para a população se prevenir do vírus. Isso não só não foi feito pelo Ministério da Saúde, como o presidente da República adotou comportamentos públicos que incentivaram as pessoas a minimizar o risco do novo coronavírus.
O resultado está aí, 300 mil brasileiros mortos e com o sistema de saúde entrando em colapso em várias cidades brasileiras. A negligência no combate à pandemia vai custar muito caro ao Brasil em 2021, tanto em termos de vidas humanas como em termos de atividade econômica perdida. Quero aqui deixar claro que não existe trade-off entre vidas e economia. Enquanto o vírus estiver circulando e as pessoas tiverem medo de morrer, as atividades ligadas ao setor de serviços serão duramente afetadas, mesmo na ausência de medidas de distanciamento social.
Patamares piores que na grande depressão
Em 2020, o PIB brasileiro teve uma contração de 4,1%, a maior desde a grande depressão de 1929. A taxa de desemprego atingiu 14% da força de trabalho e cerca de 9 milhões de brasileiros tiveram que se retirar da força de trabalho. O que salvou o ano de 2020 de ter sido muito pior foi o Auxílio Emergencial. Isso permitiu que milhões de pessoas tivessem uma condição financeira mínima para sustentarem a si mesmos e suas famílias num contexto em que o setor de serviços (responsável por cerca de 70% do PIB) se contraiu fortemente por conta da pandemia.
O peso da desindustrialização
Veja que a indústria não foi tão afetada pela pandemia como o setor de serviços, devido à natureza das relações de trabalho na indústria, que permitem distanciamento social sem interrupção do trabalho. A pandemia afetou muito a economia brasileira por conta do processo de desindustrialização prematura que ocorre há mais de 20 anos. Se o Brasil tivesse um percentual maior da sua força de trabalho na indústria de transformação, a queda do PIB teria sido menor. Vemos isso claramente nos países europeus. Países como a Alemanha, onde a indústria responde por um percentual maior do PIB e da força de trabalho empregada, tiveram uma queda menor do nível de atividade.
Já países onde o setor de serviços, particularmente o turismo, tem uma participação expressiva no PIB e na força de trabalho ocupada, como a Espanha e a Itália, tiveram quedas assombrosas do nível de atividade econômica.
A negligência no combate à pandemia vai custar muito caro ao Brasil em 2021, tanto em termos de vidas humanas como em termos de atividade econômica perdida – José Luis Oreiro
IHU On-Line – Que balanço faz das políticas econômicas adotadas durante o primeiro ano de pandemia? O que poderia ter sido feito para além do que se fez?
José Luis Oreiro – O Auxílio Emergencial foi, de longe, o maior acerto da política econômica, embora tenha sido iniciativa do Congresso Nacional, não da equipe do Ministério da Economia. Foi o auxílio que impediu que o PIB brasileiro caísse entre 8 e 9% em 2020, como era previsto por organismos internacionais como o FMI, Banco Mundial, Banco Central Europeu e Comissão Europeia.
O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Pronampe, que tinha por objetivo conceder crédito para essas empresas e assim permitir que elas pudessem sobreviver durante o período da pandemia, foi bem menos eficiente, no sentido de que os desembolsos realizados pelo programa ficaram aquém do esperado. Esse programa foi interrompido em 31/12/2020 e ainda não existe previsão de retorno. Já o BEm (Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda), que permitiu às empresas reduzir a jornada de trabalho (e os vencimentos) dos seus funcionários ou suspender temporariamente os contratos de trabalho, com o governo cobrindo uma parte da perda de renda dos funcionários dessas empresas, foi mais bem-sucedido, pois evitou um grande número de demissões e ajudou a manter a renda (ainda que com uma certa redução) dos trabalhadores. O problema é que esse programa também foi extinto em 31/12/2020 e não existe previsão de retorno.
Se o governo tivesse renovado o estado de calamidade pública no dia 31/12/2020 por, pelo menos, mais 120 dias, a Emenda Constitucional do Orçamento de Guerra continuaria válida, permitindo ao governo manter o pagamento do Auxílio Emergencial, bem como o Pronampe e o BEm, pois não seria obrigado a retornar à "disciplina fiscal" imposta pela EC do Teto de Gastos e pela "Regra de Ouro". Estamos quase no final de março e nenhum desses programas foi retomado. Acredito que o efeito sobre o nível de atividade econômica e o emprego será devastador.
IHU On-Line – Como avalia o novo Auxílio Emergencial para trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família, que será pago a partir de abril, em quatro parcelas, com valores de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375?
José Luis Oreiro – Representa uma redução gigantesca com relação aos valores pagos no ano de 2020, num contexto em que o Brasil entrou com força numa segunda onda de contágios e mortes por Covid-19, na qual o índice de óbitos por dia já se encontra 2,5 vezes maior do que na pior fase da primeira onda.
Veremos um aumento expressivo da miséria no Brasil por conta da irresponsabilidade do governo e do Congresso Nacional na renovação do Auxílio Emergencial em 2021 – José Luis Oreiro
Não só os valores são menores, como ainda houve uma redução significativa do acesso ao benefício. Estima-se que, pelo menos, 20 milhões de pessoas que tiveram acesso ao auxílio no ano passado ficarão sem receber o benefício este ano. Veremos um aumento expressivo da miséria no Brasil por conta da irresponsabilidade do governo e do Congresso Nacional na renovação do Auxílio Emergencial em 2021.
IHU On-Line – A inflação está subindo, a atividade econômica desacelerando em alguns setores e, do ponto de vista sanitário, o país está em colapso. O aumento da inflação representa algum risco no atual contexto de crise econômica, desemprego e crise sanitária?
José Luis Oreiro – O aumento da inflação ocorrido nos últimos meses é resultado de um choque de oferta, não devido a pressões de demanda, por isso mesmo trata-se de um fenômeno transitório: a partir de junho/julho de 2021 a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acumulada em 12 meses começará a ceder após alcançar um pico entre 6 e 7%, fechando o ano de 2021 em torno de 4%.
Por que a inflação se acelerou nos últimos 12 meses? Em primeiro lugar, devido ao aumento dos preços dos alimentos causado por uma combinação de fatores: desvalorização acentuada da taxa de câmbio em 2020 (cerca de 40% entre janeiro e dezembro de 2020); aumento dos preços dos alimentos nos mercados internacionais em função da demanda precaucional de alimentos por parte de diversos países dada a incerteza sobre os efeitos da pandemia no abastecimento de alimentos; e a eliminação dos estoques reguladores de alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab levada a cabo nos governos liberais de [Michel] Temer e [Jair] Bolsonaro.
Sem estoque, sem controle
Se o Brasil, a exemplo dos Estados Unidos, tivesse mantido um estoque grande de alimentos em 2020, então o governo poderia vender esse estoque no segundo semestre do ano passado, o que contribuiria para reduzir a pressão sobre os preços dos alimentos, assim reduzindo a inflação. Mas Paulo Guedes achava que era muito caro manter esses estoques e decidiu vender praticamente tudo em 2019. O resultado é que o Estado Brasileiro ficou sem um importante instrumento para conter pressões inflacionárias vindas do lado da oferta da economia.
IHU On-Line – Em que consiste sua proposta para a retomada do crescimento da economia, baseada no Auxílio Emergencial, no ajuste fiscal e na reindustrialização? Como essa arquitetura pode resolver o problema da renda, do emprego e da retomada da economia?
José Luis Oreiro – O Auxílio Emergencial, como o próprio nome diz, é para atacar uma emergência: trata-se de transferir renda para aquelas pessoas que, devido à pandemia, ficaram sem emprego ou sem condições de exercer alguma atividade remunerada. Esse auxílio deve permanecer até que o país atinja, por intermédio das campanhas de vacinação, a chamada imunidade de rebanho, o que seria, talvez, 70% da população com mais de 14 anos.
Uma vez superada a pandemia, temos que passar à fase de reconstrução da economia do país por intermédio de um vasto programa de investimentos públicos em infraestrutura (mobilidade urbana, geração de energia, logística, estradas e ferrovias) com foco na descarbonização da economia, ou seja, com a redução da emissão de CO2 por unidade de PIB, ou seja, aumentar a eficiência ambiental da economia brasileira. Trata-se de uma verdadeira mudança estrutural verde na economia brasileira, em que será estimulada a adoção de tecnologias não poluentes e/ou que permitam a captura de CO2 da atmosfera.
Uma vez superada a pandemia, temos que passar à fase de reconstrução da economia do país por intermédio de um vasto programa de investimentos públicos em infraestrutura com foco na descarbonização da economia – José Luis Oreiro
Isso vai exigir vultosos investimentos tanto do setor público, como do setor privado. Como são investimentos em novas tecnologias, o governo deverá, por intermédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, conceder crédito subsidiado para a realização dos mesmos, exigindo contrapartidas concretas e mensuráveis em termos da redução de emissão de CO2. Essa transformação estrutural será um elemento importante para a reindustrialização da economia brasileira.
Carga de impostos
Esse pacote de investimentos terá que ser financiado por intermédio do aumento da carga tributária. É uma falácia dizer que não é possível aumentar a carga de impostos no Brasil. É possível sim, conforme artigo de Alexandre Sampaio Ferraz, publicado recentemente no Nexo Jornal.
A alíquota efetiva do imposto de renda das pessoas físicas começa a cair a partir dos 2% mais ricos, e despenca quando chegamos nos 0,1% mais ricos da população brasileira. Isso é o resultado da combinação entre isenção de imposto de renda para lucros e dividendos distribuídos, crescente pejotização dos profissionais liberais e alíquota mais baixa de imposto de renda para a renda financeira (ganhos de capital sobre ativos e juros das aplicações financeiras). Como a proporção de lucros, dividendos e renda financeira na renda total é muito mais alta no topo da distribuição de renda do que na parcela intermediária (a "classe média"), os brasileiros mais ricos pagam, como proporção da sua renda, muito menos do que os funcionários públicos (que a Faria Lima diz serem a elite do Brasil) ou os pequenos e médios empresários.
Daqui se segue que uma reforma tributária que contemple não apenas a criação do Imposto sobre Bens e Serviços - IBS, como previsto na PEC 45, como também a tributação de lucros e dividendos distribuídos e o aumento do imposto de renda sobre ganhos financeiros irá resultar num aumento expressivo da arrecadação de impostos, permitindo uma consolidação fiscal de médio prazo pelo lado da receita.
IHU On-Line – Os economistas costumam se situar em polos extremos: ou defendem o gasto social sem restrições ou defendem o equilíbrio das contas independentemente da situação social do país. O senhor tem defendido "um limite para o aumento da dívida pública". Em que consiste sua proposta?
José Luis Oreiro – A dívida pública como proporção do PIB não pode aumentar indefinidamente, mesmo sendo denominada na moeda que o país emite; mas não existe um número mágico a partir do qual os mercados deixam de financiar o Tesouro. O importante é desenhar um plano de consolidação fiscal de médio-prazo (5 a 10 anos) que mostre que a relação dívida pública/PIB irá começar a cair dentro desse horizonte de tempo. Para isso a combinação de aumento do investimento público com reforma tributária será absolutamente necessária: o aumento do investimento público irá acelerar o crescimento da economia e a reforma tributária permitirá que uma parcela maior do crescimento do PIB se transforme em aumento da arrecadação de impostos.
Esse é o ajuste fiscal inteligente que o Brasil precisa, não esse terraplanismo econômico do "teto de gastos" adotado em 2016 e que foi totalmente ineficaz no que se refere ao propósito para o qual foi criado, a saber: a redução do endividamento do setor público.
IHU On-Line – Em decorrência da crise pandêmica e também do Auxílio Emergencial concedido no ano passado, voltou à tona a discussão sobre a elaboração de programas de transferência de renda mais amplos e abrangentes. Alguns, inclusive, propõem uma renda mínima universal incondicional. Como o senhor tem refletido sobre essa questão, especialmente na atual conjuntura? Que desenho de programa de transferência de renda é desejável e possível neste momento?
José Luis Oreiro – Sou favorável a um programa emergencial de renda básica enquanto durar a pandemia, aliás, fui signatário do manifesto do Movimento Direitos Já em defesa do pagamento de um valor de R$ 600,00 a título de Auxílio Emergencial até, no mínimo, o final de 2021. Situações excepcionais exigem medidas excepcionais. Mas não gosto de um programa de renda mínima universal incondicional.
Sou favorável a um programa emergencial de renda básica enquanto durar a pandemia. Situações excepcionais exigem medidas excepcionais. Mas não gosto de um programa de renda mínima universal incondicional – José Luis Oreiro
A renda mínima deve ser concedida apenas para aquelas pessoas que, por diversas contingências da vida, são incapazes de se inserir de forma produtiva na sociedade. Aqui tem um julgamento de valor meu, o qual reflete minha visão cristã e católica do homem e do mundo: Deus criou o homem para guardar e cuidar do jardim do Éden. É o trabalho que dá ao homem sua dignidade como criatura feita à imagem e semelhança de Deus. O trabalho não é apenas um meio para se ganhar a vida, mas é a forma pela qual o homem coopera com Deus na obra de criação.
Tendo esse princípio em mente, eu prefiro um programa de garantia de Emprego pelo Estado, tal como o defendido pelo senador Bernie Sanders nos Estados Unidos. Todo cidadão, não importa gênero, idade, orientação sexual, religião ou etnia, tem direito a um emprego digno com o qual possa não apenas ganhar seu sustento, mas contribuir para o bem comum.
IHU On-Line – Como avalia a decisão do Comitê de Política Monetária - Copom de elevar a taxa Selic para 2,75%? O que essa medida indica e sinaliza para os próximos meses em relação à política de juros no país?
José Luis Oreiro – Foi uma decisão errada, que mostra a força do rentismo no país. Em linhas gerais, o Banco Central reagiu a um choque temporário de oferta com uma elevação da taxa de juros em 0,75 p.p. e sinalizou que irá continuar o processo de "normalização" da política monetária nos próximos meses, ou seja, irá continuar aumentando a Selic.
Segundo estimativas do próprio Banco Central, um aumento de 1,5 p.p. na Selic irá produzir uma elevação de R$ 47,7 bilhões na dívida bruta do governo geral; um valor equivalente a um mês de Auxílio Emergencial de R$ 600,00 para um público de 67 milhões de pessoas. Em outras palavras, o governo não tem dinheiro para pagar o mesmo valor de Auxílio Emergencial que pagou em 2020, mas tem dinheiro para o PESFL, “Programa Emergencial de Socorro à Faria Lima”. É muita cara de pau.
O governo não tem dinheiro para pagar o mesmo valor de Auxílio Emergencial que pagou em 2020, mas tem dinheiro para o PESFL, "Programa Emergencial de Socorro à Faria Lima" – José Luis Oreiro Tweet
IHU On-Line – Em fevereiro deste ano, o Congresso aprovou a autonomia do Banco Central, que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, com a justificativa de "evitar pressões políticas na condução da política de juros da instituição". Como o senhor avalia essa medida?
José Luis Oreiro – Foi essa medida que deu ao Banco Central os graus de liberdade para tomar a decisão insana de aumentar a taxa de juros no meio da pior crise econômica e sanitária de nosso país. Veja que a autonomia do Banco Central foi aprovada antes da PEC emergencial e até mesmo antes de o Congresso Nacional ter aprovado o orçamento de 2021.
Por que tanta pressa dado que essa discussão já se arrasta há mais de 30 anos? Foi porque a turma do mercado financeiro receava a intervenção do presidente da República no Banco Central do Brasil caso o mesmo fizesse o que acabou fazendo. Agora não só Bolsonaro como o próximo presidente da República estarão de mãos atadas no que se refere à condução da política monetária. Perdeu a Democracia, ganhou a Plutocracia.
IHU On-Line – O senhor costuma criticar o que chama de "porta giratória" do Banco Central, mas também do Ministério da Economia, no sentido de que economistas, depois de trabalharem para essas instituições do Estado, passam a atuar no mercado financeiro. Que problemas percebe nessa relação?
José Luis Oreiro – É um problema de captura do regulador pelo regulado. Por que um economista que não concluiu seu doutorado, que nunca estudou ou trabalhou com finanças é convidado para ser economista chefe e sócio de um dos maiores bancos de investimento do país depois de ter trabalhado no Ministério da Economia? Na minha cabeça só existe uma explicação possível: recompensa pelos bons serviços prestados ao setor financeiro quando de sua atuação no setor público. Assim, simples.
IHU On-Line – Quais são suas projeções para a economia brasileira no decorrer deste ano?
José Luis Oreiro – Eu estaria sendo néscio se cravasse um número para o crescimento do PIB em 2021. A incerteza é muito grande. Ao que tudo indica, a pandemia está fora de controle no Brasil. A base de apoio do governo no Congresso começa a mandar sinais de descontentamento. O Ministério da Economia não tem um plano concreto de medidas de incentivo econômico e, para piorar, o Banco Central vai "normalizar" a política monetária. Eu aposto que o PIB irá se contrair no primeiro e no segundo semestre deste ano. O que vai ocorrer no segundo semestre eu não faço a menor ideia. Incerteza pura. Não dá para fazer previsão.
IHU On-Line – Deseja acrescentar algo?
José Luis Oreiro – Eu aconselharia o presidente Bolsonaro a adotar um gesto de grandeza e renunciar ao cargo de presidente da República. Seria melhor para todos, inclusive para ele que, aparentemente, se sente sufocado pelo peso da responsabilidade de governar um país onde a maior parte das pessoas não gosta dele e/ou não concorda com as decisões que ele toma.
Leia mais
- O terraplanismo econômico pavimenta o caminho da barbárie. Entrevista especial com José Luis Oreiro
- "O diagnóstico de Guedes de que o crescimento da economia é baixo porque o Estado está inchado não se sustenta". Entrevista especial com José Luis Oreiro
- Uma estratégia nacional de desenvolvimento depende de uma coalização de classes desenvolvimentista. Entrevista especial com José Luis Oreiro
- Economia brasileira: o futuro depende da reindustrialização. Entrevista especial com José Luis Oreiro
- 300 mil mortos: “Não existiu nem existe gestão das crises vividas no Brasil”. Entrevista especial com Rubens Ricupero, Roberto Romano e Rudá Ricci
- Quando o Brasil superará sua grande crise? Entrevista especial com Renato Janine Ribeiro, Luiz Carlos Bresser-Pereira e Leda Paulani
- A crise se aprofunda. Um autogolpe pode agravá-la. Uma nova 'imaginação' é necessária. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
- O culto à morte forjou o “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. Entrevista especial com João Cezar de Castro Rocha
- Renda básica é a única saída para o Brasil. Entrevista especial com Paola Carvalho
- O risco da “voucherização" da economia e a tributação dos super-ricos como via para garantir a renda básica universal. Entrevista especial com Maria Regina Paiva Duarte
- Seminário examina a proposta do Papa Francisco para uma Renda Básica Universal
- Por uma numa renda básica parcial, que incorpore as características de uma renda básica universal (incondicional, regular, em dinheiro, individual e universal). Entrevista especial com Fábio Waltenberg
- A renda universal, um salário de novo tipo, deve ser a matriz para o futuro da organização da sociedade. Entrevista especial com Bruno Cava
- Renda mínima e desemprego: os desafios nas eleições de 2022. Entrevista especial com Paulo Baía
- Auxílio emergencial compra meio bife, meio copo de leite, três colheres de arroz
- Bolsonaro reduz valor do auxílio emergencial e exclui 22,6 milhões de pessoas do pagamento
- Lockdown nacional e auxílio emergencial justo, já!
- Tributar super-ricos garantiria recursos para auxílio emergencial sem condicionantes
- Emergência da fome intensifica luta pelo Auxílio Emergencial e evidencia necessidade da renda mínima. Entrevista especial com José Antônio Moroni
Daniel Aarão Reis: O bolsonarismo - Uma concepção autoritária em formação
A eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República do Brasil, em novembro de 2018, surpreendeu e criou um estado de perplexidade e desorientação sobretudo no campo das esquerdas, mas também entre forças de centro e das direitas democráticas.
O presente artigo tenta contribuir para a compreensão do fenômeno, articulando-se nas seguintes seções: (1) Contexto internacional da ascensão das extremas-direitas; (2) A ascensão da extrema-direita no Brasil; (3) O caráter da extrema-direita brasileira; (4) A construção de alternativas democráticas.
A análise é de Daniel Aarão Reis, professor na Universidade Federal Fluminense (UFF), em artigo publicado por A Terra é Redonda, 09-03-2021.
Eis o artigo.
O contexto internacional da ascensão das extremas-direitas [i]
O crescimento das forças políticas de extrema-direita e de diversos tipos de regimes autoritários é uma tendência mundial desde fins do século XX e inícios do presente século.
No cerne do processo encontra-se o que se convencionou chamar de revolução digital ou informática que tem mudado radicalmente os padrões civilizatórios da humanidade. À semelhança da chamada revolução fordista que, na virada dos séculos XIX/XX, transformou em profundidade as sociedades humanas, a civilização da informação, produto da atual revolução, tem igualmente produzido efeitos sociais, políticos, culturais e econômicos desestabilizadores.
No quadro da nova revolução, destacam-se alguns aspectos na economia e na sociedade: a aceleração, desde os anos 1970, das desigualdades sociais e econômicas (T. Piketti, 2014); a partir dos anos 1980, a consolidação da hegemonia do capital financeiro, com ênfase para os capitais especulativos e os paraísos fiscais libertados de anteriores legislações restritivas; o enfraquecimento das regulamentações que regiam os movimentos internos e internacionais de capitais e mercadorias; a privatização de setores econômicos e serviços públicos, mesmo dos que eram até então considerados estratégicos aos interesses nacionais; a fragilização correspondente da capacidade de intervenção e controle dos Estados Nacionais; desde os anos 1990, o surgimento de novos setores/atividades dinâmicos, como, entre outros, a informática, a biotecnologia, a robótica, a inteligência artificial, de alto nível de monopolização ou oligopolização, com impactos radicais na área das comunicações (internet, mídias sociais, etc.); a realocação internacional da produção industrial mundial e o declínio acelerado do peso demográfico das classes operárias nos países capitalistas mais poderosos; a desarticulação e a precarização dos mercados de trabalho (uberização) e das instituições sindicais tradicionais; o surgimento de novos polos de desenvolvimento (Índia, China) e de megamercados regionais, alterando o equilíbrio instaurado no pós-Segunda Guerra Mundial.
Os regimes de democracia representativa têm sido incapazes de lidar com os desafios decorrentes destas mutações. As instituições políticas e jurídicas perdem credibilidade ao não atender às demandas sociais. Entre os jovens e as classes populares acentua-se o desinteresse em relação aos processos eleitorais e a desconfiança em relação a um sistema político criticado como ineficaz, corrupto e desmoralizado (S. Levitsky e D. Ziblatt, 2018 e D. Runciman, 2018). Trata-se de um processo em curso desde os anos 1960/1970, quando passaram a emergir como protagonistas das lutas políticas, movimentos sociais que não se deixam enquadrar pelos jogos institucionais ou/e eleitorais (D. Aarão Reis, 2018).
Os regimes de democracia representativa têm sido incapazes de lidar com os desafios decorrentes destas mutações - Daniel Aarão Reis Tweet
Instaurou-se uma “sociedade da insegurança” (N. Fraser, 2007). Os que perdem posições ou não conseguem mantê-las, as grandes massas de assalariados ou dos que vivem do próprio trabalho, sentem-se amedrontados. As referências culturais que pareciam sólidas desmancham no ar. Ações terroristas, desde 2001 (T. Ash, 2011); crises econômicas e catástrofes naturais acentuam uma atmosfera de incertezas e angústia.
As forças e os partidos políticos reformistas, democráticos ou socialistas não têm conseguido apresentar propostas que sejam capazes de reformar as estruturas políticas e econômicas, diminuir as desigualdades sociais ou/e questionar a hegemonia do grande capital financeiro [ii]. Encolhidos nas fronteiras nacionais perdem capacidade de enfrentar fenômenos que se desdobram globalmente e não conseguem controlar ou atenuar os efeitos destrutivos da revolução em curso.
Têm sido assim identificados, com ou sem razão, como sócios de regimes incapazes de defender as grandes maiorias, o que se tornou particularmente evidente no enfrentamento da crise econômica de 2008, quando o custo de superação de seus efeitos desabou nas costas dos trabalhadores assalariados (A. Przeworski, 2019).
É neste quadro geral de desespero que se reforçam as tendências e propostas nacionalistas e autoritárias de direita, num processo de reação nacionalista [iii], quase sempre expressas através de organizações ou partidos de extrema-direita [iv].
O fenômeno Donald Trump nos Estados Unidos, o crescimento das forças de extrema-direita na Europa Ocidental (Itália, França e Inglaterra) e Central (Hungria e Polônia), na Ásia (Índia e Filipinas) e na América Latina (Chile, Colômbia e Brasil) atestam a existência do processo. Uma de suas principais particularidades é que tais forças não se confrontam abertamente com as instituições democráticas, mas as instrumentalizam, corroendo-as por dentro, desfigurando-as. Combinam eficazmente o recurso à opinião pública e o uso intenso das chamadas mídias sociais no quadro de opções nacionalistas, antidemocráticas e conservadoras do ponto de vista social e religioso [v].
É neste quadro geral de desespero que se reforçam as tendências e propostas nacionalistas e autoritárias de direita, num processo de reação nacionalista, quase sempre expressas através de organizações ou partidos de extrema-direita
Daniel Aarão Reis
A ascensão da extrema-direita no Brasil
A vitória de Jair Bolsonaro insere-se neste quadro internacional. É a expressão brasileira destas tendências.
Para compreendê-la, uma vez contextualizada no plano internacional, proponho a articulação de três temporalidades: na longa duração, o estudo das tradições autoritárias de direita no país; na média duração, a deterioração do sistema político entre a promulgação da Constituição de 1988 e as eleições de 2018; na curta duração, a incidência da campanha eleitoral e seus efeitos.
As tradições autoritárias de direita: a longa duração
São densas as tradições autoritárias de direita no Brasil. Entre outras, destacam-se o racismo; as desigualdades sociais; o patrimonialismo e o mandonismo; a exploração sistemática do anticomunismo; a discriminação de gênero e os regimes democráticos fechados e elitistas.
Examinemos cada um destes aspectos.
As relações escravistas, antes de serem tardiamente abolidas, disseminaram-se por toda a sociedade (escravismo doméstico ou de proximidade), gerando desprezo pelo trabalho manual e relações hierárquicas. O processo peculiar de miscigenação, apresentado como antídoto à discriminação racial, apenas disfarçou formas onipresentes de racismo, evidenciadas, entre outros índices, nas desigualdades de emprego, de renda e de educação; no uso e abuso da violência policial; na população carcerária. Um racismo estrutural. E estruturado [vi].
É neste quadro geral de desespero que se reforçam as tendências e propostas nacionalistas e autoritárias de direita, num processo de reação nacionalista, quase sempre expressas através de organizações ou partidos de extrema-direita
Daniel Aarão Reis
As desigualdades de toda a ordem não foram atenuadas pelo progresso econômico, registrado entre 1930 e 1980. Mesmo as políticas de redução da pobreza, quando formuladas e aplicadas (2002-2010), reproduziram padrões brutais de desigualdades regionais e sociais, configurando amplas maiorias numa condição de cidadania de segunda classe, cujos direitos, embora proclamados em leis e mesmo na constituição, não se concretizam, a não ser muito parcialmente, na prática social.
O patrimonialismo e o mandonismo, fundamentos da Ordem agrária, ancorados longe no passado colonial, conservaram grande força. Em artigo recente, o antropólogo Roberto Da Matta referiu-se “ao colonialismo autoritário e burocrático, radicalmente católico e anti-igualitário”, combinado a “laços de puxa-saquismo com punhos de renda, irmão de um desumano escravismo negro”. [vii] O processo de urbanização não dissolveu sua força e incidência, nem a República, proclamada em 1889, foi capaz de neutralizar seus efeitos. O acesso limitado à plena cidadania – apesar do que dizem os textos legais – reproduz a preeminência das relações pessoais em detrimento de códigos legais impessoais.
A discriminação de gênero persiste, evidenciada em altos índices de violência doméstica e de estupros [viii]. Os avanços no sentido da emancipação da mulher são muito recentes, datando dos anos 1970, salvo o direito de voto, assegurado desde 1934. As desigualdades profissionais e de renda, o limitado acesso aos níveis mais altos de prestígio social e de remuneração, a criminalização da interrupção voluntária da gravidez atestam a subordinação violenta da “segunda metade do céu”.
O anticomunismo tem uma longa história no país. Esteve presente nos anos que assistiram à irrupção da revolução soviética. Seria retomado com imensa ênfase depois da insurreição revolucionária liderada pelos comunistas, ocorrida em novembro de 1935, servindo, um pouco mais tarde, como principal pretexto para o golpe de 1937, que instaurou a ditadura do Estado Novo, entre 1937-1945.
Nestas condições, as instituições democráticas não poderiam mesmo se consolidar. Uma república proclamada através de um golpe de estado, o permanente monitoramento do regime político pelos militares, a seletividade elitista na atribuição da cidadania, a extensão soluçante e limitada dos direitos civis, políticos e sociais - Daniel Aarão Reis Tweet
Como um espectro, condicionaria a sociedade brasileira nos anos 1950 e, em especial, na conjuntura que precedeu o golpe civil-militar de 1964, quando, mais uma vez, seria uma bandeira central para a unificação das forças golpistas, permanecendo vivo ao longo da ditadura, até 1979. Durante todos estes anos, mobilizadas pela Igreja Católica, as forças conservadoras – e, às vezes, até mesmo partidos de esquerda – acionariam permanentemente o comunismo como um espantalho, um perigo imediato, ameaçador, pondo em perigo as instituições e a própria vigência da “civilização cristã” no país [ix].
Nestas condições, as instituições democráticas não poderiam mesmo se consolidar. Uma república proclamada através de um golpe de estado, o permanente monitoramento do regime político pelos militares, a seletividade elitista na atribuição da cidadania, a extensão soluçante e limitada dos direitos civis, políticos e sociais, os principais saltos econômicos registrados sob dominação de regimes ditatoriais (1937/1945 e 1964/1979), tudo disso deixou marcas profundas nas tendências políticas de direita e de esquerda. O reconhecimento de amplos direitos data apenas dos últimos anos do século XX (Constituição de 1988), mas muitos dispositivos legais existem apenas no papel.
A combinação destes aspectos na longa duração estruturou uma sociedade marcada pelas desigualdades, hierarquia, violência, intolerância e discriminações (L. Schwarcz, 2019 e H.Starling, 2019).
Sem embargo, foi notável como amplos círculos – políticos e intelectuais – tenderam a subestimar a força destas tradições e a considerar a democracia brasileira como “consolidada”. Um caso típico de cegueira política e histórica.
Nunca foi tão urgente como hoje superar este equívoco.
Vários historiadores, desde os primeiros anos deste século, têm chamado atenção para as “relações complexas” que se estabeleceram entre as ditaduras e a sociedade, evidenciando como aquelas não foram produto apenas da vontade das classes dominantes e da repressão, (ressalvado o papel fundamental desta última), mas contaram, sob hegemonia do grande capital financeiro, com apoios transversais em todos os níveis da sociedade. Efetivamente, em torno dos dois regimes ditatoriais que se impuseram no país no século XX (1937-1945; 1964-1979 [x]), foi possível construir não raro um consenso social significativo, o que oferece subsídios para a compreensão da instauração quase pacífica de ambos e dos processos também pacíficos de sua superação. Importantes pesquisas têm demonstrado a adequação desta interpretação[xi].
Considerar as tradições autoritárias para compreender a atual ascensão da extrema-direita não deve conduzir, porém, à sua absolutização [xii]. Apesar destas tradições, maiorias expressivas elegeram à presidência da república o sociólogo de centro-esquerda Fernando Henrique Cardoso (1994/2002), o líder operário, Luiz Inácio Lula da Silva (2002/2010) e Dilma Rousseff (2010/2016), ex-militante da luta contra a ditadura. Em outras palavras: as tradições autoritárias condicionam opções, mas não as determinam automaticamente. Como gostava de dizer o intelectual israelense, Amoz Oz: “o passado nos pertence, não pertencemos ao passado”. As tradições, embora poderosas, não podem expulsar a política da história. A longa duração não exclui a avaliação da média e da curta duração. Cumpre agora analisar estas últimas.
As “relações complexas” que se estabeleceram entre as ditaduras e a sociedade, evidenciando como aquelas não foram produto apenas da vontade das classes dominantes e da repressão, mas contaram, sob hegemonia do grande capital financeiro, com apoios transversais em todos os níveis da sociedade
Daniel Aarão Reis
A média duração: a grande conjuntura 1988/2018
Tornou-se comum denominar o período que se inaugurou com a aprovação da Constituição de 1988 como “nova república” [xiii]. Segundo os adeptos da denominação, ela teria entrado em crise com o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, e sido definitivamente enterrada com a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018 [xiv] (A. Alonso, 2019 e E. Solano, 2019).
Aceite-se ou não a periodização, o fato é que a grande conjuntura entre 1988 e 2018 oferece uma plataforma interessante para avaliar as circunstâncias e as opções que levaram à perda radical do prestígio de um sistema político que parecia tão promissor em fins do século XX. Trata-se de uma reflexão importante, eis que a vitória da extrema-direita e de Jair Bolsonaro está intimamente vinculada à desmoralização do sistema político atual.
Entre outros aspectos, o que marca a trajetória da nova república, do ponto de vista político, ressalvados os anos presididos por Collor de Mello [xv] é a preeminência da polarização entre o Partido da Social-Democracia Brasileira/PSDB e o Partido dos Trabalhadores/PT [xvi]. Os dois partidos encarnaram as aspirações reformistas no sentido da construção de uma sociedade democrática e menos desigual.
A visibilidade, o prestígio e o poder adquiridos por eles corresponderam a políticas de defesa dos interesses das grandes maiorias. Entre muitas outras, o controle da inflação, empreendido nos anos de governo do PSDB e as políticas de distribuição de renda e as chamadas afirmativas contra o racismo, implantadas nos anos de governo do PT, em particular nos mandatos de Lula (2002/2010). Tiveram impacto positivo na redução dos índices de pobreza, mas não alteraram o padrão das desigualdades sociais que se mantiveram ou até se ampliaram. Entretanto, o ímpeto reformista dos dois partidos foi se arrefecendo, configurando-se, em ambos os casos, um “reformismo mole” (A. Singer, 2012).
Fez parte deste processo o pouco apreço por uma política ativista de memória, capaz de suscitar debates sociais e políticos a respeito do período ditatorial, características e legados, bem como a ausência de um debate socialmente amplo sobre direitos humanos e a condenação veemente de crimes contra a humanidade, cometidos pelo Estado brasileiro durante as ditaduras do século XX (D. Aarão Reis, 2019ª). O inventário das cicatrizes deixadas pela ditadura deixou de ser feito, com evidente prejuízo para a consciência cidadã [xvii].
Fez parte deste processo o pouco apreço por uma política ativista de memória, capaz de suscitar debates sociais e políticos a respeito do período ditatorial, características e legados, bem como a ausência de um debate socialmente amplo sobre direitos humanos e a condenação veemente de crimes contra a humanidade, cometidos pelo Estado brasileiro durante as ditaduras
Daniel Aarão Reis
Ao perderem as eleições para o PT, em 2002, o PSDB e seu líder, Fernando Henrique Cardoso, já registravam um considerável desgaste. Alianças consideradas sem princípios com partidos e grupos notoriamente conservadores e corruptos haviam corroído sua aura reformista e inovadora. Nada, no entanto, que ameaçasse sua posição de polo insubstituível nas lutas políticas institucionais.
Quanto ao PT, já no primeiro governo de Lula, escândalos de corrupção e principalmente o abandono de propostas reformistas mais consistentes começaram a abalar o prestígio e a colocar em dúvida os compromissos políticos do partido e do presidente. Entretanto, as dúvidas pareceram superadas com a reeleição de Lula (2006), e ao longo do segundo mandato (2006/2010), quando o país viveu momentos de intensa euforia social e política, o que se confirmaria com a eleição de Dilma Rousseff (2010). A nova república parecia segura e não poucos celebravam a consolidação da democracia no Brasil, chancelada internacionalmente com a aprovação do país como sede da Copa do Mundo (2014) e das Olimpíadas de Verão (2016).
A partir de 2010, no entanto, começaram a se fazer sentir os impactos da grande crise econômica mundial de 2008, muito subestimados e por isso mesmo mal atenuados ou controlados. Num quadro de agravamento das contradições, demandas sociais explodiram em vários níveis: por emprego; por serviços públicos de qualidade; por políticas de combate à corrupção, cuja existência tornou-se assunto nacional a partir de sucessivos escândalos envolvendo empresários e políticos; por políticas positivas em relação à segurança que, nas cidades, se tornava uma questão maior para todas as classes sociais.
As grandes manifestações de 2013, politicamente plurais, revelaram uma profunda insatisfação e desconfiança em relação aos partidos e lideranças políticas, expressas por multidões nas ruas e praças públicas.
Entretanto, face a este conjunto de desafios, PT e PSDB mostraram-se incapazes de oferecer propostas construtivas e credíveis. Enredados em suas querelas e jogos de poder, perdida sua vocação reformista original, era como se estivessem distanciados da sociedade, sem nexos com os problemas que atormentavam as pessoas comuns. Começou a brotar a ideia de que o sistema político já não funcionava a contento. Falido? Alguns começavam a dizer que estava podre.
Foi numa atmosfera de exasperação de contradições, condições propícias para a emergência de lideranças salvacionistas, outsiders supostos ou reais, que se abriu o ano eleitoral de 2018[xviii]. Ainda não estavam, porém, dadas todas as condições que ensejariam a vitória de Jair Bolsonaro.
Elas aconteceram na campanha eleitoral, na curta duração. Daí porque ser tão importante analisar esta temporalidade. Em caso contrário, como já se disse, a política seria expulsa da história.
As grandes manifestações de 2013, politicamente plurais, revelaram uma profunda insatisfação e desconfiança em relação aos partidos e lideranças políticas, expressas por multidões nas ruas e praças públicas
Daniel Aarão Reis
A campanha eleitoral de 2018: a curta duração
A análise da campanha eleitoral, na temporalidade da curta duração, é indispensável para a compreensão da ascensão da extrema-direita ao governo pelo voto.
Em pesquisas realizadas em 22 de agosto, menos de dois meses antes do primeiro turno, Bolsonaro ainda se mantinha em 22% das intenções de voto, e poucos acreditavam que fosse capaz de alcançar patamares muito mais altos. Daí a quase três semanas, em 10 de setembro, ele ganhara apenas mais 2 pontos, chegando a 24% das intenções de voto [xix]. Em outras palavras, apesar das tradições autoritárias e do desgaste do sistema político, não havia ainda certeza, muito pelo contrário, a respeito do sucesso da candidatura salvacionista de extrema-direita.
Que circunstâncias e opções conduziram à sua vitória?
De um lado, as esquerdas democráticas subestimaram o seu potencial de crescimento. Não conseguiram unir-se, dispersando-se em candidaturas rivais. Além disso, o PT recusou-se a avaliar a onda de fundo antipetista que permeava a sociedade, muito forte entre as classes médias, mas alcançando também camadas populares. Descartou assim a hipótese de apoiar um candidato de outro partido. E manteve durante longo e precioso tempo, em movimento suicida, a (anti) candidatura de Lula, ilegal na medida que ele fora condenado em segunda instância pela Justiça [xx].
Quando o partido, finalmente, resolveu apoiar formalmente a candidatura do ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o fez com ressalvas, apresentando-o como se fosse um peão de Lula. Tolhido pelos erros e inconsequências do PT e de Lula que sempre se recusaram a produzir qualquer tipo de autocrítica, Haddad não conseguiu apresentar propostas para neutralizar ou conter a corrupção em larga escala e a insegurança nas grandes cidades, dois grandes temas da campanha eleitoral, explorados de forma tosca, mas eficaz, pelo candidato de extrema-direita. Entre os dois turnos, Haddad recuperou terreno, cultivou personalidade própria, formulando propostas objetivas e convincentes, mas já não houve tempo político para reverter os resultados desfavoráveis.
Quanto ao PSDB, naufragada com a candidatura de Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo e um dos líderes mais importantes do partido. Montando poderosa frente partidária, dispondo de vultosos recursos financeiros, agrupou muitas forças de centro e das direitas democráticas. Imaginava-se que a disputa tenderia a ser, mais uma vez, entre ele e o candidato do PT [xxi]. No entanto, em amplos contingentes do eleitorado, prevaleceu a percepção de que, para derrotar o PT, Bolsonaro reunia melhores condições do que Alckmin. Houve, assim, nas três últimas semanas da campanha, um trânsito maciço de votos para o candidato da extrema-direita, garantindo sua vitória.
As esquerdas democráticas subestimaram o seu potencial de crescimento. Não conseguiram unir-se, dispersando-se em candidaturas rivais
Daniel Aarão Reis
O vitorioso não se beneficiou apenas dos erros adversários. A partir de suas bases mais radicais, nas forças armadas e policiais [xxii], soube construir alianças surpreendentes e diversificadas. Escolheu como seu ministro da economia um empresário vinculado à especulação financeira que lhe abriu as portas para uma aliança com os capitais financeiros. No campo da economia também estruturou apoios entre os empresários ligados à exportação de produtos agrícolas, o chamado agronegócio, e com garimpeiros e madeireiros comprometidos com a devastação das florestas e com a abertura de fronteiras agrícolas.
Definindo o juiz Sergio Moro como ministro da Justiça, ganhou a confiança de todos os que consideravam a corrupção e a segurança grandes problemas nacionais [xxiii]. Explorando uma pauta conservadora do ponto de vista dos costumes, teceu laços com as igrejas evangélicas, com crescente força no país [xxiv]. Tais alianças seriam potencializadas pelas bancadas parlamentares ruralistas, armamentistas e religiosas, ditas BBB (do boi, da bala e da bíblia), conformando apoios eficazes na campanha eleitoral.
Restaria ainda mencionar duas importantes referências: o atentado sofrido por Bolsonaro, em 6 de setembro de 2018, que lhe permitiu afastar-se dos debates onde suas performances o desfavoreciam [xxv] e a organização e intensa exploração de uma sofisticada rede de comunicações, acionando de modo profissional as chamadas mídias sociais, seja para divulgar propaganda positiva, seja para disseminar falsas informações (fakenews).
Combinaram-se, assim, como sempre, erros (dos adversários) e acertos que beneficiaram o candidato vitorioso.
A elucidação das razões da vitória da extrema-direita e de Jair Bolsonaro passa, assim, pela compreensão do contexto internacional, do qual ela é a expressão brasileira, e pela articulação de três temporalidades: as tradições autoritárias de direita na longa duração; o desgaste do sistema político na média duração; e os erros (dos adversários) e acertos (próprios) da campanha eleitoral, na curta duração [xxvi].
Cumpre agora discutir melhor o caráter desta vitória e do governo liderado por Jair Bolsonaro desde 1° de janeiro de 2019.
A elucidação das razões da vitória da extrema-direita e de Jair Bolsonaro passa, assim, pela compreensão do contexto internacional, do qual ela é a expressão brasileira, e pela articulação de três temporalidades: as tradições autoritárias de direita na longa duração; o desgaste do sistema político na média duração; e os erros (dos adversários) e acertos (próprios) da campanha eleitoral
Daniel Aarão Reis
O caráter da extrema-direita brasileira
A vitória de Jair Bolsonaro, como já referido, suscitou um clima de grande perplexidade. Como é usual, as primeiras explicações e interpretações procuraram no passado paralelos ou fontes para entender o fenômeno.
Alguns afirmaram que o Brasil teria voltado aos anos 1960 e estaria na iminência de um golpe de estado, como em 1964. Outros preferiram ver semelhanças com a conjuntura que levou à promulgação do Ato Institucional n° 5, editado em dezembro de 1968, que radicalizou a ditadura então existente [xxvii]. Numa incursão a um passado mais distante, foram invocadas as experiências do movimento integralista brasileiro nos anos 1930, da ditadura do Estado Novo e, num plano mais geral, formularam-se associações – controvertidas – com o fascismo italiano e mesmo com o nazismo alemão, como se verá adiante.
Tais interpretações merecem discussão. Entretanto, como estou convencido de que a ascensão atual da extrema-direita no Brasil constitui um movimento original e ainda com perfil não consolidado, cumpre, antes de tudo, descrever o fenômeno para melhor captar sua especificidade e empreender, se for possível, sua conceituação.
estou convencido de que a ascensão atual da extrema-direita no Brasil constitui um movimento original e ainda com perfil não consolidado, cumpre, antes de tudo, descrever o fenômeno para melhor captar sua especificidade e empreender, se for possível, sua conceituação - Daniel Aarão Reis Tweet
Conforme esboçado na análise da campanha eleitoral a vitória de Jair Bolsonaro deveu-se à articulação de uma frente heterogênea que pode ser apresentada em forma de círculos, hierarquizáveis de acordo com a fidelidade a Bolsonaro.
Um primeiro círculo – núcleo forte e bastião do pensamento da extrema-direita – é constituído pelos oficiais das forças armadas, em particular do exército, mais os oficiais e suboficiais das Polícias Militares, da ativa e da reserva [xxviii]. Jair Bolsonaro, através de longa carreira parlamentar, projetou-se não apenas como representante dos interesses corporativos destas gentes, mas também como um dos únicos políticos, e com grande audácia, a resgatar em chave positiva a experiência da ditadura, inclusive seus métodos violentos de torturar e matar adversários.
A pauta da defesa dos costumes conservadores é outra importante referência a fidelizar estas bases a Bolsonaro, pois, em comum, cultivam o conceito de guerra cultural ou guerra híbrida, a ser travada contra os agentes – instituições e partidos – acusados de promover a destruição das tradições, da moral estabelecida, dos bons costumes e das tradições políticas e éticas da nação. Ingredientes importantes nesta perspectiva são as críticas ao globalismo, ao enfraquecimento dos estados e culturas nacionais, e aos novos métodos – encobertos e camuflados – através dos quais operariam novas e velhas esquerdas em sua luta permanente pelo controle da sociedade e do poder. Tais referências não podem ser nem exclusivamente nem principalmente atribuídas a Olavo de Carvalho, cujas manifestações caricaturais não deveriam servir para encobrir núcleos de formulação mais consistentes, que elaboram tais ideias há muitos anos no interior das, e protegidos por estruturas institucionais das forças armadas.
Foi no interior do estado maior do Exército que se formou uma equipe, ainda nos anos 1980, devidamente autorizada pelo ministro da arma, general Leonidas Gonçalves, que formulou volumoso livro, com um resgate da ditadura em chave positiva, enfatizando-se o papel dos militares como tutores da república e as sucessivas ameaças empreendidas pelas esquerdas no sentido da dissolução da nacionalidade brasileira. O texto, intitulado Orvil (anagrama de livro) só foi publicado mais tarde (L. Maciel e J. C. do Nascimento, 2012), mas se constituiu, desde então, numa referência para a extrema-direita militar e civil.[xxix].
Um segundo círculo, não menos importante, é constituído por setores populares de classe média, alguns com afinidades profissionais (pequenos empreendedores, caminhoneiros, taxistas, etc.), articulados pelas novas mídias sociais (whatsapp, facebook, twitter, youtube, blogs, etc.), financiadas, em grande parte, por empresários bolsonaristas. Os valores compartilhados de extrema-direita compreendem, entre outros, o recurso à violência para matar criminosos comuns, o conservadorismo social, o ódio às lutas identitárias, etc.
Têm sido importantes nas ações de ruas e na intimidação de adversários, mas seus níveis internos de organização ainda são precários. Neste segundo círculo também poderiam ser incluídos as milícias. Constituídas por ex-integrantes das polícias militares, além de criminosos comuns, elas vêm ganhando força ao longo do atual século em algumas grandes cidades. Disputam espaço com facções de criminosos comuns no controle de atividades ilegais e semilegais e extorquem comunidades de diversos tipos, periféricas às grandes cidades, vendendo proteção em troca de segurança. A despeito de sua autonomia enquanto organizações criminosas, aparecem como um potencial e temível braço armado, eventualmente disponível para aterrorizar e matar adversários [xxx].
As igrejas evangélicas constituem um terceiro círculo. Não se estruturam monoliticamente, mas, em grande maioria, apoiaram ativamente a candidatura de Bolsonaro[xxxi]. Destaca-se também aí a pauta dos costumes. De modo geral, os evangélicos acreditam nos valores do trabalho, do ascetismo, do esforço próprio, da ajuda mútua e abominam as lutas identitárias, o consumo de drogas e a revolução comportamental que é um aspecto das transformações civilizacionais em curso. Apoiadas em crescente adesão social, fortes bancadas parlamentares (a bancada da Bíblia) e poderosos meios de comunicação, tornaram-se uma respeitável força política no país.
As igrejas evangélicas constituem um terceiro círculo. Não se estruturam monoliticamente, mas, em grande maioria, apoiaram ativamente a candidatura de Bolsonaro
Daniel Aarão Reis
Mas seria um equívoco imaginar que seriam dóceis aliados, pois há contradições entre os valores cultivados pelos evangélicos e determinados aspectos do credo bolsonarista, como o recurso à violência (bandido bom é bandido morto), a conciliação consequente com as milícias, rejeitada, e a liberação dos jogos de azar, que eles execram.
Num quarto círculo, encontram-se vastos setores das classes médias afluentes (profissionais liberais, assalariados de padrão mais alto, etc.), principalmente no sul e sudeste do país. Desorganizadas, unificaram-se em torno de Bolsonaro menos pelo compartilhamento de valores ideológicos e mais pela luta contra a corrupção e o antipetismo. A nomeação do Juiz Sergio Moro para o cargo de Ministro da Justiça consagrou a adesão destas camadas sociais a Bolsonaro, mas sua recente demissão, em 24 de abril passado, e suas denúncias contra a conciliação de Bolsonaro com a corrupção, abalaram a confiança destas bases [xxxii].
Num quinto círculo, finalmente, encontram-se setores importantes das classes dominantes brasileiras, do capital financeiro internacionalizado ao agronegócio, cujas propostas costumam ser veiculadas pelos grandes meios de comunicação. Eles não têm voto, mas têm recursos que condicionam votações. Num primeiro momento, viam com desconfiança a extrema-direita, preferindo um candidato de centro ou de centro-direita para derrotar o petismo. Neste sentido, apostaram suas fichas no PSDB e em seu candidato, Geraldo Alckmin.
À vista do fracasso deste último, porém, migraram em massa para a candidatura Bolsonaro, na expectativa de controlar e domesticar seu extremismo. A escolha de Paulo Guedes como ministro das finanças, um homem comprometido com programas e reformas ultraliberais, contribuiu para que se viabilizasse o apoio destas gentes.
Para encerrar, cumpre enfatizar o potencial de apoio social do qual dispõe Bolsonaro em camadas populares, o que, em parte, é assegurado pelo trabalho de base dos evangélicos, notoriamente ramificados, de forma capilar, nas comunidades mais pobres do país. Sua capacidade de comunicação, auxiliada por um trabalho profissional nas mídias sociais, só perde para a de Lula. Gestual e palavras obscenas, que chocam as camadas de elite e letradas do país, são, muitas vezes, encaradas como expressões de coragem e autenticidade, qualidades escassas entre os políticos profissionais. Não esquecer as expressivas votações de Bolsonaro nos grandes centros urbanos e nas capitais dos Estados. Mesmo na região Nordeste, que permaneceu majoritariamente fiel ao PT e a Lula, Bolsonaro venceu em grandes cidades consideradas de larga tradição de esquerda, como Recife, capital de Pernambuco.
A multiplicidade e a pluralidade das bases de apoio que garantiram a vitória da extrema-direita evidenciam seu caráter profundamente heterogêneo. Recorde-se que a vitória de Bolsonaro não foi uma surpresa apenas para seus adversários, mas também para ele e seus fiéis apoiadores.
Uma frente política constituída de forma apressada, sem propostas claras para uma série de problemas fundamentais do país (educação, saúde, transportes públicos, segurança etc.), apoiada em ideias simplistas, salvadoras, que ignoravam – e ignoram – a complexidade das questões com as quais teria que lidar caso o candidato fosse sufragado. A improvisação evidencia-se no troca-troca de ministros, tendo já sido substituídos doze deles em apenas um ano e meio de governo, além de dezenas de substituições em escalões secundários, mas importantes [xxxiii].
a extrema-direita atual é bastante diferente das referências que vertebraram as ditaduras do passado. E é questionável também a aproximação que se faz entre o quadro atual e a experiência integralista dos anos 1930 e, em particular, com a experiência do fascismo - Daniel Aarão Reis Tweet
Apesar de declarações altissonantes – e de bravatas em série –, que marcaram uma primeira fase do Governo, até junho de 2020, o governo e a extrema-direita não foram capazes de gestar até o momento uma doutrina coerente. Suas formulações encontrar-se-iam num estado gasoso, se a metáfora for permitida, o que dá conta das improvisações e acochambrações diversas, mal encobertas por uma estridente e poderosa propaganda. Trata-se de uma força política cujas concepções ainda estão em formação, como uma nebulosa, daí as dificuldades em conceituá-la, embora sejam bastante claros – e perigosos – seus propósitos autoritários e antidemocráticos.
Tais propósitos têm raízes autoritárias no passado brasileiro. Entretanto, a extrema-direita atual é bastante diferente das referências que vertebraram as ditaduras do passado. E é questionável também a aproximação que se faz entre o quadro atual e a experiência integralista dos anos 1930 e, em particular, com a experiência do fascismo.
De um lado, as conjunturas internacionais que ensejaram as ditaduras e o fascismo histórico (e o integralismo) têm características qualitativamente diferentes das atuais. As ditaduras exprimiam alianças de classe bem definidas e projetos claros de modernização autoritária. Não é o caso da atual extrema-direita[xxxiv].
Quanto ao integralismo e ao fascismo, caberia uma análise mais complexa [xxxv].
Se pensarmos o fascismo histórico, não há consistência teórica em identificá-lo com a atual extrema-direita brasileira. O fascismo caracterizou-se por propostas de regeneração cultural, de integração e enquadramento orgânico da sociedade, de mobilização intensiva e agressiva da população. Acionava um nacionalismo exacerbado, militar, violento e expansionista e voltado para a construção de um projeto de renovação da sociedade, típico das direitas revolucionárias. Ora, este conjunto de características e de referências não se encontra no bolsonarismo [xxxvi].
Do ponto de vista do debate a respeito da adequação e eficácia políticas do emprego do termo, preferimos empreendê-lo no próximo item, destinado ao estudo das alternativas disponíveis para lidar com a extrema-direita.
A democracia face à extrema-direita. Desafios & Alternativas
A análise do bolsonarismo tornou-se mais complexa em virtude de acontecimentos que se têm desdobrado a partir de junho de 2020.
Até então o governo manteve uma retórica beligerante, apoiando grupos extremistas que se destacavam por uma retórica de enfrentamento e que demandavam abertamente, às vezes com a presença e o estímulo do próprio presidente, o fechamento das instituições da democracia representativa, ou seja, um golpe de estado na tradição latino-americana dos anos 1960/1970.
Com o crescimento das tensões, associadas à crise gerada pela pandemia do vírus covid-19, extremamente mal gerenciada por Bolsonaro, à demissão do ministro da Justiça em abril de 2020, e a vários escândalos de corrupção, envolvendo fiéis aliados e até os próprios filhos de Bolsonaro, o governo sofreu profundo desgaste. Tendo sido sufragado por 57,8 milhões de votos (55,13% dos votos válidos), os índices de confiança caíram bastante, conforme flagrado por pesquisas realizadas em maio e junho de 2020, situando-se em torno de 30% [xxxvii].
Houve, a partir de então, notável e surpreendente reviravolta.
Bolsonaro abandonou à própria sorte os grupos extremistas que se isolaram e enfrentam hoje complicados processos na Justiça. Suspendeu igualmente a habitual retórica estridente, com aspectos paranoicos, e se dedicou, com sucesso, a formar ampla base política com diversos partidos minados por múltiplas acusações de envolvimento com a corrupção. No mesmo movimento, definiu um padrão de relações estáveis e amigáveis com lideranças do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, até então quotidianamente hostilizadas [xxxviii].
Se pensarmos o fascismo histórico, não há consistência teórica em identificá-lo com a atual extrema-direita brasileira. O fascismo caracterizou-se por propostas de regeneração cultural, de integração e enquadramento orgânico da sociedade, de mobilização intensiva e agressiva da população
Daniel Aarão Reis
Bafejado pelo impacto positivo do auxílio emergencial aprovado pelo Congresso, mas que tem sido atribuído ao presidente pelos beneficiários, e apesar do desgaste entre os que votaram nele pensando na luta contra a corrupção, Bolsonaro voltou a conhecer substancial crescimento nos índices de aprovação popular segundo pesquisas realizadas em setembro último [xxxix].
As opiniões e análises se dividem agora a propósito dos rumos do bolsonarismo e do governo de Jair Bolsonaro. Estaríamos assistindo a um recuo episódico, “tático”, ou se trataria de definição de novos rumos? O presidente estaria receoso de que os processos contra seus filhos pudessem alcançar um ponto de não-retorno? Atingindo-o através de um processo de impeachment, de duvidosos resultados? O que teria feito Bolsonaro desistir das bravatas e ameaças sem fim? Os altos mandos das Forças Armadas teriam desaconselhado aventuras militaristas e ditatoriais? O presidente teria concluído que, entre as próprias classes dominantes, não haveria espaço, pelo menos nas circunstâncias atuais, para surtos autoritários? Teria sido ele, afinal, domesticado no quadro dos parâmetros institucionais? Outra incógnita, maior, completa o quadro de dúvidas: as orientações ortodoxamente neoliberais, lideradas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, seriam mantidas a todo o custo ou prevaleceriam inclinações por políticas nacional-estatistas, conferindo ao Estado um protagonismo decisivo na recuperação da economia?
O futuro do governo permanece indeciso. A cruzada contra a corrupção, depois da demissão do ministro da Justiça, Sergio Moro, em abril passado, deixou de ser uma prioridade, para dizer o menos. A proposta neoliberal de reorganização da economia encontra-se também em questão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, paladino desta perspectiva, apesar de seus esforços, não conseguiu ainda esvaziar as tendências nacional-estatistas defendidas por vários ministros [xl]. Grande parte da mídia, partidária das medidas e políticas neoliberais, hesita em acreditar na solidez da posição do ministro da Economia e não está certa de que ele se sairá vencedor nos embates contra os nacional-estatistas incrustados no governo.
As campanhas com vistas às eleições municipais, considerando-se a excepcionalidade da pandemia, vêm transcorrendo normalmente, promovendo-se uma carta “naturalização” do governo Bolsonaro. Quanto aos erros clamorosos cometidos pelo presidente ao lidar com a pandemia, o cansaço que toma conta de amplos setores da população, devido aos rigores da pandemia, tende a neutralizar, ao menos em parte, o desgaste sofrido nos primeiros meses pelos propósitos negacionistas do presidente.
Neste quadro, as forças de esquerda, de forma geral, permanecem sem propostas claras e sem capacidade de intervenção e mobilização. As referências a um possível impeachment, por improvável, esfumaram-se. É como se no palco político, em vez de duas forças, estivessem se confrontando duas fraquezas. A extrema-direita não tem capacidade – ainda não – de derrotar o Congresso e o Judiciário ou ameaçar, pelo menos no curto prazo, as instituições democráticas. Mas estas instituições também não conseguem remover Bolsonaro.
Como entrever e propor alternativas?
Entre os que observam a cena política brasileira, há um consenso de que a maioria de votos obtidos por Bolsonaro nas eleições de outubro de 2018 deveu-se muito mais ao antipetismo do que propriamente ao entusiasmo suscitado pelas propostas e características do candidato vitorioso.
Votando ou se articulando em torno de Bolsonaro, muitos ficaram na expectativa que, depois da vitória, houvesse uma rápida domesticação do presidente. Uma expectativa não realizada, mesmo depois da reviravolta acima mencionada. Se é verdade que as provocações e bravatas diminuíram de intensidade, são poucos os que imaginam que ele teria abandonado propostas e perspectivas autoritárias. Em vez de um golpe frontal, não se pode descartar, dependendo das circunstâncias, a hipótese de uma estratégia de desgaste progressivo das margens democráticas, uma corrosão por dentro as instituições, mantendo-as, no limite, como se fossem cascas desprovidas de conteúdo, num estilo semelhante ao empreendido por V. Orbán na Hungria [xli].
O fato é que, uma vez ameaçadas, as forças políticas de centro e de direita democráticas, hegemônicas no Parlamento e no Poder Judiciário, reagiram, marcando limites às pretensões ditatoriais de Bolsonaro. As tendências e os métodos chavistas, de enfraquecimento progressivo das instituições democráticas, atribuídos pelas direitas ao PT e a Lula, estariam sendo, na prática, adotados por Bolsonaro [xlii]. Em protesto, manifestos de intelectuais, juristas e profissionais liberais, publicados pela imprensa, afirmavam-se na defesa das instituições democráticas. Panelaços contra Bolsonaro, em várias cidades, evidenciavam um crescimento da insatisfação.
Reitera-se o equilíbrio de forças: entre a extrema-direita, liderada por Bolsonaro e a direita/centro democráticos, representados por líderes parlamentares e ministros do Supremo Tribunal federal. Nenhum lado mostra-se capaz de derrotar o outro.
A ameaça à democracia representada pela extrema-direita continua real. É verdade que o presidente perdeu bases nas classes médias que votaram nele imaginando-o como um campeão na luta contra a corrupção. Entretanto, o avanço registrado em amplos setores sociais em virtude o auxílio emergencial concedido pode inspirar aventuras autoritárias com apoio popular, o que não seria inédito na história do Brasil [xliii].
Estas esquerdas, sempre plurais, não estão destinadas a permanecer desarticuladas e/ou apartadas. No Brasil atual, porém, no quadro da nova república, estabeleceu-se uma grande distância entre elas
Daniel Aarão Reis
Se o governo mantiver a orientação neoliberal, prometida durante a campanha eleitoral, será muito difícil ampliar ou manter substancial apoio popular. Já uma inflexão no sentido de uma política nacional-estatista, combinando-se com políticas assistencialistas, criariam condições mais favoráveis ao apoio de camadas populares [xliv].
O dado novo é que as esquerdas democráticas começam a sair do torpor que as caracterizou desde a derrota eleitoral de 2018. Entre elas cabe distinguir as ações empreendidas pelas esquerdas de Estado e pelas esquerdas sociais.
A conceituação tem sido defendida por Carlos Vainer, professor vinculado ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional/IPPUR/UFRJ). As esquerdas de Estado seriam representadas pelos partidos políticos ou outras associações que disputam espaços institucionais, e ritmam seus movimentos de acordo com os calendários eleitorais. Já as esquerdas sociais seriam constituídas por lideranças que operam no tecido social, articulando e organizando movimentos que se desdobram na base da sociedade.
A experiência dos governos petistas evidenciou que não há uma “muralha da China” entre estes dois tipos de esquerda: muitos representantes de movimentos sociais importantes foram aspirados por órgãos ou conselhos consultivos, abandonando ou deixando em plano secundário a militância social. Até mesmo um movimento social tradicional, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra/MST, deixou-se cooptar, em certa medida pelos acenos e promessas dos governos petistas.
Estas esquerdas, sempre plurais, não estão destinadas a permanecer desarticuladas e/ou apartadas. No Brasil atual, porém, no quadro da nova república, estabeleceu-se uma grande distância entre elas, na medida em que as primeiras – as esquerdas de Estado – têm sido aspiradas pelas alturas institucionais das lutas políticas, afastando-se claramente das dinâmicas, aspirações e movimentos que se desdobram nas bases da sociedade, onde atuam as esquerdas sociais [xlv].
As esquerdas de Estado não parecem sensíveis a um processo autocrítico. Continuam ruminando críticas e ressentimentos relativos ao passado de derrotas recentes. No seu conjunto, nas eleições municipais de novembro de 2020, perderam uma boa chance de aparecerem unidas, com uma proposta alternativa ao autoritarismo bolsonarista, politizando as escolhas locais. Ao contrário, dividiram-se e foram a reboque da dinâmica localista dos pleitos municipais.
Contribuíram assim, involuntariamente, para “naturalizar” o bolsonarismo e a desarmar a sociedade para eventuais surtos autoritários. De seu lado, o Presidente, salvo exceções, fez uma escolha de se manter “neutro” em relação a candidaturas às prefeituras das cidades brasileiras. Entretanto, nas cidades onde manifestou apoio, seus candidatos não aparecem como favoritos, evidenciando-se que a “onda bolsonarista” de 2018 encontra dificuldades em se repetir. Reproduz-se, na conjuntura eleitoral, o “empate” de fraquezas acima referido.
Quanto às esquerdas sociais, evidenciam maior dinâmica. Em várias cidades, tomam iniciativas para se defender dos efeitos da pandemia, organizando serviços próprios de saúde, desempenhando papéis que caberiam ao Estado, mas que não são por este assumidos por negligência ou incompetência. Nas ruas, apesar dos interditos impostos pela pandemia, promoveram manifestações, disputando os espaços públicos com os grupos de extrema-direita. Nas mídias sociais, fervilham ações de diferentes tipos– debates, palestras, lives. Intelectuais e artistas formulam plataformas comuns, assinam manifestos e se pronunciam em defesa da democracia [xlvi]. É bastante provável que, desaparecidos ou atenuados os efeitos da pandemia, brotem importantes movimentos sociais, dando vazão a demandas por melhores condições vida, serviços públicos decentes, renda básica para todos, diminuição das desigualdades sociais etc.
Trata-se de garantir as margens democráticas existentes, reunindo em torno delas, sem exclusões, todos os que estiverem dispostos a lutar por sua preservação. A ideia de concretizar este movimento em torno de uma plataforma antifascista pode ser problemática. Para além da já referida inconsistência teórica, é de se perguntar se as amplas maiorias saberão sequer o que significa o termo fascismo. Por outro lado, e mais importante, uma frente popular democrática deveria se evidenciar como alternativa – positiva e construtiva – e não apenas se formar na base do anti, eis que tais frentes – negativas – tendem a perder o essencial: de que democracia se está falando, que democracia é preciso construir [xlvii].
Quanto às esquerdas sociais, evidenciam maior dinâmica. Em várias cidades, tomam iniciativas para se defender dos efeitos da pandemia, organizando serviços próprios de saúde, desempenhando papéis que caberiam ao Estado, mas que não são por este assumidos por negligência ou incompetência
Daniel Aarão Reis
Entretanto, é preciso ir além de defender apenas as margens democráticas existentes – restritas e limitadas. Neste sentido, cabe às esquerdas democráticas – de Estado e sociais – se reinventarem e se reaproximarem: a prioridade é investir na ativação dos movimentos de rua, recuperando musculatura no tecido social, reconstruindo forças de que já dispuseram, mas as perderam, e sem as quais não conseguirão retornar ao proscênio, hoje ocupado pela extrema-direita e pelas direitas e centro democráticos.
Num plano mais geral, as esquerdas democráticas precisam formular um programa de democratização da democracia, uma condição indispensável para que as gentes tornem a se interessar – e a proteger, no limite, a se dispor a salvar – o regime democrático ameaçado.
Um conjunto complexo de desafios. Que sejam capazes de suscitar, como sugeriu S. Zizek, a coragem da desesperança [xlviii]. Deste tipo de coragem é que dependerá a sorte da democracia no Brasil. [xlix]
Referências:
AARÃO REIS, Daniel. Notas para a compreensão do Bolsonarismo,in Estudos Ibero-americanos, v. 46, n° 1/2020, Seção Tribuna. Revista de História da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUC/RGS, Brasil, abril/2020.
AARÃO REIS, Daniel. As armadilhas da memória e a reconstrução democrática. In Sergio Abranches e alii. Democracia em Risco? 22 ensaios sobre o Brasil de hoje. São Paulo, Companhia das Letras, 2019ª , pp 274-286.
AARÃO REIS, Daniel. Aproximações, contrastes e contradições entre paradigmas de mudança social: os cinquenta anos de 1968, in Daniel Aarão Reis e alii: 1968, reflexos e reflexões. Edições SESC, São Paulo, 2018, pp 15-30.
AARÃO REIS, Daniel. Ridenti, M. e Rodrigo Patto Sá Motta (orgs.). A ditadura que mudou o Brasil. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2014.
Alonso, Angela. A comunidade moral bolsonarista. In Sergio Abranches e alii. Democracia em Risco? 22 ensaios sobre o Brasil de hoje. São Paulo, Companhia das Letras, 2019, pp 52-70.
Ash, Timothy Garton. Os fatos são subversivos. Escritos políticos de uma década sem nome. Companhia das Letras, São Paulo, 2011.
Abranches, Sergio et alii. Democracia em Risco? 22 ensaios sobre o Brasil de hoje. São Paulo, Companhia das Letras, 2019
Baptista, Saulo. Pentecostais e Neopentecostais na política brasileira: um estudo sobre a cultura política, estado e atores coletivos religiosos no Brasil. Annablume, São Paulo, 2009.
Bobbio, Norberto. Direita e Esquerda. Razões e significados de uma distinção política. Unesp, São Paulo, 1995.
Cordeiro, Janaína Martins. A ditadura em tempos de milagre: comemorações, orgulho e consentimento. Rio de Janeiro, FGV, 2015.
Cowan, Benjamin Arthur. “Nosso terreno”: crise moral, política evangélica e a formação da “Nova Direita” brasileira. In Vária História, n° 52, volume 30, jan-abr 2014, Belo Horizonte,pp 101-125.
Cunha, Magali do Nascimento. A explosão gospel: um olhar das ciências humanas sobre o cenário evangélico no Brasil. Mauad, Rio de Janeiro, 2007.
Eco, Umberto. Ur-Fascism. In New York Review of Books, June, 22, 1995.
Felice, Renzo de. Interpretationsof fascismo. Harvard University Press, Cambridge, 1977 Ferreira, Gustavo Alves Alonso. Cowboys do asfalto. Rio de Janeiro, Record, 2015.
Fraser, Nancy. Mapeando a imaginação feminista: da redistribuição ao reconhecimento e à representação. In Estudos Feministas, 15(2), 240, maio-agosto/2007, pp 291-307.
Gelatelly, Robert. Apoiando Hitler. Consentimento e coerção na Alemanha nazista. Record, Rio de Janeiro, 2011.
Gentile, Emilio. La vía italiana al totalitarismo. Partido y Estado enelrégimen fascista. SigloVeinteuno Editores. Buenos Aires, 2005.
Gomes, Paulo César. Liberdade vigiada. As relações entre a ditadura militar brasileira e o governo francês: do golpe à anistia. 1. ed. Rio de Janeiro: Record, 2019.
Gonçalves, Leandro Pereira. Plínio Salgado: um católico integralista entre Portugal e o Brasil (1895-1975). 1. ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018.
Grinberg, Lucia. Partido político ou bode expiatório. Um estudo sobre a Aliança Renovadora Nacional/ARENA, 1965-1979. Rio de Janeiro, Mauad/FAPERJ, 2009.
Kaisel, André e alii. (orgs.) Direita, Volver! O retorno da direita e o ciclo político brasileiro. Fundação Perseu Abramo, São Paulo, 2015.
Kershaw, Ian. The Nazi Dictatorship. Problems and perspectives of interpretation. BloomsburyAcademic, Londres, 2015.
Kershaw, Ian. Hitler. Companhia das Letras, São Paulo, 201.
Levitsky, Steven &Ziblatt, Daniel. Como as democracias morrem. Zahar, Rio de Janeiro, 2018.
Lessa, Renato. Homo Bolsonarus. In Serrote, julho, 2020, Rio de Janeiro, pp 46-65.
Linz, Juan J. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Lynne Riener, Boulder, 2000.
Linz, Juan e Stepan Alfred (eds.) The breakdown of democratic regimes: Europe. John Hopkins University Press, Baltimore, 1978.
Magalhães, Lívia Gonçalves. Com a taça nas mãos: sociedade, copa do mundo e ditadura no Brasil e na Argentina. Rio de Janeiro, Lamparina/Faperj, 2014.
Maia, Tatyana de Amaral. Cardeais da cultura nacional: o Conselho Federal de Cultura na ditadura civil-militar (1967-1975). 1. ed. São Paulo: Instituto Itáu Cultural/ Iluminuras, 2012. v. 1. 236p.
Maciel, Lício e Nascimento, José Conegundes (orgs.) Orvil, tentativas de tomada do poder, Ed. Schoba, São Paulo, 2012.
Motta, Rodrigo Patto Sá. As Universidades e o Regime Militar: cultura política brasileira e modernização autoritária, Rio de Janeiro, J. Zahar. No prelo, 2014.
Motta, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o perigo vermelho. Perspectiva, São Paulo, 2002.
Nicolau, Jairo. O Brasil dobrou à direita. Uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018. Rio de Janeiro, Zahar, 2020.
Paxton, Robert O. A anatomia do fascismo. Paz e Terra, São Paulo, 2007.
Piketti, Thomas. Capital in the Twenty-First Century. BelknapPress, Cambridge, MA, 2014.
Pinto, Antonio Costa. O corporativismo nas ditaduras da época do fascismo. In Vária História, n° 52, volume 30, jan-abr 2014, Belo Horizonte, pp. 17-49.
Poulantzas, Nico. Fascismo e ditadura. Martins Fontes, São Paulo, 1978.
Przeworski, Adam. Crises of democracy. Cambridge University Press, Cambridge, 2019.
Rocha, João Cezar de Castro. Bolsonaro e a proposta de guerra cultural. Entrevista concedida ao site Pública, 28/5/2020. Disponível aqui.
Rollemberg, Denise. Memória, opinião e cultura política: a Ordem dos Advogados do Brasil sob a ditadura, 1964-1974. In Daniel Aarão Reis e Denis Rolland (orgs.) Modernidades Alternativas. Rio de Janeiro, FGV, 2008, p 57-96.
………………………………………… A Associação Brasileira de Imprensa/ABI e a ditadura, 1964/1974, in Denise Rollemberg e Samantha Viz Quadrat (orgs.) A construção social dos regimes autoritários. Legitimidade, consenso e consentimento no século XX, 3 volumes. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2010. Brasil e América Latina, volume 2, 2010, p. 97-144.
Rollemberg, Denise e Quadrat, Samantha Viz (orgs.) A construção social dos regimes autoritários. Legitimidade, consenso e consentimento no século XX. 3 volumes. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2010a.
Runciman, David. Como a democracia chega ao fim. Todavia, São Paulo, 2018.
Schwarcz, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo brasileiro. Companhia das Letras, São Paulo, 2019.
Singer, André. Os sentidos do lulismo. Reforma gradual e pacto conservador. Companhia das Letras, São Paulo, 2012.
Solano, Esther. A bolsonarização do Brasil. In In Sergio Abranches e alii. Democracia em Risco? 22 ensaios sobre o Brasil de hoje. São Paulo, Companhia das Letras, 2019 , pp 307-321.
Soper, Kate. Conserving the Left: Reflections on Norberto Bobbio, Anthony Giddens and the Left-Right Distinction. In Theoria: A Journal of Social and Political Theory. December, 1999, n. 94, pp 67-82.
Starling, Heloisa Murgel. O passado que não passou. In In Sergio Abranches e alii. Democracia em Risco? 22 ensaios sobre o Brasil de hoje. São Paulo, Companhia das Letras, 2019, pp 337-354.
Sternhell, Zeev; Sznader, Mario e Asheri, Maia. The origins of fascist ideology. Princeton University Press, Princeton, 1994.
Torney, Simon. Populismo, uma breve introdução. Cultrix, São Paulo, 2019.
Trindade, Hélgio. Integralismo: o fascismo brasileiro na década de 30. Difel, São Paulo, 1979.
Zizek, Slavoj. A coragem da desesperança. Zahar, Rio de Janeiro,2017.
Notas:
[i] Para o debate sobre a díade direita-esquerda e suas manifestações extremas, cf. N. Bobbio, 1995 e K. Soper, 1999.
[ii] O mesmo aconteceu com os estados socialistas autoritários que, ou se desagregaram (área soviética) ou fizeram opções pela associação com capitais internacionais, reiterando-se como estados despóticos, onde não existem a livre expressão do pensamento e qualquer tipo de organização autônoma das classes populares (China, Vietnã, Cuba e Coréia do Norte).
[iii] Muitos preferem chamá-la de populismo de direita (S. Torney, 2019).
[iv] Observe-se que as propostas autoritárias de direita e as alternativas socialistas despóticas retroalimentam-se à custa das instituições democráticas.
[v] Lideranças políticas e estudiosos têm caracterizado este processo como de ressurgência do fascismo. O debate sobre a questão será desenvolvido no ítem 3 deste artigo.
[vi] Para o racismo estrutural no Brasil, em seus vários aspectos, cf. disponível aqui. Consultado em 20/10/2020.
[vii] Cf. Roberto DaMatta, crônica publicada em O Globo, 10 de junho de 2020, p. 3.
[viii] Para a cartografia dos estupros no Brasil, cf. disponível aqui. Consultado em 20/10/2020. Para violência doméstica, cf. disponível aqui. Consultado em 20/10/2020
[ix] Cf. Rodrigo Patto Sá Motta, 2002.
[x] Entre 1937 e 1945, a ditadura do Estado Novo, liderada por G. Vargas; entre 1964 e 1979, a ditadura civil-militar, presidida por cinco sucessivos generais.
[xi] Entre outros, mencionaria Daniel Aarão Reis, Rodrigo Patto Sá Motta e Marcelo Ridenti, 2014; Rodrigo Patto Sá Motta, 2002 e 2014; Denise Rollemberg, 2008, 2010, 2010a; Lucia Grinberg, 2009; Janaína Cordeiro, 2015; Gustavo Ferreira, 2015; Tatyana Maia, 2012; Paulo Cesar Gomes, 2019; Lívia Magalhães, 2014.
[xii] Nos anos 1970, tornou-se comum analisar as ditaduras latino-americanas como expressão imediata das tradições ibéricas. O conceito enfraqueceu-se com os processos de democratização que se realizaram na…península ibérica, (J. Linz e A. Stepan, 1978 e J. Linz, 2000).
[xiii] Na aspiração por tempos melhores, os brasileiros tendem a usar – e a abusar do – o adjetivo novo para designar mudanças que superariam mazelas do passado. A chamada nova república evidencia a reiteração do recurso, embora em sua estrutura e dinâmica fossem visíveis as marcas do velho,de continuação com o passado.
[xiv] Na interpretação de petistas, de lulistas e de outros agrupamentos de esquerda, o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe de estado parlamentar, camuflado, efetuado por dentro das próprias instituições democráticas. Curioso é que estas forças, desde 1988, recorreram diversas vezes ao impeachment, sem que o mecanismo, essencialmente autoritário, lhes parecesse questionável.
[xv] Nas primeiras eleições diretas para a presidência república, em 1989, foi vencedor, no segundo turno, Fernando Collor de Mello, representante de forças conservadoras que almejavam políticas neoliberais. Seu governo, porém, foi curto (1990-1992), tendo sido apeado do poder por um processo de impeachment apoiado em ampla frente social e política.
[xvi] O PT foi fundado em 10 de fevereiro de 1980, na esteira de grandes movimentos sociais; e o PSDB surgiu no âmbito dos trabalhos de elaboração da nova Constituição, em 25 de junho de 1988.
[xvii] A Comissão Nacional da Verdade, organizada em 18 de novembro de 2011, mais de trinta anos depois do fim da ditadura, até realizou um trabalho positivo, mas não conseguiu alterar o quadro de silêncio social sobre os crimes e legados da ditadura.
[xviii] A esperança em salvadores da pátria tem larga tradição no país. Getúlio Vargas, Jânio Quadros, Fernando Collor, o próprio Lula, cada um a seu modo, todos se inscreveram neste registro de alternativas salvadoras a um sistema execrado.
[xix] Cf. disponível aqui. Consultado em 24 de junho de 2020. As eleições presidenciais realizaram-se em dois turnos: 7 e 28 de outubro de 2018.
[xx] A Lei n° 135, de 5 de maio de 2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, proíbe a candidatura de políticos condenados em segunda instância. A ironia é que foi promulgada pelo próprio Lula, quando no exercício de seu segundo mandato.
[xxi] Desde 1994, em seis sucessivas eleições presidenciais, os dois candidatos mais votados foram apresentados pelo PSDB e pelo PT.
[xxii] Desde 1992, em sete mandatos sucessivos, Jair Bolsonaro elegeu-se à Câmara de Deputados, defendendo interesses corporativistas das forças armadas e policiais e enfatizando o resgate positivo do regime ditatorial.
[xxiii] O juiz projetou-se como campeão nacional da defesa da moralidade. em virtude de seu protagonismo nos processos que desvendaram casos espetaculares de corrupção e acabaram levando à cadeia, entre muitos outros, o próprio ex-presidente Lula.
[xxiv] O censo nacional, realizado em 2000, apurou a existência de 26,2 milhões de pessoas que se autodeclaravam evangélicas, equivalentes a 15,4% da população. Em 2010, o número saltou para 42,3 milhões, 22% da população. O IBGE calculou então que existiriam 14 mil igrejas evangélicas. Consultado em aqui.
[xxv] Bolsonaro teve participação pífia nos debates anteriores ao atentado, que o salvou de novos encontros, preservando-o de inevitáveis desgastes.
[xxvi] Para uma análise da presença das direitas políticas no Brasil, cf. André Kaysel e alii, 2015. Para uma interpretação da vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, cf. Jairo Nicolau, 2020.
[xxvii] Os diplomas legais emitidos no quadro do estado de exceção instaurado em 1964 foram nomeados pelos próprios autores como atos institucionais ou atos complementares. Foram 17 atos institucionais e 104 atos complementares. O mais drástico e violento foi o AI-5.
[xxviii] Não seria razoável afirmar que todos os referidos oficiais sejam partidários de Bolsonaro, mas é inegável que, no seu conjunto, eles constituem importante base de sustentação do atual presidente.
[xxix]Para as bases militares de extrema-direita, cf. Bolsonaro e o mundo armado no Brasil. Debate entre Luiz Eduardo Soares e Piero Lerner: Disponível aqui. Para as concepções de guerra cultural, cf. J.C. de C. Rocha, 2020.
[xxx] O assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL-RJ, perpetrado em 14 de março de 2018, foi obra de milicianos. Observe-se que, em algumas regiões, as milícias aliam-se ao tráfico, distribuindo seus “negócios”segundo interesses comuns. Para a força crescente das milícias e articulação com o tráfico cf. disponível aqui. Consultado em 22/10/2020.
[xxxi] Entre elas, destacam-se mesmo algumas lideranças que estão no campo das esquerdas. Por outro lado, o voto evangélico pode evoluir segundo as conjunturas, não sendo os fiéis meros carneiros nas mãos de seus pastores. Cf. B.A. Cowan, 2014. Tem crescido a literatura a respeito dos evangélicos, na proporção da importância dos mesmos na sociedade e na política do país. Cf., entre outros, citados pelo autor referido: S. Baptista, 2009 e M.N. Cunha, 2007.
[xxxii] O prestígio de Sergio Moro e dos procuradores de Curitiba foram gravemente atingidos com as revelações da Intercept, que revelou incontáveis tratativas e procedimentos ilegais e imorais empreendidos por eles. Cf. disponível aqui, consultado em 22/10/2020.
[xxxiii] Cf. Um governo de alta rotatividade. Alto escalão tem uma troca a cada três dias. In O Globo, 27 de agosto de 2020, p. 10.
[xxxiv] Considere-se que muitas forças políticas caracterizaram a ditadura instaurada em 1964, e também o Estado Novo, como fascistas. Foi mais um recurso de luta política do que um conceito adequado. Com o tempo, tais denominações perderam vigência.
[xxxv] Para o movimento integralista, cf. H. Trindade, 1979 e L. Gonçalves, 2018. A presença de núcleos nostálgicos do fascismo e do nazismo no interior da reação nacionalista de extrema-direita em várias partes do mundo tem levado muitos a apresentar este fenômeno novo e específico como uma ressurgência do fascismo/nazismo dos anos 1930. Foi o que tendeu a acontecer também no Brasil, em particular após o ascenso fulminante da extrema-direita. Para a especificidade do fascismo, que dispõe de abundante bibliografia,cf. Emilio Gentile, 2005, sobretudo a II Parte (pp. 169-375) e Robert Paxton, 2007, em particular os capítulos 7 e 8 (pp 283-361). Para uma síntese da especificidade do fascismo, segundo Paxton, cf. pp 358-361. Cf. ainda os estudos clássicos de Renzo Felice, 1977; e ZeevSternhell, 1994. Para o corporativismo estatal, doutrina inspiradora do Estado Novo cf. Antonio Costa Pinto, 2014. Para a vasta literatura sobre o nazismo, cf. I. Kershaw, 2010 e 2015 e R. Gelatelly, 2011. Para o ponto de vista marxista, cf. N. Poulantzas, 1978.
[xxxvi] Uma crítica pertinente ao bolsonarismo, como política excludente, distinta do caráter essencialmente integrador do fascismo, foi elaborada por R. Lessa, 2020. Ressalvem-se interpretações que atribuem ao fascismo uma acepção mais ampla, mais elástica, enfatizando-se não propriamente a experiência histórica, mas um complexo de valores autoritários e intolerantes. Cf. U. Eco, 1995.
[xxxvii] Pesquisas realizadas entre 7 e 10 de maio de 2020 indicavam o crescimento da rejeição ao governo, alcançando patamar de 43,4% (governo ruim ou péssimo). Já os índices de aprovação caíram para 32%. Cf. disponível aqui, consultado em 26 de junho de 2020. Tais resultados foram confirmados em novas pesquisas, publicadas em 26 de junho de 2020.
[xxxviii] Para a caracterização da paranoia de Bolsonaro e de alguns de seus auxiliares, cf. a transcrição da reunião realizada pelo conselho de ministros, presidida pelo próprio Bolsonaro, em 22 de abril de 2020: disponível aqui. Filmada e gravada, o conteúdo da reunião foi divulgado por decisão da Justiça, mostrando-se Bolsonaro e vários de seus correligionários tomados por um delírio de cerco típico das pessoas paranoicas (perseguem, mas se sentem perseguidas). Escrevi a propósito uma crônica: Um governo em cuecas, publicada em 13 de junho de 2020, em O Globo, p. 3. Paulo Sternick, psicanalista, em 21 de junho, no mesmo jornal, p. 3, consideraria a pulsão de morte do Presidente.
[xxxix]Observe-se que o auxílio, de R$600,00 por mês, previsto para durar 3 meses, foi proposto pelo governo em apenas R$ 200,00. Nos debates no Congresso, aumentou para R$500,00 sendo, mais tarde, fixado em R$600,00 pelo próprio Bolsonaro. Reduzido a R$ 300,00, o auxílio foi mantido até o fim do ano de 2020. O auxílio vem socorrendo dezenas de milhões de pessoas e seu impacto foi decisivo para evitar o agravamento da crise econômica e para ensejar a migração de muitos setores da pobreza e da miséria para a chamada classe C, ou seja, uma espécie de classe média inferior. Para a aceitação de Bolsonaro junto às camadas populares,cf. pesquisas realizadas em setembro último: disponível aqui. Consultado em 22/10/2020.
[xl] Tais tendências tornaram-se evidentes a partir da divulgação da reunião ministerial de 22 de abril. São defendidas pelos generais que assessoram Bolsonaro, como o gen. Braga Netto, e também pelos ministros de desenvolvimento regional, Rogério Marinho e de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, cf. nota 44.
[xli] Observe-se que V. Orbán foi um dos poucos líderes internacionais a comparecer pessoalmente à posse de Bolsonaro, em janeiro de 2019.
[xlii] ElioGaspari, em sua coluna no Globo, de 10 de junho de 2020, p. 3, registrou reflexões de lideranças políticas (Joice Hasselmann, ex-líder do PSL, partido do governo na Câmara de Deputados) e intelectuais (José Arthur Giannotti, simpático ao PSDB, e Denis Lerner Rosenfeld, da direita democrática) que manifestavam alarme com seus procedimentos autoritários, classificados como chavismo de direita.
[xliii] Além da aprovação de 40%, que consideraram o governo “ótimo e bom”, Bolsonaro ainda conta com 29% que consideraram o governo “regular”. Além disso, recorde-se a força capilar – e popular – dos evangélicos.
[xliv] Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, o país conta hoje, fins de outubro de 2020, com 14 milhões de desempregados. No quadro atual duvida-se da possibilidade de maciços investimentos internacionais, restando, portanto os investimentos estatais, combinados com setores industriais de intenso aproveitamento da mão de obra, como a construção civil. Por ironia, algo muito semelhante ao realizado pelos governos petistas.
[xlv] Cf. intervenção de Carlos Vainer na emissão Rebeldes, sempre, em três partes, a partir dos seguintes links: aqui; aqui; e aqui.
[xlvi] Alcançaram grande repercussão, manifestos assinados por intelectuais de esquerda e do centro e direitas democráticos: “Estamos juntos”; “Basta” (juristas); “Somos 70%” e “Enquanto houver racismo, não haverá democracia”.
[xlvii] Cabe assinalar, contudo, que diversas manifestações e articulações populares têm se autoidentificado como antifascistas. Assim, não é de se excluir a hipótese que esta terminologia se afirme e se generalize.
[xlviii]S. Zizek, 2017.
[xlix] O presente texto atualiza e aprofunda questões veiculadas por artigo intitulado: “A extrema-direita brasileira: uma concepção política autoritária em formação”, publicado no Anuario de la Escuela de História, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, em fins de outubro de 2020. Mencione-se igualmente uma primeira versão, intitulada: “Notas para a compreensão do Bolsonarismo”, publicada em abril de 2020 na Revista de Estudos Ibero-americanos, v. 46, n° 1/2020, Seção Tribuna. Revista de História da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUC/RGS, Brasil (Cf. D. Aarão Reis, 2020). Para a presente reelaboração, contribuíram sugestões de Angela Castro Gomes, Janaína Cordeiro, Marcelo Ridenti, Rodrigo Patto Sá Motta e Vladimir Palmeira, embora, de modo algum, possam ser responsabilizados por eventuais imprecisões e erros de avaliação que subsistam no artigo.
Leia mais
- "A democracia está ameaçada no Brasil. Conseguiremos salvá-la?". Entrevista especial com Daniel Aarão Reis
- A democracia brasileira está 'balançando'. O crime organizado é uma das principais ameaças. Entrevista especial com Daniel Aarão Reis
- “O sistema político brasileiro é um cadáver, apodrecendo a céu aberto". Entrevista com Daniel Aarão Reis
- Daniel Aarão Reis: As conexões civis da ditadura brasileira
- O fim melancólico da Lava Jato. Casamento tumultuado com bolsonarismo e escândalo de vazamento de mensagens aceleraram declínio
- Vitória da direita tradicional pode dar novo corpo ao Bolsonarismo, avalia cientista política
- Nunca se viu um governo tão abençoado: fundamentos teológicos do bolsonarismo. Artigo de Fábio Py
- Estado de ódio: o extremismo de extrema direita. Um relatório
- Dois anos de desgoverno – três vezes destruição. Artigo de Leda Maria Paulani
- Dois anos de desgoverno – um parêntese na história brasileira? Artigo de Bernardo Ricupero
- Extrema direita: pautas moralistas unem religião e militarismo. Artigo de Robson Sávio Reis Souza
- “Os governos da direita e da extrema direita são muito bons para destruir, mas muito ruins para construir”. Entrevista com Boaventura de Sousa Santos
- “É a extrema direita que está melhor posicionada para aproveitar o descontentamento global”. Entrevista com Walden Bello
- ‘A extrema-direita construiu as melhores máquinas de guerra digitais’
- “A unidade da esquerda é importante mas sozinha não garante a vitória. É preciso se reconectar com o povo”. Entrevista com Guilherme Boulos
- A esquerda perdeu, mas não foi derrotada. Entrevista especial com Valério Arcary
- Sobre uma esquerda ensimesmada e rendida
- Dois anos de desgoverno – a política da caverna. Artigo de Ricardo Antunes
- Dois anos de desgoverno – criminoso, antinacional e liberticida. Artigo de Luis Felipe Miguel