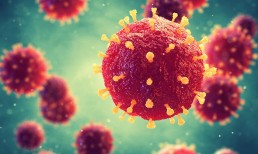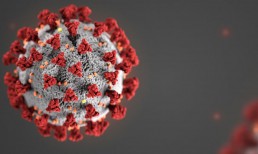Hélio Schwartsman
Hélio Schwartsman: Bolsonaro é burro mesmo
O presidente está cavando sua própria sepultura política, atitude incompatível com inteligência
Em 31 de maio de 2019, quando o mundo era outro, publiquei a primeira coluna em que perguntava se Bolsonaro era um sujeito inteligente, que se vale de estratégias mais ou menos elaboradas para alcançar seus objetivos, ou apenas um oportunista que teve duas ou três intuições corretas e muita sorte. À época, admitia que as duas leituras eram possíveis.
Penso que hoje já é possível responder à questão de forma mais assertiva e concluir, quase definitivamente, que Bolsonaro é burro mesmo. Uma guerra ou pandemia (os efeitos políticos são parecidos) é o sonho de consumo de líderes em dificuldades. Elas oferecem o pretexto ideal para o governante evocar o discurso da união nacional e surfar na subsequente onda de popularidade.
Não é uma coincidência que regimes moribundos frequentemente provoquem um conflito armado para tentar legitimar-se pela guerra, como fizeram os generais argentinos nas Malvinas em 1982. Não deu certo porque perderam no teatro militar, mas praticamente toda a oposição cerrou fileiras com os ditadores.
Levantamento do site The Brazilian Report feito em oito países mostrou que Bolsonaro e o presidente mexicano, que também flertava com o negacionismo, foram os únicos que não experimentaram aumento de aprovação por causa da Covid-19. Mesmo dirigentes de nações que lidam com pilhas de cadáveres, como a Itália e os EUA, recuperaram popularidade.
Mais, a epidemia é um tipo de crise que faz com que políticos que não tenham cargos públicos praticamente desapareçam. Foi o caso de Joe Biden nos EUA. A figura que cresceu ali foi a do governador de Nova York, Andrew Cuomo. Aqui no Brasil, Luciano Huck se apaga, enquanto ganham visibilidade Doria, Witzel, Maia e Mandetta.
A menos que Bolsonaro tenha acesso a conhecimentos privilegiados sobre a Covid-19, ele está cavando sua própria sepultura política, atitude incompatível com inteligência.
Hélio Schwartsman: O êxito alemão
Junto com Coreia do Sul, país já passou pelo primeiro pico epidêmico
Qual o segredo do sucesso da Alemanha no manejo da Covid-19? São vários. O mais óbvio deles é matemático. Por testar muito mais que outros países, os números teutônicos estão um pouco menos distantes dos reais.
Se você só testar cadáveres, terá 100% de letalidade; se testar apenas casos graves, essa cifra cai um pouco, chegando a índices como o italiano (12%), o britânico e o espanhol (10%). Mas, se testar de forma mais indiscriminada (o que também facilita identificar precocemente as cadeias de transmissão e desfazê-las), as taxas caem para menos de 2%, como é o caso da Alemanha e da Coreia do Sul, dois países duramente atingidos e que já passaram pelo primeiro pico epidêmico.
Isso, porém, é só parte da história. A Alemanha não se sai melhor apenas por apresentar números menos distorcidos. Ela também conseguiu achatar a curva exponencial, evitando sobrecarga sobre seu sistema de saúde, que já era bom e foi reforçado. Médicos alemães, ao contrário de italianos, não tiveram de decidir entre quem iria ou não para o ventilador, o que significa que salvaram proporcionalmente mais pacientes críticos que os colegas da Lombardia.
Um aspecto menos comentado do sucesso dos alemães é que, mesmo em condições normais, eles já vivem em maior isolamento social que os italianos (e ao menos outros seis povos europeus). Num interessante trabalho de 2008, com o objetivo de reunir dados comportamentais para a modelagem de infecções respiratórias, Joël Mossong e colaboradores monitoraram os contatos sociais de 7.290 participantes de oito países europeus. Enquanto os italianos apresentaram média de 19,77 interações diárias (a maior das oito nações), os alemães mantiveram apenas 7,95 (a menor).
Pode haver algo de verdade no clichê de que povos latinos são calorosos e efusivos enquanto os germânicos são frios e distantes. Não é uma constatação de muito bom augúrio para nós brasileiros.
Hélio Schwartsman: Covid-19, enfim uma boa notícia
Dados mostram que letalidade pode ser bem menor do que se apontava
Enfim uma boa notícia. Saíram os primeiros números do estudo epidemiológico feito por amostragem aleatória na cidade de Heinsberg, na Alemanha, e eles sugerem que o vírus infectou muito mais gente do que indicavam os registros oficiais, o que também significa que a moléstia é muito menos letal do que apontava a contabilidade.
Os dados divulgados nesta quinta-feira (9), relativos a uma amostra representativa da população de Gangelt, um distrito rural de Heinsberg, mostram que 15% dos residentes entraram em contato com o vírus e desenvolveram anticorpos, o que em tese os deixa imunes à moléstia pelo menos por alguns meses.
Com esse novo denominador, a letalidade da Covid-19 no distrito, um dos mais duramente atingidos do país, foi de 0,37% — menos de um quinto da letalidade nacional calculada a partir dos casos testados. E vale notar que a letalidade alemã já era uma das menores do mundo.
Há aqui duas implicações importantes. Os casos assintomáticos ou extremamente leves são em número bem maior do que se supunha. Se, na primeira onda epidêmica, 15% da população foi infectada, a estratégia de apostar no isolamento social por mais algum tempo, até que surja a imunidade de rebanho, passa a fazer mais sentido. Não seriam mais vários anos de espera sob lockdown.
É importante frisar que, apesar de Heinsberg ter sido um “hot spot” de Covid-19 na Alemanha, a região não chegou nem perto de experimentar um colapso na rede de atendimento hospitalar. Em países que viveram esse drama, a mortalidade pode ser bem maior.
A pergunta que não quer calar agora é se os dados provisórios de Heinsberg valem para o resto do mundo. Apenas mais estudos poderão responder com precisão à pergunta, mas o grande aumento de casos de síndrome gripal que tem aparecido nas estatísticas dos sistemas de vigilância de vários países são fortemente sugestivos de que o panorama pode ser mais ou menos o mesmo.
Hélio Schwartsman: Bolsonaro e a Covid-19
Acho que personalidades autoritárias são mais propensas ao pensamento mágico
Jair Bolsonaro é definitivamente um fã da hidroxicloroquina, como era da fosfoetanolamina (a pílula do câncer). Ele promove a droga, apesar dos alertas de especialistas de que ainda não há provas de que ela funcione contra a Covid-19. Bolsonaro também flerta com o negacionismo pandêmico. Há uma relação entre as duas coisas?
Obviamente, não podemos tirar nenhuma conclusão generalizável a partir de um caso isolado, mas acho que dá para formular uma conjectura que poderia ser testada mais amplamente: personalidades autoritárias, que não admitem ser contrariadas, são mais propensas ao pensamento mágico, especialmente diante de situações sobre as quais não têm controle.
Acreditar que a hidroxicloroquina seja a resposta para a crise e recomendar o uso indiscriminado sem estudos controlados que atestem que ela funciona é uma instância de pensamento mágico, a sobreposição do desejo sobre a realidade. Não estou afirmando que médicos não possam fazer uso "off label" da droga (ou humanitário, nos casos graves), mas que é loucura transformar sua administração maciça em política pública sem amparo em evidências. Isso é torcida, não gestão.
Embora minha hipótese seja a de que figuras como Bolsonaro estejam mais sujeitas ao pensamento mágico, este não é uma exclusividade de personalidades autoritárias. Durante milhares de anos, do Antigo Egito à América oitocentista, médicos, isto é, a elite intelectual, prescreviam sangrias a pacientes imaginando curá-los. Juravam que funcionava.
Hoje, sabemos que a prática era frequentemente letal. George Washington e Mozart morreram por causa dela. Só a abandonamos, e ainda assim com relutância, depois que começamos a conduzir ensaios clínicos controlados, que possibilitam separar desejo de realidade. É triste ver que ainda há profissionais que não aprenderam essa que é a mais básica das lições da medicina baseada em evidências.
Hélio Schwartsman: As regras do contágio
Não devemos ignorar os enormes ganhos que estudos observacionais já nos proporcionaram
A essa altura, muitos leitores já não devem aguentar mais ouvir falar em curvas de contágio, R (número de reprodução), imunidade de rebanho e outros termos da epidemiologia. Ainda assim, ouso recomendar "The Rules of Contagion" (as regras do contágio), de Adam Kucharski, ao qual já fiz alusão aqui.
O livro foi finalizado antes da pandemia de Covid-19, então não trata da ameaça que enfrentamos. Mas Kucharski, que é matemático por formação, conta a história da epidemiologia, que surgiu com o teorema do mosquito de Donald Ross no início do século 20, e consegue explicar com didatismo e sabor literário os princípios sobre os quais ela se assenta.
O resultado é uma fascinante combinação de matemática com biologia, psicologia e várias outras ciências. Até arquitetura entra, quando se avaliam condições de moradia que podem fazer muita diferença numa epidemia.
O mais interessante, porém, é que Kucharski não se limita a tratar de doenças. Ele vai bem além e mostra como os princípios da epidemiologia ajudam a entender fenômenos tão diversos como crises financeiras, violência, fake news e até o marketing.
O autor não esconde as limitações de seu ramo de saber. Diz que, como a epidemiologia se calca muito mais em análises observacionais do que em experimentos —é quase sempre antiético contaminar pessoas com um patógeno para ver o que acontece—, já se sugeriu que ela está mais próxima do jornalismo que da ciência: descreve os acontecimentos enquanto eles se desenrolam, em vez de tirar conclusões de situações controladas.
Pode ser, mas não devemos ignorar os enormes ganhos que estudos observacionais já nos proporcionaram. Foi graças a eles que descobrimos que cigarros causam câncer e que não era uma boa ideia usar raios-X em lojas de sapatos para ver como o pé ficava dentro do calçado, entre vários outros achados que tornaram nossas vidas mais longas e seguras.
Hélio Schwartsman: Bolsonaro virou o bobo da corte
A piada em que Bolsonaro se transformou poderá custar vidas
Jair Messias Bolsonaro tornou-se um bobo da corte, com uma diferença importante: bobos da corte costumavam dizer verdades.
Os sinais de que o presidente da República deixou de ser levado a sério são numerosos e inequívocos. Prefeitos e governadores, alguns dos quais eleitos na mesma onda conservadora que impulsionou Bolsonaro, fazem exatamente o contrário do que ele recomenda —e não hesitam em explicitar isso.
Até ministros de Estado, que foram por ele escolhidos e são demissíveis "ad nutum", se articulam para fazer o by-pass do chefe. Além de Mandetta, Moro e Guedes já disseram, ainda que tentando esboçar alguma diplomacia, que apoiam as medidas de isolamento social que Bolsonaro renega. Há notícias de que o núcleo militar tenta enquadrá-lo, mas a persuasão, quando surte efeito, é transitória. Só dura até a próxima declaração ou postagem, quase sempre uma combinação de mentiras com delírios.
É bastante sintomático que empresas de mídia social como Twitter e Instagram tenham decidido censurar manifestações de Bolsonaro, por julgar que se tratam de falsidades que colocam pessoas em risco.
No Congresso o clima não é muito diferente. Parlamentares já desistiram de esperar que Bolsonaro exerça a liderança que caberia ao presidente num momento como este e estão cuidando de elaborar por conta própria medidas para atenuar a crise. Se o Legislativo estivesse operando em condições de normalidade, estaríamos possivelmente iniciando procedimentos de impeachment.
O isolamento de Bolsonaro é internacional. Se, até uma ou duas semanas atrás, ainda havia líderes populistas apostando no negacionismo, como o mexicano Andrés Manuel López Obrador e o próprio Donald Trump, eles vislumbraram o tamanho da encrenca e adotaram uma posição mais responsável. Bolsonaro ficou praticamente sozinho.
Só não dá para rir da piada que Bolsonaro se tornou porque ela poderá custar vidas.
Hélio Schwartsman: Covid-19 vai vencendo a primeira batalha
Profissionais de saúde estão se contaminando aos borbotões
Eu, por ora, escapei da Covid-19, mas minha mulher não. Médica intensivista e cardiologista, Josiane começou a experimentar os sintomas da doença na semana passada. Ela está se recuperando e, em breve, deverá voltar para a linha de frente. Embora seu quadro tenha sido moderado, não foi nenhum "resfriadinho".
Ciente dos riscos que corria, Josiane já me banira, com os meninos e os cachorros, para o sítio, onde estamos há duas semanas —e ela só me deixou voltar uma vez para levá-la para fazer exames. Nosso isolamento ocorre em condições bucolicamente privilegiadas, mas devo confessar que é angustiante acompanhar a evolução dos sintomas à distância.
Escrevo isso para dizer que estamos perdendo a primeira batalha para a Covid-19. Profissionais de saúde estão se contaminando aos borbotões. No Brasil estamos apenas no início da epidemia, mas, em lugares em que ela está mais madura, os números impressionam.
Na Espanha, quando o total de casos confirmados somava 40 mil, o pessoal de saúde correspondia a 14% dos infectados. No Reino Unido, 25% dos médicos que trabalham para o NHS, o SUS local, tiveram de ser afastados por estar doentes ou para cumprir isolamento. Obviamente, esse tipo de baixa afeta a capacidade do sistema de responder à crise, tanto pela ausência física da mão de obra como pelos efeitos sobre o moral dos profissionais que seguem atuando.
Substituições são necessárias, mas subótimas. A intubação é um procedimento crítico para salvar a vida do paciente grave, mas também uma das situações que expõe as equipes ao maior perigo de contágio. Quando é feita por um médico menos experiente no procedimento, o risco aumenta. Pior, é provável que a dose de vírus a que a pessoa é submetida no episódio da contaminação afete a severidade do quadro que desenvolverá, o que explicaria casos de profissionais de saúde jovens que ficam gravissimamente doentes.
Hélio Schwartsman: O pior cenário
Um cenário epidemiológico mais assustador pode afetar a magnitude da epidemia
Quanta gente vai morrer na pandemia de Covid-19? A pergunta é, por ora, irrespondível, embora não faltem modelos epidemiológicos que tentam oferecer às autoridades sanitárias uma base minimamente racional para a tomada de decisões.
Os cenários traçados nessas simulações vão desde os verdadeiramente lúgubres, que preveem, na pior hipótese, 40,6 milhões de óbitos globais (Imperial College), aos mais róseos, nos quais menos de um de cada mil infectados fica doente o bastante para precisar de tratamento médico (Oxford).
Como é possível tanta discrepância? Modelos são tão bons quanto seus pressupostos e os parâmetros com os quais você os alimenta. E a triste verdade é que ainda sabemos muito pouco sobre o Sars-Cov-2. Um número tão fundamental como a proporção de assintomáticos para cada paciente sintomático ainda não foi bem estabelecido. É ele que pode nos dar um vislumbre de quão longe estamos do fim da pandemia, na ausência de uma vacina.
Também estamos supondo que pessoas que tenham sido infectadas e se recuperado se tornem pelo menos transitoriamente imunes ao vírus. É uma boa aposta, considerando o comportamento da grande maioria dos vírus e os dados até aqui coletados, mas não estamos 100% seguros de que isso seja verdade. Se não for, todos os modelos ruem. Os que estamos usando são do tipo SIR e, não havendo imunidade, teriam de ser do tipo SIS. O cenário ficaria mais tenebroso também.
Apesar dessas limitações, modelos epidemiológicos têm uma peculiaridade que os torna nossa melhor defesa contra a epidemia. Uma previsão climática pessimista não altera o tamanho da tempestade, mas um cenário epidemiológico mais assustador muda o comportamento do público e de autoridades, o que afeta a magnitude da epidemia. Assim, paradoxalmente, podemos dizer que um modelo é bem-sucedido quando faz com que todos atuem para falsear as suas piores previsões.
Hélio Schwartsman é jornalista, foi editor de Opinião. É autor de "Pensando Bem…".
Hélio Schwartsman: Precisamos ganhar tempo
A cada semana que passa, médicos aprendem mais sobre a doença
A epidemia de Covid-19 exigirá de cada um de nós um enorme esforço pessoal. O objetivo primordial da estratégia de supressão é evitar o colapso da rede hospitalar e, assim, reduzir o número de óbitos por falta de atendimento, um tipo de morte capturável pelas câmeras e que nossas sociedades veem como especialmente perverso. O objetivo secundário é ganhar tempo.
E por que o tempo é importante? Vários motivos. A cada semana que passa, médicos aprendem mais sobre a doença. O tratamento hoje dispensado aos pacientes com complicações já é melhor do que o de quando a Covid-19 apareceu, no final do ano passado.
Também podemos esperar algum progresso na frente das terapias e vacinas. A pesquisa está a todo o vapor em todo o mundo. Imunizantes e fármacos novos devem demorar, mas temos um amplo arsenal de drogas já aprovadas nas prateleiras das farmácias, e é possível e até provável que uma ou uma combinação delas apresente resultados. Mesmo que não venha a cura, uma redução no tempo de internação dos pacientes críticos já traria, no agregado, um bem-vindo alívio no fluxo dos hospitais.
Até a evolução pode ajudar. Não se trata de uma lei de ferro, mas existe uma tendência de vírus se tornarem menos patogênicos ao longo do tempo. Cepas menos virulentas costumam infectar mais gente, roubando espaço ecológico das variantes mais agressivas.
O mais fundamental, porém, é que o tempo dá aos sistemas de saúde e aos governos a oportunidade de se preparar para a segunda onda da epidemia e os surtos subsequentes. Isso significa providenciar, nas quantidades que forem necessárias, itens como ventiladores, equipamentos de proteção individual e, principalmente, testes. São os testes que permitirão, mais à frente, determinar qual é a população que já tem anticorpos contra a Covid-19 e, se a imunidade se confirmar, liberá-la para o trabalho, dando início à retomada econômica.
Hélio Schwartsman: O dilema é real
Tentar preservar a atividade econômica não é preocupação sem sentido
Jair Bolsonaro é um alienado, mas a preocupação em tentar preservar a atividade econômica não é sem sentido, sobretudo porque não há clareza sobre quanto tempo a crise da Covid-19 pode durar. A normalização de fato só virá se conseguirmos desenvolver uma vacina ou depois que gente o bastante tiver sido infectada e se recuperado, produzindo a tal da imunidade de rebanho.
Precisamos parar quase tudo por um tempo, para tentar reduzir o impacto da primeira onda da epidemia sobre os sistemas de saúde, mas um lockdown não pode durar para sempre. Basta um experimento mental para constatá-lo: ignoramos a real letalidade do Sars-Cov-2, que pode ficar em qualquer cifra entre 0,05% e 3%, mas não precisamos de estudos epidemiológicos para saber que a inanição é letal em 100% dos casos.
E o tempo de paralisação importa. Bem antes de chegarmos ao ponto da fome generalizada pelo colapso da produção agrícola --se ninguém fabricar mais peças de trator, uma hora o campo para--, começaríamos a colecionar mortos por outras causas, como o agravamento de cânceres devido ao adiamento de cirurgias eletivas, doenças associadas à desnutrição nas famílias mais vulneráveis etc.
Nem é preciso introduzir elementos financeiros na conta. Há, por definição, um instante em que os óbitos atribuíveis à deterioração econômica superam os da Covid-19.
Ainda que os parâmetros que permitiriam fazer esse cálculo não sejam hoje conhecidos, o dilema entre proteger o sistema de saúde e proteger a economia é real. Precisamos desde já bolar estratégias para tentar retomar a atividade passada a primeira onda. Bons estudos epidemiológicos ajudariam muito.
O que torna a posição defendida por Bolsonaro insustentável são as incertezas em relação à epidemia.
Um lockdown exagerado sempre pode ser relaxado, mas um desleixo inicial, magnificado pelo poder avassalador da curva exponencial, não tem volta.
Hélio Schwartsman: Mais que um paliativo
Taxas de ocupação nas UTIs do país são muito elevadas
Mesmo antes da epidemia, uma falha da medicina brasileira era a pouca atenção dada aos cuidados paliativos. Todo o mundo sabe que vai morrer um dia, mas, por uma série de fatores, esse é um assunto que preferimos evitar, inclusive nos hospitais. O resultado é o prolongamento de esforços terapêuticos para além do razoável, muitas vezes aumentando o sofrimento do paciente e incorrendo em gastos difíceis de justificar.
O que a experiência brasileira e internacional mostra é que, quando equipes de cuidados paliativos se engajam em estabelecer uma comunicação honesta e empática com os pacientes e seus familiares, explicando o que se pode esperar nas próximas fases da doença, mesmo os piores prognósticos tendem a ser recebidos com menos angústia. Isso permite traçar estratégias mais humanas e realistas de tratamento, seja o paliativo exclusivo ou proporcional.
Se paliar mais já era uma necessidade antes da Covid-19, tornou-se agora questão de sobrevivência —de pessoas e do sistema.
O grande gargalo são as UTIs. O Brasil tinha, antes da crise, 47 mil leitos de UTI, mas mal distribuídos e com taxas de ocupação elevadas —95% no SUS e 80% na rede particular. Há grande esforço para ampliar essa capacidade. A ocupação será reduzida com a restrição de cirurgias eletivas, mas é preciso fazer mais.
Pacientes paliados que já não tenham como se beneficiar de internação devem, até para reduzir o risco de contrair nova moléstia, ser transferidos para casa ou unidades de retaguarda.
Se os piores cenários se materializarem e a infecção atingir com força também as cidades menores, milhares de pacientes poderão ficar sem acesso a UTIs. Só 10% dos municípios do país contam com esse tipo de leito. A impossibilidade de proporcionar um tratamento efetivo não desobriga médicos de oferecer conforto a esses pacientes. Como estão os estoques e a distribuição de morfina?
Hélio Schwartsman: Covid-19 não acaba tão cedo
Retardar a disseminação é só o primeiro round da luta
Declarações de autoridades e muitos dos artigos publicados na imprensa dão a impressão de que, se formos capazes de atravessar três ou quatro meses de extremas dificuldades, teremos triunfado sobre a Covid-19. Odeio ser o portador de más notícias, mas, se tudo sair melhor que o planejado, isto é, se conseguirmos retardar a disseminação da epidemia e assim evitar o colapso dos serviços de saúde, teremos vencido só o primeiro round de uma luta que poderá ser bem mais longa.
Como já escrevi aqui, epidemias normalmente acabam com uma vacina ou com o chamado esgotamento dos suscetíveis, que ocorre quando a maior parte da população já entrou em contato com o patógeno e desenvolveu defesas contra ele, dificultando sua propagação —a tal da imunidade de rebanho.
Em termos globais, isso só começaria a ocorrer depois que 4 bilhões de pessoas tivessem sido contaminadas. A menos que a proporção de casos não detectados da Covid-19 seja várias ordens de magnitude maior que as estimativas correntes, estamos longe disso. Daí decorre que, mesmo que zeremos as novas infecções, as cadeias de transmissão tenderão a restabelecer-se assim que as restrições à circulação forem relaxadas. Vimos isso na China no último domingo.
Nós provavelmente teremos de administrar sucessivos lockdowns para manter os hospitais operantes. Cada vez que a transmissão sustentada voltar a aparecer, será preciso reinstaurar o distanciamento social. Fala-se em um ano e meio para desenvolver uma vacina e pô-la no mercado —se é que o Sars-Cov-2 é "vacinizável"; muitos vírus não são.
Dados mais precisos sobre a epidemiologia da Covid-19 poderiam levar a uma mudança de estratégia.
Mas, enquanto eles não vêm, é preciso atuar segundo o princípio da precaução. Atrasar a disseminação da epidemia aumenta a dor econômica, mas dá aos médicos mais tempo para encontrar um tratamento, hoje nossa melhor esperança.