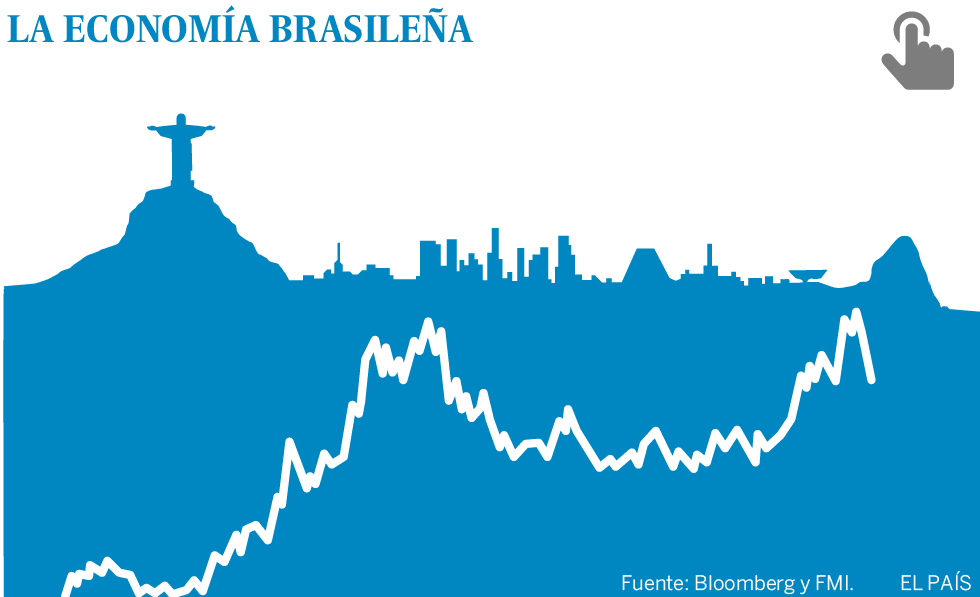Haddad
Bruno Boghossian: País vai precisar de mais do que palavras para juntar cacos da eleição
O chamado à união é o acessório mais barato do manual dos vencedores. Palavras de conciliação e pedidos de diálogo são o mínimo que um presidente eleito pode oferecer a seu país. É preciso ir muito além quando as circunstâncias exigem.
Quem acredita que uma eleição dá aval à maioria para esmagar a minoria não procura uma urna eletrônica, mas um rolo compressor. O discurso que o Brasil ouvirá ao fim da apuração ainda não será suficiente para evitar que a intolerância seja reconhecida como ferramenta política.
O líder nas pesquisas foi muito longe nessa direção. No comício que fez pelo celular no domingo passado, Jair Bolsonaro ameaçou punir adversários e banir opositores. A fala de pacificação que promete fazer caso confirme sua vitória não apagará seus instintos autoritários. A conciliação dependerá de atos concretos.
Reeleita em 2014, Dilma Rousseff falou cinco vezes em diálogo, mas não estendeu a mão, nem mencionou o nome do rival Aécio Neves. “Não acredito, sinceramente, que essas eleições tenham dividido o país ao meio”, declarou, encantada com o próprio triunfo na corrida presidencial mais apertada da história.
O que dizer, então, de uma disputa em que um ex-presidente foi para a cadeia, juízes e policiais censuraram debates nas universidades, torturadores foram defendidos abertamente, eleitores agrediram rivaise um candidato foi esfaqueado?
Quem for eleito terá a legitimidade democrática do voto popular e, espera-se, fará o tradicional discurso da pacificação. Esse esforço pode soar bem, mas a ferida aberta nessa campanha tão violenta não será cicatrizada apenas por palavras.
Divergências continuarão a existir após a eleição. É fundamental evitar que essas diferenças contaminem as relações políticas e, principalmente, governos e instituições.
Começa agora um trabalho coletivo para juntar os cacos da disputa. A sociedade, a imprensa, a polícia e o Judiciário terão o papel de garantir o cumprimento da lei, preservar direitos e proteger liberdades.
Vera Magalhães: Que vença a democracia!
O eleito neste domingo deve entender que terá de se dobrar à Constituição, e não o contrário
Escrevi neste mesmo espaço na semana passada sobre os riscos que Jair Bolsonaro representa, e os que não representa, à democracia. Cotejei seu histórico de declarações autoritárias ou abertamente antidemocráticas com os limites impostos pela Constituição, pelas instituições e pela sociedade civil.
No mesmo dia, no entanto, Bolsonaro deu um show de desrespeito ao dissenso e fez ameaças concretas de retaliação a opositores no discurso que gravou para o ato em apoio à sua candidatura na avenida Paulista.
Hoje, a se confirmarem as pesquisas, o candidato do PSL será eleito presidente da República. Qualquer que seja o porcentual que atinja, os 60% pretendidos por sua campanha ou números menos eloquentes mostrados por algumas pesquisas, terá a missão de governar para todo o País, e não só para os que o reverenciam nas ruas e nas redes sociais. E é preciso que, imediatamente, desça desse palanque no qual tem vivido nas últimas décadas e pare com essa retórica inflamável que não condiz com a responsabilidade do cargo que vai ocupar.
Não partilho da opinião dos que acreditam que, eleito, Bolsonaro vai implantar uma ditadura aos poucos ou aos solavancos no País. Cubro política há 23 anos, morei dez deles em Brasília, converso diariamente com aliados do deputado, com opositores, com ministros do STF, com economistas, com parlamentares. Sei que o tecido institucional vigoroso do Brasil e sua saúde civil impedem aventuras desse tipo. Por isso, digo aos que estão entre temerosos e histéricos: calma.
Além disso, Bolsonaro vai se deparar, caso eleito, com uma quantidade de problemas reais para administrar que o forçará a baixar o tom. Porque precisará do Congresso, do Judiciário e de apoio para além do exército de minions ruidosos para aprovar medidas que não serão populares, caso queira recuperar uma economia deixada em frangalhos por Dilma Rousseff.
Provavelmente Bolsonaro tentará usar as redes sociais para continuar se comunicando diretamente com seus apoiadores, driblando a imprensa e a pintando como inimiga toda vez que problemas de seu governo forem apontados. É o que faz Donald Trump, o modelo que o brasileiro não faz questão de esconder.
Que seja. A imprensa terá de encontrar meios, e saberá fazê-lo, para investigar, revelar, trazer à luz, contrapor, desmistificar, problematizar, analisar, criticar ou elogiar as medidas de sua Presidência sem se deixar calar por essa estratégia. Certamente a experiência americana também serve de ponto de partida.
E a sociedade civil estará atenta. A quantidade de pessoas dispostas a votar em Fernando Haddad – a despeito do legado tenebroso do PT em termos econômicos, éticos e morais – ou é uma mostra de que uma grande parcela da população brasileira considera que o histórico de agressões a minorias, ameaças a opositores, flertes com a ditadura e defesa da tortura de Bolsonaro são limites rígidos, intransponíveis.
Esse público não será uma parcela acanhada da população, facilmente calável com ameaças de perseguição ou até de um impensável banimento, como já fizeram Bolsonaro ou seus circunstantes. Será uma massa de milhões de brasileiros dispostos a repetir todos os dias que não se aceitará um direito a menos, que não se admitirá o uso da violência como política de Estado nem o fantasma dos tanques como mordaça.
A Constituição é a bússola para que o futuro governo seja legitimado, porque qualquer discurso que tente questionar o resultado das urnas é igualmente autoritário e indefensável. E também será o guia para que os cidadãos lembrem diuturnamente ao eleito e aos seus apoiadores que há regras a seguir, um dissenso a respeitar e um limite a determinar até onde se pode ir.
Eliane Cantanhêde: Bolsonaro, o novo Lula
Se perder, o PT amanhece na oposição contra um ‘novo Lula’ com dogmas e multidões
Enfim, chegamos ao final dessa eleição que teve de tudo, até candidato presidiário e facada no líder das pesquisas. Se houve algo estável em toda a campanha, desde o primeiro turno, foi a dianteira firme e segura do candidato Jair Bolsonaro, do PSL, um capitão reformado que está há 28 anos na Câmara e meteu os filhos na política, mas surge como “o novo”, para fazer “tudo diferente”. Acaba a eleição, vem aí a prova dos 9.
O grande marco de 2018 foi o fim da disputa PT versus PSDB, que atravessou décadas desde 1994, e o início da polarização PT versus Bolsonaro, mas com fortes mudanças no velho petismo e o surgimento de um “novo Lula”, só que pela direita.
A estrela do PT já tinha sido jogada pela janela em outros carnavais, ou eleições, e nesta até o vermelho foi deixado de lado, mas o maior ausente não foram os símbolos, foram os atores. A famosa militância petista ficou em casa, a nova militância bolsonarista é que ocupou as ruas e a guerra eleitoral migrou para as redes sociais. Para o bem, principalmente para o mal.
Assim como tudo o que Lula diz é dogma para os petistas, tudo o que o capitão Bolsonaro diz passou a mover multidões pelo País afora, por mais barbaridades que tenha dito, sobre ditadura, tortura, mulheres, gays e por menos que tenha falado de pobres e do principal problema brasileiro: a desigualdade social.
Bolsonaro é um novo Lula, mas às avessas. Enquanto Lula garantia a fidelidade cega de artistas, intelectuais e da Igreja Católica cativando um eleitorado inabalável no Nordeste e entre os de baixa renda e escolaridade, Bolsonaro domina a classe média e se enraizou por todos os segmentos alavancado pelos ricos com diploma que emergiram como força política em junho de 2013. Mas a adoração a ambos tem muita semelhança, com uma realidade virtual em que tudo o que eles dizem vira verdade.
São esses dois polos que estarão se enfrentando nas urnas de hoje, de onde surgirá o futuro presidente do País e automaticamente a maior e mais aguerrida oposição que jamais se viu. Se Fernando Haddad (PT) vencer, terá contra ele um exército bolsonarista que bate o PT tanto nas ruas quanto nas redes, em número e em agressividade.
Se for Bolsonaro, como todas as pesquisas indicam, o que sobra de esquerda organizada para reagir e se contrapor é o PT. Esmagado nas eleições de 2016, com Lula preso, seus demais líderes também presos e até Dilma derrotada, mesmo assim o PT foi para o segundo turno. Ferido, não morto.
Logo, o que as pesquisas indicam que estará saindo das urnas hoje é um Bolsonaro eleito presidente e aprendendo o beabá da negociação política, da construção de maiorias parlamentares, da importância do equilíbrio fiscal, da dificílima tarefa de dizer “não”, muito especial para aliados, e tendo de conviver com algo inerente à democracia: a oposição. Confrontado, o general Ernesto Geisel fechou o Congresso. O capitão Bolsonaro não terá essa opção.
Ali na espreita estarão as instituições, a própria sociedade, os partidos e movimentos organizados e... o PT. Se perder a eleição hoje, o PT já amanhece amanhã como o grande vitorioso para liderar a oposição ao próximo governo. No início, devagar, auscultando, tateando. Pelo óbvio, quanto mais o governo errar, mais a oposição vai crescer.
E é assim que a terrível polarização da eleição vai ser transportada para o novo governo. Aí, é torcer e rezar pelo bom senso e o equilíbrio porque, para além das ideologias, dos partidos e das diferenças, há uma turminha que tem muita pressa: os 13 milhões de desempregados na rua da amargura. É por eles, pelo Brasil e pelo futuro que fica aqui o meu voto: sucesso, presidente, seja você quem for!
Ascânio Seleme: Um país fraturado
Quem vencer a eleição presidencial de hoje terá que governar um país fraturado. Além da tarefa gigantesca de redirecionar o país para fora da crise econômica e em direção ao futuro, recuperando a confiança de investidores e parceiros comerciais, o novo presidente terá de provar que reúne não apenas os votos, mas também a esperança dos brasileiros.
O presidente, que sairá das urnas com pouco mais da metade dos brasileiros ao seu lado, dificilmente conseguirá convencer a outra metade com o discurso do “governarei para todos”. Não importa se Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad, quem for eleito hoje terá enorme dificuldade para reconstruir todas as pontes dinamitadas ao longo da campanha e atrair o outro lado.
Bolsonaro passou a vida atacando a esquerda e a todos os que não se alinhavam com suas convicções de extrema direita. Como petistas conseguirão superar a bravata que o candidato fez no Acre, ao dizer que iria “metralhar a petralhada”? Tampouco será esquecido o discurso para a militância em que o capitão ameaçou prender e banir “os vermelhos”. Suas ofensas pessoais a membros de partidos de esquerda também serão sempre lembrados.
Nas ruas, uma minoria sentiu-se empoderada e passou a agredir até fisicamente militantes do outro lado. Pelo menos um petista foi assassinado em razão da sua preferência política. Amparados pelo discurso do líder, eleitores de Bolsonaro mais barulhentos passaram a dizer coisas absurdas nas redes sociais, algumas que já foram até mesmo tipificadas como crime. Ofensas a minorias, gays, índios, negros e também a mulheres fizeram parte de sua retórica de difícil cicatrização.
Do outro lado, Haddad e o PT atravessaram a campanha chamando Bolsonaro de fascista, nazista, homofóbico. Todos os candidatos que se aliaram ou foram eleitos ancorados no nome do candidato do PSL foram engolfados pelo discurso petista. A militância, menos compromissada e mais descuidada que o candidato, ultrapassou o limite e passou a se referir também aos eleitores do adversário como fascistas e nazistas.
Reaproximar estes dois polos será a mais árdua missão do presidente que conheceremos hoje. Não é fácil vislumbrar Bolsonaro convencendo eleitores de Haddad e tampouco Haddad cativando os anti-petistas que apoiaram o capitão. Quem sair vencedor das urnas esta noite terá sido democraticamente eleito e deveria merecer o respeito e as felicitações dos derrotados. Seria assim num país menos dividido que o nosso. Já foi assim no Brasil.
Desde a redemocratização, apenas um presidente eleito começou seu mandato sendo odiado pela porção do país que derrotou. Foi Fernando Collor, que atacou Lula abaixo da linha da cintura durante a campanha. Claro que Collor também colaborou e ampliou o ódio contra ele entre os seus próprios eleitores ao confiscar a poupança dos brasileiros.
Fernando Henrique, Lula e mesmo Dilma foram eleitos e iniciaram seus mandatos em paz. Lula teve forte oposição no episódio do mensalão e Dilma acabou cassada no caso das pedaladas fiscais. Apesar de os dois episódios estarem amparados pela lei e pela Constituição, Lula nega a existência do mensalão, e os petistas chamam de golpe o impeachment de Dilma. Foi aí que nasceu no petismo o estado de ódio, que em Bolsonaro cresce desde o seu primeiro mandato de deputado.
Embora sejam remotas as chances de sucesso de uma tentativa de reunião dos brasileiros, os dois candidatos juraram nestes últimos dias que querem pacificar o país. Bolsonaro disse na sexta-feira que fará um “governo de conciliação”. Haddad, também na sexta, pregou “um governo de união nacional”. Por sorte, o eleito vai ter obrigatoriamente de buscar esse objetivo. Caberá ao novo presidente reduzir o ódio que ele mesmo construiu entre os seus adversários. Qualquer movimento que faça nesse sentido amenizará o clima político que promete ser muito tenso nos próximos quatro anos.
Merval Pereira: No mesmo time
Para sair da crise, será preciso a união das forças políticas, pois nenhum dos dois candidatos terá capacidade de governar sozinho
A importância desta eleição presidencial é dada pelo clima de radicalização política que a dominou. Cruzamos a linha civilizatória com o atentado à vida de Jair Bolsonaro e prosseguimos em uma campanha radicalizada e de acusações de fake news de ambos os lados, com a utilização ao extremo dos novos meios de comunicação, amplificando-as.
Ao radicalismo dos oponentes neste segundo turno contrapõe-se a mensagem apaziguadora do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, publicada ontem pelo GLOBO.
Em bom momento o STF coloca-se, por seu presidente, como instituição mediadora dos conflitos, dando ênfase a esse papel que cabe na definição do Supremo como Corte Constitucional, mas não pela limitação de seus poderes, como querem os dois oponentes, nem uma Corte política, como também acusam os dois candidatos que disputam hoje o segundo turno.
Coincidentemente, na sexta-feira dois assuntos chamaram a atenção sobre o STF, de maneira positiva. O coronel da reserva que bravateou nas redes sociais contra o Supremo, atingindo a honra de vários ministros e até mesmo ofendendo pessoalmente a ministra Rosa Weber, que preside também o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acabou com tornozeleira eletrônica e circulação restrita pelo país.
No mesmo dia, o Supremo teve papel fundamental na reação do Judiciário contra a ação coordenada de tribunais eleitorais de 12 estados que, a pretexto de impedir propaganda eleitoral em prédios públicos, censuraram as manifestações dentro de universidades daqueles estados.
A coordenação entre os estudantes ficou evidenciada pela decisão conjunta de debater o fascismo, numa evidente referência ao candidato da extrema direita Jair Bolsonaro. A autonomia universitária não pode, porém, ser contestada por agentes repressores, e o trabalho do próximo governo será garantir a liberdade de expressão também para os grupos opostos, como os que, assim como Bolsonaro, acusam o PT de querer levar o país para o comunismo, como acontece em vários países da região.
O confronto de ideias deve ser a essência dos debates acadêmicos, mas não é com repressão que será garantido. É aí que entra o papel fundamental do vencedor de hoje. Com o país conflagrado desde 2013, o novo incumbente terá como missão principal e prioritária unir novamente os brasileiros, através de palavras e atos.
No discurso da vitória, além de assumir esse compromisso, o vencedor tem obrigatoriamente que se referir ao derrotado, assim como o derrotado deve telefonar desejando-lhe sorte.
Essa regra comezinha de civilidade não esteve presente em 2014, pois, mesmo tendo recebido um telefonema do tucano Aécio Neves, a presidente reeleita Dilma Rousseff não o mencionou em seu discurso.
Depois das trocas de ofensas e das posições radicalizadas dos dois candidatos, é difícil antever que tenham esse gesto de grandeza. Sem um gesto de conciliação, como prega o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, estaremos caminhando outra vez para o terceiro turno da eleição presidencial, e para um embate entre extremos que não ajudará o país a sair dessa crise imensa em que nos metemos.
Para sair dela, será preciso a união das forças políticas, pois nenhum dos dois candidatos terá capacidade de governar sozinho, muito menos de aprovar as reformas constitucionais de que o país necessita. Para além do pragmatismo necessário para tocar o governo, o novo presidente terá que favorecer um ambiente distensionado no país, sem o que estaremos no pior dos mundos, encalacrados financeiramente e encurralados no radicalismo político.
Não se trata mais de denunciar os culpados, mas de união de esforços para superar esse impasse com uma visão de país que tem faltado aos nossos líderes recentes, e faltou também, dos dois lados, na campanha eleitoral que se encerra.
Um exemplo formidável de espírito democrático está contido no discurso do então presidente Barack Obama, depois da vitória de Donald Trump para o governo dos Estados Unidos. “(...) esta é a natureza da democracia. Às vezes é duvidosa e barulhenta, muitas vezes não é inspiradora.
Quando o povo vota e perdemos a eleição, aprendemos com nossos erros, fazemos reflexões. E voltamos ao jogo. O importante é que sigamos em frente, com a presunção de boa-fé dos nossos cidadãos. (...) Vou fazer tudo para que o próximo presidente tenha sucesso, porque, no final, estamos no mesmo time”.
Míriam Leitão: Democracia nunca foi uma planície
Foi muito longa e penosa a estrada que nos deu o voto direto. Quem for eleito hoje governará nos limites da ordem democrática que construímos
Hoje, 147 milhões e 300 mil brasileiros farão História. São os que estão aptos a votar. Quem não for, ou votar nulo, também está dentro desse universo de decisão. Jamais deixarei de me emocionar em momentos assim. Foi muito longa e penosa a estrada que nos deu o voto direto. A democracia brasileira nunca foi uma planície. É como se tivesse que ser conquistada de novo a cada momento. Ela se expande, toma susto, é desafiada, volta a crescer, encontra obstáculo, supera. Sempre será essa incompleta obra coletiva. Como um tecido que fiamos juntos e os pontos às vezes se rompem.
Temia-se, desta vez, o desinteresse. Não foi o que tivemos. Houve momentos desta campanha em que parecia não haver outro assunto possível. O envolvimento é parte fundamental da renovação dos laços com o regime democrático. Saímos desta jornada exaustos, mas o país se engajou nesta escolha e o tema central passou a ser a própria democracia. Pelos cenários feitos, havia uma lista dos temas que certamente seriam os mais relevantes — e continuam sendo — segurança, educação, crise fiscal, desemprego. Mas o país se dividiu, discutiu, brigou pela democracia em si. Ela foi boa até aqui? Fez um bom trabalho? Tem defeitos? É frágil? É robusta?
A resposta é sim para todas as perguntas acima, apesar de parecer contraditório. É boa, fez um bom trabalho, tem defeitos. É frágil e robusta ao mesmo tempo. Fatos assustadores pareciam ser o prenúncio de volta do que o Brasil viveu. Sexta-feira foi o dia de ver de perto algo impensável. A repressão aos protestos em universidades. É da natureza dos jovens o debate acalorado que os mais velhos podem até achar radical, mas a ausência de liberdade de pensamento e manifestação nega a própria essência da universidade. O tempo cuidará de moderar o jovem, mas nada resgatará o que, alienado, não tiver olhos para nenhuma causa coletiva.
Tivemos, ao longo da República, períodos de democracia interrompidos por surtos autoritários. Foi assim no Estado Novo. Foi assim no regime de 1964-1985. Alguns preferem chamar de ditadura civil-militar. Respeito os argumentos, mas só os generais foram presidentes. O máximo a que um civil chegou foi à Vice-Presidência e o destino de Pedro Aleixo não nos deixa ter ilusões de que o poder fosse compartilhado.
Não falarei da dor dos que viram a face mais dura daquele governo, mas evidentemente a tenho em mente neste momento. O que parece mais relevante, contudo, foi o caminho que nos levou de volta à democracia. Houve fatos memoráveis. Falarei de um. O “Não” de Ulysses Guimarães e de Barbosa Lima Sobrinho, na anticandidatura de 1973-74, parecia um ato quixotesco, até exótico. Para que fazer campanha por todo o país para uma escolha que já fora tomada? Era uma luta tão perdida. O próximo presidente seria Ernesto Geisel. Estava decidido. Por que o deputado discursava pelo Brasil? Só quem, em momento pessoal de grande aflição, ouviu Ulysses prever a volta da democracia — “Alvíssaras, meu capitão, terra à vista” — pode entender o valor daquele ato político. As urnas se encheram de voto no antigo MDB na eleição seguinte. Além de acalmar os aflitos, o cálculo eleitoral do velho funcionou perfeitamente. Mas, depois, veio novo susto: o fechamento do Congresso, em 1977. E outros. E bombas no Riocentro.
Nunca houve planície. Foi de altos, baixos, solavancos e quedas a caminhada até a votação dentro daquele mesmo colégio eleitoral, usando a arma do regime contra o regime, que Tancredo Neves foi eleito. E, de novo, veio o susto. O que impediu as Forças Armadas e os porões ainda abertos a voltarem após a morte de Tancredo? A democracia já era forte ao nascer.
O Brasil fez então sua Constituinte. E, de novo, a palavra de Ulysses: “Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar patriotas para a cadeia, o exílio, o cemitério.”
A democracia renegociou a dívida externa deixada pelos militares, venceu a hiperinflação, aumentou a inclusão de brasileiros, ampliou o espaço de decisão, tem combatido a corrupção. Há ainda uma lista interminável de tarefas. Nunca será um caminho plano. Será sempre trabalhoso e desafiador viver a democracia. Mas a alternativa é o “caminho maldito”. O que for eleito hoje governará nos limites da ordem democrática que construímos.
Elio Gaspari: Os recuos de Bolsonaro foram um aviso
O candidato acreditava que óleo de pirarucu curava reumatismo ou queria que os outros acreditassem?
Jair Bolsonaro disse que fundiria os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Agora diz que pode mudar de ideia. Juntar a Fazenda com o da Indústria? Pensou melhor e vai desistir. Abandonar o acordo climático de Paris? Ameaçou, mas vai ficar. Encrencar com a China? Nem pensar. Formar uma base parlamentar baseada em princípios programáticos? Tudo bem, mas está catando ministros na cesta onde o eleitorado jogou candidatos do DEM.
Bolsonaro encantou o mercado ao reconhecer que não entende de economia e por isso faria do doutor Paulo Guedes o seu "Posto Ipiranga". Como ele nunca produziu um prego, os papeleiros passaram a cultivar a ideia de que Guedes também precisaria de seus "Postos Ipiranga". De posto em posto, quem quiser comprar um prego acabará procurando uma velha e boa loja de ferragens, onde os pregos nacionais custam mais caro que os chineses.
A sabedoria convencional ensina que promessa de candidato é uma coisa, realidade de governante é outra. Mesmo assim, Bolsonaro ficou fora da curva. Quando ele falou numa reconstrução da base parlamentar a partir de princípios, sabia que estava vendendo óleo de pirarucu como cura de reumatismo.
No caso das fusões de ministérios, do vale-tudo ambiental e das relações com a China, exercitava o próprio primarismo. Ele pode querer agradar ruralistas interessados na expansão da área de cultivo da soja no Cerrado, mas precisa combinar com as grandes empresas internacionais que comercializam o grão e precisam defender suas marcas.
Matar gente na periferia das grandes cidades causa constrangimentos pelo mundo afora, mas esse sentimento é difuso. Agredir o meio ambiente compromete a reputação dessas grandes empresas.
Não se pode dizer que Bolsonaro recuou. Fernando Haddad recuou na sua ideia de forçar uma Assembleia Constituinte. Já sua autocrítica em relação às roubalheiras petistas é apenas um truque. Só se recua de uma posição onde se esteve, e Bolsonaro nunca esteve de fato nas posições que defendia há meses, ou há anos, quando defendia o fuzilamento de Fernando Henrique Cardoso. Eram truques, como o de Donald Trump garantindo que Barack Obama tinha nascido no Quênia.
Política Democrática: Eleição escancarou intolerância na sociedade, dizem especialistas
Em artigos publicados na revista Política Democrática online, sociólogo e economista avaliam campanhas eleitorais e democracia
O período eleitoral escancarou a intolerância na sociedade, revelando o clima de tensão e ódio entre adversários que vai exigir, do presidente eleito neste domingo (28), um grande esforço para desarmar os espíritos. No entanto, o contexto brasileiro serve para mostrar que a democracia entra em crise porque não tem resposta às novas demandas da sociedade, provindas de uma profunda mudança social.
A avaliação é de analistas políticos autores de artigos publicados na edição de lançamento da revista Política Democrática online, produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP). Com acesso totalmente gratuito, a publicação foi lançada no dia 23 de outubro.
Em seu artigo, que recebeu o título “Ameaças à democracia”, o sociólogo Elimar Pinheiro do Nascimento explica que uma das dificuldades na construção de respostas por parte dos governos democráticos reside no que ele chama de “morte das ideologias”. Segundo o autor, a ideologia sobrevivente é o liberalismo.
No entanto, conforme acrescenta Elimar, o próprio liberalismo “torna-se cada vez mais incapaz de dar respostas aos novos problemas que emergem das mudanças estruturais da sociedade, particularmente oriundas da disseminação das novas tecnologias e da crise ambiental”.
Além de não ter considerado a importância de temas ambientais, o período eleitoral não explorou outros campos necessários para o desenvolvimento da sociedade, de acordo com o economista Sérgio Buarque. Ele é autor do artigo “Atropelado pelas emergências”, que também está publicado na revista.
De acordo com Sérgio, a campanha também escondeu os temas econômicos e fiscais incômodos que devem ser enfrentados pelo próximo presidente. Com isso, segundo ele, desmobilizou a sociedade para a necessidade de medidas que são inevitáveis ao reequilíbrio das finanças públicas. “Propostas enganosas e simplistas foram vendidas como mágicas para todos os males do Brasil”.
Leia mais:
El País: Brasil à flor da pele vota sem debater como tirar a economia da marcha lenta
A campanha eleitoral debateu ideologias e estilos distintos de governar. Mas nenhum candidato respondeu à pergunta que mais grita: quem será capaz de colocar o país no caminho da recuperação econômica firme?
O Brasil vai hoje às urnas para definir o nome do presidente que conduzirá seu destino nos próximos quatro anos. Os 147 milhões de eleitores decidem entre o ultradireitista Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. A campanha eleitoral que os colocou em lados opostos debateu ideologias e estilos distintos de governar. Mas nenhum respondeu à pergunta que mais grita hoje nas casas brasileiras: Quem será capaz de colocar o país de 209 milhões de pessoas no caminho de uma recuperação econômica firme, após dois anos de uma que foi apenas letárgica?
A campanha agressiva, que foi marcada inicialmente pela batalha jurídica pelo nome do ex-presidente Lula para ser o candidato do PT, e depois pela liderança de Bolsonaro, alvejado no início de setembro por um lunático com uma faca, acabou deixando em segundo plano a realidade cotidiana das pessoas, que tentam recuperar as ilusões perdidas ao longo da crise política e econômica que o país vive nos últimos quatro anos.
"O dinheiro parou de circular aqui", lamenta Maria Ferreira Lima, dona de um minúsculo quiosque de camisetas na popular rua 25 de Março, no centro de São Paulo. Lima passou 35 de seus 58 anos trabalhando na área que reúne centenas de lojas que vendem desde roupas de bebê, a panelas e enfeites domésticos. A região da 25 de Março se transformou em um termômetro da economia brasileira. E Lima, em uma testemunha da temperatura atual. “Em outros anos não se conseguia andar por aqui de tanta gente que comprava”, recorda. Aqueles eram tempos em que faltava mão de obra no Brasil, quando a nova infraestrutura em torno da Petrobras movimentava a economia. Agora os tempos são outros. A gigante do petróleo está no centro de uma investigação que paralisou a política e os negócios, e desde então o país não é o mesmo. Lima, que já teve uma loja na mesma rua, viu como a crise, que começou a dar os primeiros sinais em 2014 —no mesmo ano em que teve início a investigação da Lava Jato sobre corrupção na petroleira—, reduziu o público da 25. Ela mesma teve de fechar as portas de sua loja e ficar com o quiosque de camisetas. As que mais vendem são aquela com a cara de seu candidato a presidente. Vai votar em Bolsonaro e espera vê-lo governar a partir de janeiro de 2019.
A dona do quiosque é um reflexo do Brasil que o próximo presidente herdará. Um país em que as pessoas não aguentam mais rebaixar suas expectativas sobre o futuro, esperando que o dinheiro volte a circular e a economia ressurja novamente após quatro anos de paralisia. Foram dois anos de recessão, entre 2015 e 2016, e mais dois com uma recuperação anêmica. O país ainda não retomou a atividade dos anos pré-crise, embora os especialistas indiquem que, talvez, em 2020, possa conseguir isso.
A previsão é que em 2018 o PIB aumente 1,4%, após ter crescido apenas 1% em 2017. São resultados anêmicos para um país com tantos desafios a serem atendidos. "Neste momento não há garantia de que esse ritmo será mantido", explica Silvia Matos, do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas. Tudo indica que será Bolsonaro, com 8 a 10 pontos de vantagem sobre Haddad, de acordo com as últimas pesquisas, que terá de lidar com esse quadro econômico. Aos olhos dos cidadãos, a tarefa mais urgente para o novo presidente é retomar a confiança de um país dividido em dois pela política e, ao mesmo tempo, melhorar o ritmo da atividade econômica para quebrar o círculo vicioso instalado há alguns anos, como afirma o empresário Marcio Nahas, que também tem um negócio na rua em 25 de Março. "O desemprego cresceu. Com mais gente desempregada, vende-se menos nas lojas. E com vendas inferiores, os empregadores tiveram que cortar", comenta ele, dono de uma tradicional loja de tecidos, perto do quiosque de Lima. Nahas teve de reduzir em 30% sua folha de pagamento para sobreviver a tempos difíceis.
No total, o Brasil soma 12,7 milhões de desempregados, com uma taxa de desemprego de 12,1%. Nas eleições de quatro anos atrás, o desemprego era de 4,8% e o país estava satisfeito por ter uma situação de pleno emprego. Hoje, esse passado parece uma miragem. No caminho explodiram alguns problemas fiscais que fizeram aflorar uma bolha no mercado de trabalho. Entre estas medidas estavam subsídios fiscais a empresas, com a intenção de incentivar o consumo, e investimentos públicos equivocados do Governo de Dilma Rousseff (que presidiu o país entre 2011 e 2016, quando foi destituída pelo Congresso). Ambos os incentivos expandiram os gastos públicos sem uma contrapartida em termos de cobrança de impostos.
A dívida pública passou de 55,4% do PIB em 2014 para 77,3% neste ano, de acordo com os cálculos do Banco Central do Brasil. Pela metodologia do Fundo Monetário Internacional (que inclui títulos do Tesouro como garantia de compromissos), o quadro clínico é ainda mais agudo, com 85,92% (dados de agosto) de dívida sobre o PIB. Essa é outra espada na cabeça do próximo presidente. Segundo os especialistas, trata-se de uma bomba-relógio que pode explodir e aprofundar o quadro negativo da economia se os ajustes não forem feitos a tempo. Já faz cinco anos que o Brasil não consegue obter superávit nas contas públicas. Mesmo tendo congelado os gastos públicos em 2017.
O déficit primário esperado para este ano excede 139 bilhões de reais, um valor equivalente a 2% do PIB, e a expectativa para 2019 é que o resultado permaneça negativo. "Quem for o próximo presidente do Brasil, encontrará uma situação extremamente frágil", alerta o economista Claudio Frischtak. E não há milagres para reverter a situação, apesar de isso ter sido prometido durante a campanha eleitoral. Bolsonaro, por exemplo, garante que levará o déficit a zero em 2019 sem aumentar impostos, algo que exigiria crescimento de 4,5%. "Isso é impossível", diz Frischtak. Por sua vez, Haddad tem propostas de investimento público em setores que empregam muita mão de obra, como o de infraestrutura, algo que ajudaria a criar uma onda de otimismo para o crescimento do consumo e a arrecadação do Governo.

Reforma da Previdência
Qualquer que seja a solução a curto prazo, os economistas consultados por EL PAÍS coincidem em apontar a reforma da Previdência como base para uma sólida transformação do Brasil. A queda na taxa de natalidade e a maior expectativa de vida reverteram a pirâmide demográfica. O sistema dificilmente será sustentável sem se mudar a matemática. Em 2017, o déficit do caixa das aposentadorias foi de 268,8 bilhões de reais, 18,5% superior ao de 2016. "A reforma do sistema previdenciário é a espinha dorsal de um ajuste fiscal", defende Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos. "Uma agenda de ajustes é prioritária. Se não houver um senso de urgência nesta questão, o preço a pagar será muito alto ", acrescenta.
As mudanças na aposentadoria não são fáceis em nenhum país, e o Brasil não seria exceção. O atual presidente, Michel Temer, tentou avançar nesse assunto e o Congresso a princípio lhe deu apoio. Mas na véspera de um ano eleitoral este apoio se evaporou porque a reforma implicaria aprovar medidas impopulares num momento em que muitos estavam buscando a reeleição (as eleições parlamentares foram realizadas em 7 de outubro, coincidindo com o primeiro turno da presidencial). Nesse contexto de interesses cruzados, a reforma ficou na gaveta, esperando o que o próximo presidente decidir.
A legislação vigente estabelece que os brasileiros podem se aposentar de acordo com o tempo de contribuição para a previdência —30 anos para as mulheres e 35 para os homens. Portanto, quem começou a trabalhar aos 16 ou 18 anos, consegue se aposentar antes dos 50 anos, ainda tendo uma idade produtiva pela frente. A proposta de Temer era estabelecer uma idade mínima de aposentadoria de 53 anos para mulheres e 55 anos para os homens, e elevar esse limite para 62 e 65 anos, respectivamente, ao longo de duas décadas.
No entanto, mais de 70% dos brasileiros são contra a proposta, de acordo com uma pesquisa recente, o que mostra que não será uma tarefa fácil para o próximo governo. Até o momento, as propostas dos candidatos nesta questão são superficiais. Os dois disseram que buscarão iniciativas diferentes das de Temer. Bolsonaro, por exemplo, quer seguir o modelo de capitalização, como o adotado pelo Chile, com a possibilidade de que um trabalhador opte por um plano de previdência privada. Haddad defendeu o combate aos privilégios daqueles que recebem aposentadorias muito altas —políticos, militares, entre outros— e atribui o equilíbrio nas contas da previdência à recuperação da economia, uma vez que um maior crescimento significaria empregos e o aumento das contribuições.
DESIGUALDADE GALOPANTE
Nas últimas décadas Brasil conseguiu reduzir de forma notável a taxa de pobreza. No entanto, continua sendo um país muito desigual desde o ponto de vista econômico. As seis maiores fortunas do país acumulam uma riqueza equivalente aos recursos que possuem os 100 milhões de habitantes mais pobres, segundo um relatório publicado por Oxfam International.
A aposta Bolsonaro
Desde o início do processo eleitoral o mercado financeiro brasileiro aposta em Bolsonaro como o candidato mais preparado para levar a cabo as reformas de que o país precisa. A cada pesquisa em que o ex-militar aparecia à frente, a Bolsa de Valores brasileira subia e o dólar caia frente ao real. Deputado há 28 anos, tendo passado por oito partidos diferentes, o extremista de direita coleciona polêmicas e não mede as palavras, com discursos belicosos para atacar os oponentes "Vamos fuzilar a petralhada”, disse ele em um comício se referindo aos membros do PT. "Vamos varrer do mapa esses bandidos vermelhos do Brasil. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora ou vão para a cadeia", declarou no domingo passado, o que levou seus seguidores ao delírio. Nem mesmo sua reputação como machista, homofóbico e adorador da ditadura tirou pontos dele entre os investidores. A narrativa agressiva lhe outorga, aos olhos de quem o apoia, uma autoridade que seria fundamental para promover as profundas mudanças que a economia requer.
Bolsonaro foi atrás de Paulo Guedes, economista liberal que passou por Chicago, para ser seu fiador no mundo econômico. Guedes é visto como a panaceia para todos os males da economia. Bolsonaro afirma que ele será seu ministro da Economia, e promete incentivar o livre mercado, as privatizações e um ajuste fiscal severo. Tudo isso fez com que investidores vissem com bons olhos a sua candidatura. "O mercado vive uma lua de mel com Bolsonaro", reconhece Silvio Cascione, da consultoria Eurasia. "Mas esse idílio pode ser mais curto do que se imagina." Cascione lembra que não há soluções rápidas para os problemas complexos do Brasil. Também é uma incógnita a reação da sociedade quando perceber que o plano desse candidato é buscar um ajuste que, na prática, irá cortar direitos e pode não entregar as respostas às altas expectativas que o candidato vem alimentando. Pelo contrário, nesse jogo de equilíbrios que teria que promover no caso de chegar à Presidência, suas respostas poderiam não estar à altura de suas promessas, decepcionando assim o mercado.
Mais mudanças
Os agentes econômicos esperam que o próximo presidente também faça outras reformas, como a tributária. E que isso fortaleça uma agenda de mudanças para que o Estado seja mais eficaz e melhore os investimentos produtivos. De uma taxa de investimentos de 20,4% do PIB em 2014, o Brasil passou a 15,6% em 2017, longe das necessidades para alcançar um crescimento sustentável. Difícil desvincular esta redução do gasto da crise política que eclodiu com as investigações da Lava Jato sobre a Petrobras. As empresas de construção e infraestrutura se viram implicadas nas denúncias de suborno, e o país assistiu a um efeito dominó. Tudo estancou. "Estamos vivendo uma crise política que não foi totalmente resolvida com a destituição de Dilma ", lembra Silvia Matos, da FGV.
A paralisia econômica também contaminou o comércio exterior do Brasil. As exportações caíram de 256 bilhões para 225 bilhões de dólares no ano passado. "Nós não sabemos como vai terminar a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, e que nos afeta", diz José Augusto Castro, presidente da Associação Brasileira de Comércio Exterior. "A isso devemos acrescentar que a Argentina está passando por uma crise severa, e não há mercado que possa compensar sua menor atividade", afirma. Bolsonaro lembrou que é necessário aprofundar as relações com os Estados Unidos, hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil, depois da China. A Argentina é o terceiro. Isso pode deixar em segundo plano o projeto de expansão dos países emergentes (BRICS), que era uma meta dos diferentes governos do PT (2003 a 2016). O candidato conservador também fez gestos de aproximação com o presidente argentino, Mauricio Macri, e o presidente chileno, Sebastián Piñera, indicando por onde pode caminhar sua diplomacia.
No entanto, outras decisões necessárias para dar suporte às mudanças econômicas passarão pelo Congresso, que tomará posse em janeiro de 2019 com uma renovação sem precedentes de 50% dos 513 assentos e com 30 partidos representados. Com a popularidade em alta, Bolsonaro conseguiu eleger 52 deputados pela sua legenda, o Partido Social Liberal (PSL). E também ganhou o apoio de outros grupos que se identificam com ele, como os ruralistas, evangélicos e deputados que apoiam o armamento da população. Terá, porém, que negociar com todas as cores, incluindo o próprio PT, que elegeu 56 deputados, a maior bancada da Câmara dos Deputados. "A credibilidade de um Governo Bolsonaro só se concretizará se houver uma boa relação com o Congresso", diz Frischtak.
É aí que começam as dúvidas sobre o futuro de um eventual Governo ultradireitista. "Não vejo Bolsonaro com facilidade para controlar o Congresso", diz Sergio Vale, economista da MB Associados. Como ele, Silvia Matos teme que as reformas necessárias para impulsionar a economia não sejam aprovadas. "Essa é uma das maiores incertezas do mercado", diz Matos. A população que o apoia majoritariamente, porém, joga todas as suas esperanças em que a mão dura traga o otimismo de volta ao país. Se as pesquisas estão corretas e Bolsonaro vencer, a verdade vai começar a ser conhecida em janeiro.
Roberto Abdenur: Riscos na política externa
As plataformas de política externa do PT/Haddad e de Bolsonaro acarretam riscos consideráveis aos interesses do Brasil. Ado PT começa com referência à crise financeira de 2008 — “crise do capitalismo” —e contém inverdades como a afirmação de que nos “países centrais” os governos “aprofundam os ataques contra os direitos políticos e sociais das classes trabalhadoras” e “aprofundam as agressões imperialistas contra a soberania nacional dos países economicamente mais frágeis ”.
O texto, erradamente, acusa o governo “golpista” de desconstruir a integração regional, desinvestir na vertente estratégica Sul-Sul, abandonara aposta num mundo multipolar e submetera política de defesa “aos interesses norteamericanos”. O atual governo tomou posição correta ao suspender o regime venezuelano ditatorial do Mercosul. Só fez trabalhar pela integração regional ao estimular aproximação do Mercosul coma Aliançado Pacífico. E prestigiou os mecanismos Sul-Sul, como o Brics.
Surpreendentemente, o texto define como “risco” a celebração de acordos de nova geração com países desenvolvidos. Isso justamente quando o Mercosul busca, após atraso de quase 20 anos, concluir acordo delivre comércio coma União Europeia—passo importantíssimo. O problema é que o PT incorpora uma visão negativa das relações com o mundo desenvolvido. Aparecem repetidas referências à “hegemonia norte-americana”. Expressa um tolo antiamericanismo.
No caso de Bolsonaro, praticamente não há plataforma de política externa como tal. O que há são esparsas referências, aqui e acolá, a temas internacionais. Bolsonaro repudia o que chama de escolhas “ideológicas” do PT — mas também ele parece guiar-se por um pensamento ideológico, só que oposto ao do PT. O candidato parece disposto a alinhar o Brasil com os EUA. Expressa admiração por Trump, de quem deseja aproximar-se. Mas ele precisa ter em mente que Trump já identificou o Brasil como alvo para futuras pressões em comércio e investimentos. E deve evitar o risco de colocar-se em posição subalterna perante Trump, o que seria vergonhoso.
*Roberto Abdenur é embaixador aposentado e foi secretário-geral do Itamaraty
João Domingos: Lições de 2018
Direta ou indiretamente, o PT foi responsável pelo crescimento de Jair Bolsonaro
Cientistas políticos, sociólogos e outros estudiosos da situação brasileira indagam quais foram as razões que levaram o País a essa polarização extrema entre os apoiadores de dois candidatos antípodas. Situação que, mesmo com a eleição de amanhã, que escolherá um deles presidente da República, dificilmente acabará.
É possível que esses estudiosos venham a se concentrar sobre o tema por muito tempo. Pode ser que a resposta nunca seja encontrada. Ou que não exista apenas uma resposta, mas várias.
O que se pode dizer nesse momento é que o eleitor se cansou. De tudo. Do serviço público de pouca qualidade na saúde, educação, transporte, saneamento básico. Da insegurança que leva à mortandade dos mais pobres. Dos privilégios que integrantes de todos os poderes se dão, como verbas de gabinete para gastos quase ilimitados, auxílio moradia para juízes e parlamentares, mordomias.
O Brasil se cansou dessa vida de abusos quase que diários no que se refere ao ir e vir do cidadão. Ele sai de sua casa de madrugada, a duas horas do trabalho, quando tem trabalho, e corre o risco de encontrar a rua bloqueada por algumas pessoas que, também descontentes com alguma coisa, resolvem botar fogo em pneus e fazer o bloqueio da passagem por horas.
É quase que uma vida de castas. Mesmo que não hajam regras regulamentando isso, a prática mostra que existem os cidadãos de categorias A, B, C, D, e assim vai. Um detalhe: esses cidadãos votam.
Os partidos políticos não perceberam o descontentamento que tomou conta da população desde 2013. Em junho, protestos tiveram início nas ruas de todo o País. A princípio, contra o aumento das passagens de ônibus. Depois, contra o escândalo da construção dos estádios superfaturados da Copa da Fifa, ou contra coisa nenhuma.
Dilma Rousseff, a presidente mais sem noção do período recente, viu naquilo um desafio à sua própria pessoa, não ao sistema de privilégio de uns e maltrato de outros. Os manifestantes gritavam: “Não vai ter Copa”. Dilma respondia: “Vai ter Copa. Será a Copa das Copas”. (Nem é preciso lembrar que o Brasil tomou uma surra da Alemanha por 7 a 1 e a Copa das Copas foi esquecida). Quando a situação saiu do controle e a sede do Itamaraty quase foi incendiada, Dilma convocou uma reunião de emergência de governadores e prefeitos de grandes cidades.
Anunciou um plano com cinco eixos, um deles uma reforma política a ser feita por uma Constituinte exclusiva, que seria aprovada por meio de um plebiscito. Um delírio. Os outros pactos tratavam da saúde, educação, transportes e responsabilidade fiscal.
Nada se cumpriu. Da responsabilidade não se falou mais. Em 2016 o País entrou na maior recessão de sua História. Dilma acabou afastada, pois sem base parlamentar.
O PT e seus estrategistas disseram que as manifestações faziam parte de um movimento de direita, destinado a sabotar o governo. As prisões de dirigentes do partido por envolvimento em corrupção pesada foram todas jogadas nessa suposta orquestração, da qual participariam os meios de comunicação e o Judiciário.
Os petistas acharam que as coisas se acomodariam. Nem perceberam que um deputado do baixo clero, considerado quase que folclórico por seus pares, viu na rejeição ao PT sua oportunidade. Começou a trabalhar.
De repente, outdoors com fotografias gigantes de Jair Bolsonaro começaram a aparecer por diversos cantos do País. O PT avaliou a situação e concluiu que Bolsonaro era sua oportunidade de voltar ao poder. Era muito melhor enfrentá-lo do que a Geraldo Alckmin. Assim, orientou seus militantes a centrar fogo no tucano e a poupar Bolsonaro durante a pré-campanha. Direta ou indiretamente, o PT foi responsável pela candidatura de Jair Bolsonaro.
El País: Teste para as instituições às vésperas do voto, batidas nas universidades alarmam o STF
Ministros e procuradora-geral demonstram alarme com medidas das autoridades eleitorais que retiraram faixas "contra o fascismo" e interromperam aulas considerando haver propaganda política irregular. Especialistas apontam violação de liberdades
As ações ordenadas por Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) para fiscalizar supostos casos de campanha irregular em ao menos 35 universidades no país desencadearam uma dura reação da cúpula do sistema de Justiça, num embate institucional que acirra os ânimos às vésperas da eleição presidencial mais polarizada da história recente. Integrantes do Supremo Tribunal Federal, incluindo o presidente Antonio Dias Toffoli, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, condenaram, com mais ou menos ênfase, as batidas nos campi, dizendo que as ações, que chegaram a interromper aulas e retiraram frases "contra o fascismo" sem referência direta a candidatos, podem ter desrespeitado os princípios da liberdade acadêmica e de expressão.
Dodge entrou com um pedido de liminar no Supremo para garantir tanto a liberdade acadêmica como de reunião dos estudantes. Para a procuradora-geral, as ações dos TREs "abstraíram desenganadamente os limites de fiscalização de lisura do processo eleitoral e afrontaram os preceitos fundamentais" da Constituição. O (TSE), responsável por supervisionar o processo eleitoral, teve uma reação inusual e enérgica: em nota, disse que vai coibir "eventuais excessos" e que "a atuação do poder de polícia —que compete única e exclusivamente à Justiça Eleitoral— há de se fazer com respeito aos princípios regentes do Estado Democrático de Direito". A corregedoria da instituição abrirá procedimentos para analisar as decisões localizadas e deve esclarecer se houve coordenação entre elas ou não.
As batidas em série, que afetaram especialmente as manifestações contra o fascismo lidas como referência ao candidato ultradireitista Jair Bolsonaro (opositores e alguns acadêmicos veem em seu discurso traços fascistóides), provocaram uma onda de mal-estar. "Diversos atores do sistema de Justiça tiveram a compreensão de que não havia propaganda eleitoral e de que os atos estão ou estavam no campo da liberdade de expressão e de cátedra, como fica claro na ação da PGR", disse ao EL PAÍS a subprocuradora-geral da República, Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
O desconforto ficou evidente nas declarações de vários ministros do Supremo. As ações acabaram por simular uma espécie de primeiro "teste de estresse" democrático para a instituições num país que pode eleger um candidato de extrema direita no domingo. Poderia a polarização política ter contaminado também os integrantes das principais instituições? Se sim, até que ponto?
Nesta sexta, a Folha de S. Paulo destacava que o juiz eleitoral Rubens Witzel Filho, autor da proibição da aula pública sobre o fascismo na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no Mato Grosso do Sul, critica frequentemente o PT em suas redes sociais, por exemplo. No entanto, dois policiais federais, dois procuradores e um juiz ouvidos pela reportagem –em condição de anonimato– disseram ao EL PAÍS não ver um componente político claro nas operações em massa contra atos em universidades públicas, ainda que avaliem que boa parte dos membros de suas instituições atualmente demonstrem simpatia pela candidatura de extrema direita.
Inconsistências
Foram registrados ações de policiais que impediram a realização de aulas ou que retiraram faixas ou cartazes em pelo menos 35 instituições públicas federais em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma decisão judicial determinou que fosse retirada da fachada da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense uma faixa com os dizeres "Direito UFF Antifascista". O juiz que assinou a ordem afirma que a faixa traz conteúdo negativo a Bolsonaro. Na Paraíba, policiais federais foram à sede da Associação dos Docentes da Universidade Federal da Campina Grande para cumprir um mandado que determinava o recolhimento de exemplares de um "Manifesto em defesa da democracia e da universidade pública", bem como suposto material de campanha em favor de Fernando Haddad, candidato pelo PT ao Palácio do Planalto.
O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, considera que as ações registradas nas faculdades violam o princípio de autonomia das universidades. "Elas [as universidades] são contempladas por um artigo constitucional no sentido do pleno gozo de sua autonomia didático-científica, administrativa e financeira", afirmou Ayres Britto à reportagem. "Num contexto normativo que as tornam um típico espaço de elaboração e manifestação do pensamento crítico. Por lógico desdobramento são detentoras da mais ampla liberdade de expressão".
Há outras inconsistências nos mandados expedidos pelos tribunais regionais, alertam especialistas. Para Roberta Maia Gresta, professora de Direito Eleitoral da PUC Minas, embora a lei eleitoral proíba que se realize campanha dentro das universidades públicas e privadas no país, a Justiça eleitoral não pode confundir manifestações políticas nesses espaços com propaganda de candidatos.
"A partir do momento em que não há menção específica a um partido ou candidato, torna-se delineado um risco, no sentido de que os atos que foram cerceados não correspondem a proibições da legislação", diz a professora. Ela cita como exemplo a retirada da faixa da Universidade Federal Fluminense: "A nossa Constituição é por si só antifascista. Manifestações que apenas endossem uma conduta antifascista nada mais fazem do que atuar nas diretrizes constitucionais", diz.
Alberto Rollo, professor de direito eleitoral do Mackenzie, tem opinião parecida. Se não há vinculação direta com um candidato ou partido, não pode-se falar em campanha irregular. "Se tem uma faixa lá contra o fascismo, não há conotação eleitoral. Se isso aconteceu só porque estava [escrito] 'não ao fascismo', me parece um abuso, um excesso de zelo. Se houver a vinculação a um candidato específico, como o Bolsonaro, aí não pode", afirma.
Tanto Roberta Gresta, da PUC Minas, quanto Cristiano Vilela, especialista em direito eleitoral, apontam ainda que o alcance dessas ações em diferentes universidades representa um caso "inédito" no país. “São decisões que ferem os princípios constitucionais mais valiosos”, ponderou Vilela.