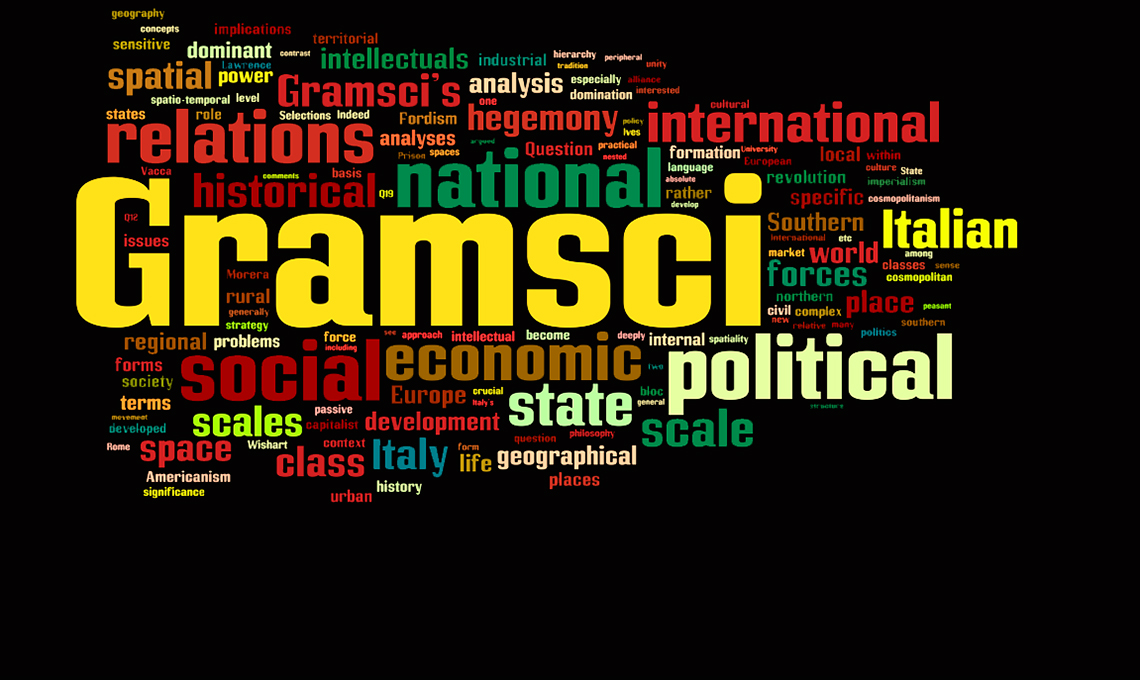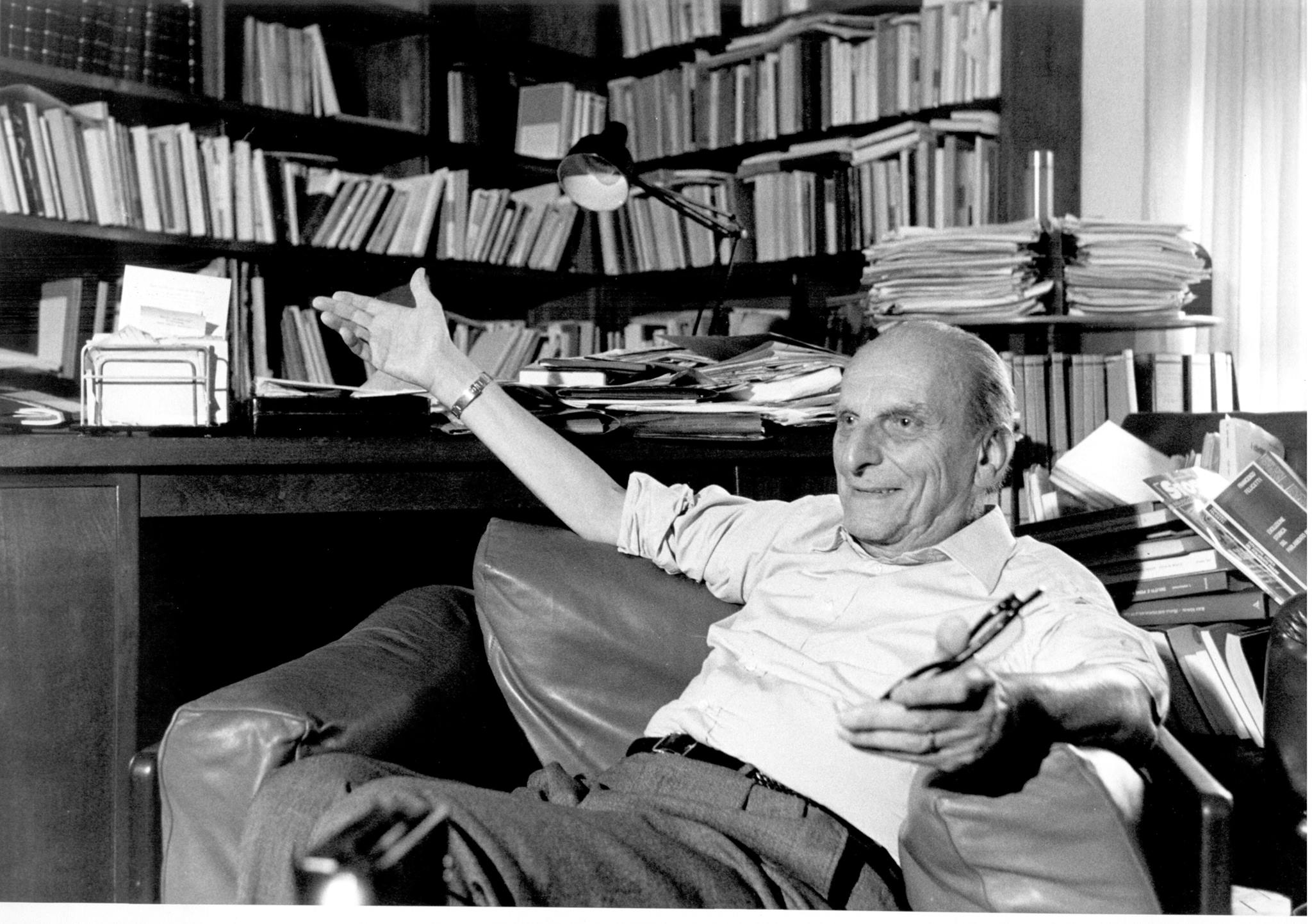Gramsci
Jornal da ABI destaca mesa redonda sobre Gramsci em parceria com a Fundação Astrojildo Pereira
Evento tem o objetivo de discutir a importância do legado intelectual de Gramsci, 80 anos depois da sua morte, e a contribuição de sua obra como instrumento de percepção e análise da atual crise brasileira
A mesa redonda, que será realizada nesta segunda-feira (21/8), às 18h, será aberta pelo presidente da ABI, Domingos Meirelles, e terá como mediador o Conselheiro da entidade e colunista político Luís Carlos Azêdo. O encontro contará com a presença de Luíz Sérgio Henriques (tradutor e ensaísta ), Alberto Aggio (representante da Fundação Astrogildo Pereira), e Andrea Lanzi, do Partido Democrático Italiano. O objetivo do debate é discutir a importância do legado intelectual de Gramsci, 80 anos depois da sua morte, e a contribuição de sua obra como instrumento de percepção e análise da atual crise brasileira. Ao contrário do pensamento marxista tradicional, que se dedicava ao estudo das relações entre política e economia, ele chamava a atenção para o papel da cultura e dos intelectuais nos processos históricos de transformação social.
“A mesa redonda foi proposta para lembrarmos os 80 anos da morte de Gramsci. Isso é importante especialmente para nós, que somos os maiores divulgadores das interpretações e debates sobre o pensamento de Gramsci no Brasil por meio da coleção de livros (Brasil & Itália)”, aalia Alberto Aggio, historiador e professor titular da UNESP.
Gramsci foi também um dos fundadores do Partido Comunista Italiano e tornou-se mundialmente conhecido pela teoria da hegemonia cultural, onde sustentava que o Estado utilizava o arcabouço das instituições culturais para proteger os interesses de classe das elites e se perpetuar no poder. Pensador agudo das contradições do seu tempo, formulou questionamentos que parecem atuais. Uma de suas reflexões encontra ressonância nos dias de hoje : ” A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem “.
Gramsci foi uma das principais referências do pensamento de esquerda no século XX. Foi também uma das poucas vozes, na época, a denunciar a tirania política de Stálin, e as consequências inerentes a esse processo degenerativo que não foram percebidos, no começo dos anos 30. Suas construções teóricas estão reunidas em um dos clássicos da literatura socialista,” Cadernos do Cárcere “, onde desenvolveu inclusive uma revisão crítica dos postulados de Marx com o objetivo de adaptá-los às condições da Itália durante o Governo Fascista de Benito Mussolini.
Apesar de ser um ativista apaixonado, era fisicamente frágil, seu aspecto franzino e a forma de caminhar lembravam mais um padre que um revolucionário. Preso em 1926, inicialmente condenado a cinco anos, teve logo depois sua pena ampliada para 20 anos. Deixou a prisão, extremamente debilitado, em abril de 1937, em busca de tratamento médico para os pulmões arruinados pela tuberculose, mas morreria três dias depois.
Suas ideias foram condensadas em textos produzidos durante o período em que esteve preso. Sua obra não é fácil de se ler. Escrevia quase sempre em código para evitar a censura dos seus carcereiros. Os textos deixavam a cadeia pelas mãos de sua cunhada, funcionária da Embaixada Soviética, em Roma, para sem encaminhadas ao líder comunista italiano Palmiro Togliatti, que vivia exilado em Moscou.
A lucidez com que Gramci refletiu sobre os problemas e as contradições do seu tempo fizeram com que seu pensamento sobrevivesse não apenas a ele, mas ao próprio socialismo real que desmoronou em bloco, entre 1980 e 1990, com o esfacelamento dos países comunistas do Leste Europeu.
Sua obra foi editada no Brasil em quatro volumes pela Editora Civilização Brasileira, na década de 1970. ” Cadernos do Cárcere ” foi relançado pelo mesmo selo, em 1999, sob a coordenação de Luiz Sérgio Henriques, que será um dos debatedores da mesa-redonda que será realizada na sede da ABI, no Rio de Janeiro.
A mesa redonda terá transmissão ao vivo pelo canal no Facebook da FAP: https://www.facebook.com/facefap

Luiz Sérgio Henriques: A Venezuela não é aqui
Temos à frente a imensa tarefa de reformar um Estado disfuncional e uma sociedade injusta
As coisas – assim como as ideias e os livros – estão no mundo, só que, como no samba, é preciso aprender. E foi assim que nos anos mais duros do regime autoritário abriu caminho, aos poucos e não sem muito atraso, a noção de que nosso país, em tumultuado processo de modernização conservadora, mesmo sem resgatar integralmente as hipotecas do passado, estava fadado a construir estruturas e culturas políticas de tipo “ocidental”, que dariam a todos a régua e o compasso para pensar os problemas e elaborar, com meios propriamente políticos, as hipóteses de sua superação.
Do ponto de vista dos opositores do autoritarismo, a lição da realidade parecia cada vez mais clara. Deveríamos dar um adeus definitivo às ilusões da militarização da política, bem como à tentação de recorrer aos caudilhos terceiro-mundistas monopolizadores de praças e falas – apesar da sedução que a revolução cubana exercia sobre frações relevantes da velha e, paradoxalmente, da nova esquerda, nisso internamente incoerente com a novidade que alegava representar.
Um mundo diverso deveria agora ser descoberto: não o da “tomada do poder” por meio da violência ou o exercício deste mesmo poder pela força bruta, com o desconhecimento dos mínimos requisitos ditos procedimentais, tal como, para eliminar qualquer dúvida, a existência de oposição legítima e competitiva, capaz de voltar a ser maioria em eleições regularmente dispostas. A política se deslocaria, assim, para a “sociedade civil”, lugar plural por excelência, no qual a permanente construção de consensos devia ter como único norte padrões mais altos de civilização. E uma esquerda moderna se tornaria, afinal, fiadora da República e da democracia, atraindo para este campo favorável o conjunto das correntes da política, isolando extremismos e inviabilizando retrocessos autoritários. Uma mudança verdadeiramente histórica.
Reafirmar este horizonte, em grande parte enevoado, parece particularmente importante num momento de fúrias desatadas na esquerda latino-americana e, por consequência, na brasileira. A “perspectiva venezuelana” – e suas projeções entre nós, como o atesta a posição oficial do PT e de considerável setor da intelectualidade – lança uma pesada sombra sobre tal horizonte, que essencialmente requeria, e ainda requer, a convicta superação do paradigma da “revolução” em benefício daquele da “democracia”. Talvez tenhamos sido excessivamente otimistas quanto ao ritmo e à consistência desta passagem: vistas as coisas em sua aparência imediata, o que a corrente autoproclamada revolucionária agora pretende é uma segunda oportunidade na Venezuela de Chávez e Maduro, sob a forma de radicalização violenta do “socialismo do século 21”.
De fato, a “cubanização” do regime venezuelano domina a conjuntura do bolivarianismo. Os adeptos da radicalização voltam a atacar aqueles que teriam uma concepção “fetichizada” da democracia, reduzindo-a a seus pressupostos “liberais”, quando – dizem – o caminho deles é a democracia direta dos produtores, dos povos originários, das mulheres e dos oprimidos em geral. Desprezam a notável conquista do sufrágio direto e universal, assim como buscam suprimir todo e qualquer resto do arcabouço jurídico “burguês” que, só ele, como mostram as duras réplicas da história, torna possíveis os ensaios de democracia direta e de auto-organização da sociedade.
A violência reaparece, ameaçadora. No imutável “Oriente” dos revolucionários de Nuestra América, o essencial é que se imponham os interesses das classes populares, tal como redefinidos e enquadrados por estruturas verticalizadas e autoritárias. Se irão se impor pela via “eleitoral” ou pela “armada”, passa a ser um problema secundário. Nos manifestos deste Oriente ressurrecto, escreve-se o termo “guerra civil” com a naturalidade dos politicamente levianos, que se obstinam em desconhecer o quanto uma perspectiva desse tipo arruína, antes de mais nada, a vida dos subalternos, como, para dar só um exemplo, os homens e as mulheres comuns que já atravessam a fronteira roraimense e cujo fluxo parece estar só no começo.
Os brasileiros participamos, querendo ou não, deste revival antidemocrático. Ainda não nos demos plenamente conta da nocividade do argumento que transformou o impeachment da presidente Dilma Rousseff em “golpe institucional”, alardeado, no fundo, por quem desconsidera ritos constitucionais densos de conteúdo. Argumento fraco, entre outras razões por ter o PT tentado, por meio de parlamentares ou de intelectuais “orgânicos”, o impeachment de todos os presidentes da redemocratização, desde que de outras legendas. Tratada com a mesma lógica, esta reiteração caracterizaria uma espécie de golpismo permanente ou de subversivismo juvenil, próprio de uma força pouco leal na oposição e intolerante no poder.
Além de fraco, o argumento é perturbadoramente nocivo: é que o afastamento da presidente Dilma insere-se, de modo irracional e anti-histórico, numa “narrativa” mais ampla de golpes reais ou supostos contra os governos progressistas latino-americanos, rubrica em que entram desde os dirigidos por bufões até os que tiveram à sua frente estadistas como Salvador Allende. Há nisso, convenhamos, menos a pitada do surrealismo tradicional na região do que uma infâmia pura e simples: Allende não pode andar em reles companhia.
Felizmente, nunca fomos tão longe como na Venezuela. Nosso universo mental, inclusive o de boa parte da esquerda, não está congelado em oposições irredutíveis nem gira em falso entre “império ou revolução”, “pátria ou morte”. E a burguesia nacional, como dizia um bom frasista, não cabe em Miami. Longe do delírio revolucionarista, temos pela frente a imensa tarefa de reformar um Estado disfuncional e uma sociedade injusta. Não aprendemos exatamente como fazê-lo, mas o método só pode ser o democrático.
Mesa redonda: Um pouco de Gramsci nessa crise não faz mal a ninguém
Evento busca explorar o pensamento gramsciano em paralelo com a crise política que assola o país atualmente
Germano Martiniano
Neste ano em que se completa 80 anos da morte de Gramsci, a Fundação Astrojildo Pereira (FAP) realizará, no próximo 21 de agosto, às 18h, no Rio de Janeiro, o Seminário: Um pouco de Gramsci nessa crise não faz mal a ninguém. O evento, que conta com especialistas das obras do filósofo italiano, Alberto Aggio, Luiz Sergio Henriques e Andrea Lanzi, busca explorar o pensamento gramsciano em um paralelo com a crise política pela qual o país passa atualmente.
“A mesa redonda foi proposta para lembrarmos os 80 anos da morte de Gramsci. Isso é importante especialmente para nós, que somos os maiores divulgadores das interpretações e debates sobre o pensamento de Gramsci no Brasil por meio da coleção de livros (Brasil & Itália)”, disse Aggio, historiador e professor titular da UNESP.
Contexto
As conjunturas políticas atuais no Brasil têm despertado o interesse no debate em grande parcela da população, assim como tem feito que opiniões extremas, tanto a direita, quanto à esquerda, se fortaleçam. As redes sociais, por sua vez, têm sido “porta-voz” dessas manifestações, como também têm sido o palco de grandes dissidências.
Dentro deste contexto, no qual se vê Bolsonaro, na extrema direita, ganhar mais simpatizantes e, paralelo a isso, parte da esquerda, como PT, PCdoB e PSOL apoiar Maduro na Venezuela, é que o debate sobre a obra de Gramsci se faz mais importante. “Existem muitas interpretações a respeito do pensamento gramsciano, mas seguramente as mais aceitas e difundidas dão conta de que nele há uma perspectiva democrática importante e perspectivas culturais novíssimas que o marxismo do século XIX não comportava. Mais do que isso, Gramsci também foi um crítico aos caminhos que tomava a URSS e suas reflexões buscam uma saída em relação a esses descaminhos que, mais tarde, ficaram mais evidentes. Por tudo isso, vale a pena refletir sobre o pensamento do filósofo italiano”, acentuou Aggio.
Para dar início às reflexões que vão ser tratadas durante o Seminário, a FAP realizou uma entrevista com Luiz Sérgio Henriques, tradutor e ensaísta de Gramsci no Brasil, e que estará como um dos expositores no evento. Leia trechos a seguir:
FAP - A esquerda, atualmente, vive uma crise de identidade. Gramsci, que foi um vanguardista em sua época, já dava indícios em suas obras de que essa dicotomia clara entre capitalismo e socialismo, que ficou ainda mais evidente na Guerra Fria, acabaria?
Luiz Sérgio Henriques - Gramsci descobriu ou redescobriu o continente da política. Estabeleceu um conjunto notável de conceitos (hegemonia, revolução passiva, guerra de posição e de movimento, reforma intelectual e moral, a distinção entre o plano corporativo e o ético-político, etc.), que nem sempre estavam disponíveis no marxismo ou no que se entendia como marxismo. Foi atrás de outros autores e de outras tradições, inclusive liberais. Sabe-se que suas relações com Croce, um liberal clássico notavelmente importante em sua época, foram complexas, feitas de assimilação, recusa e reelaboração. Quantos marxistas agem assim, hoje, em face de Habermas ou Rawls, para dar dois exemplos bem conhecidos? Mesmo tendo se educado no universo socialista (PSI) e tendo se firmado depois como um político comunista, no âmbito da III Internacional, aquele conjunto de conceitos, aplicados à história de seu país, à evolução do socialismo soviético e ao desenvolvimento global do capitalismo, permitiu análises bastante originais que o colocam além do universo bolchevique e o destacam como um clássico da política do século XX. Percebeu, precocemente, o enrijecimento stalinista sob a forma da “estatolatria”: assim caracterizado, o comunismo soviético não teria condições de desafiar um capitalismo que se renovava com o fordismo e o americanismo. Mais cedo do que se pensa, a contraposição entre o mundo comunista e o mundo capitalista ocidental estava resolvida em favor deste último. A partir daí podemos inferir que contraposições frontais entre “campos” antagônicos não são produtivas, porque acabam, mais cedo ou mais tarde, induzindo fanatismos unilaterais e soluções de força.
Podemos ver no pensamento gramsciano uma saída para essa crise de identidade?
A política gramsciana, que recorre à hegemonia (isto é, à persuasão permanente entre sujeitos autônomos e ao deslocamento da relação de forças num contexto de liberdades), aponta numa outra direção. O momento da força fica inteiramente subordinado ao do consenso. Sublinhar isso pode nos ajudar a evitar até mesmo as catástrofes civilizatórias que, infelizmente, estão à espreita. Mas, evidentemente, tudo isto já é por nossa conta. Vemo-nos obrigados a ir muito além de Gramsci. Mesmo sendo muito menores do que ele, ao subirmos em seus ombros veremos coisas que ele não viu nem podia ver. Estamos condenados a “trair” Gramsci. Se o repetirmos, teremos o mesmo triste fim de todos os sectários.
Como interpretar a realidade brasileira, perante toda crise política que vivenciamos, sob a perspectiva gramsciana? Quais partidos políticos mais se aproximam dos seus ideais?
Não devemos adotar a posição de “apóstolos gramscianos” diante do Brasil. Nosso país tem uma densa história própria – uma história intelectual, inclusive. As categorias gramscianas ou quaisquer outras devem ser postas a serviço da compreensão desta realidade, senão não nos servem em absoluto. Vivemos um momento de crise nacional. Um momento, aliás, que se prolonga mais do que esperávamos. Por sua vez, Gramsci não foi um político particularmente bem sucedido, tanto que morreu prisioneiro. Mas, no cárcere, soube se valer da “paciência do conceito”. O fascismo não era um episódio, um parêntese na história do seu país. Vinha de longe, derivava de questões não resolvidas, entre elas a própria forma como se fizera a “unidade” italiana, subordinando o sul da península (que, grosseiramente, poderíamos aproximar do Nordeste brasileiro). Os males brasileiros decorrem igualmente de questões que tratamos mal ao longo do tempo. Nossos períodos de democracia foram curtos, logo interrompidos por surtos duradouros de autoritarismo. Ainda pensamos muitas vezes nos quadros mentais da “estatolatria”. Os sindicatos dependem do imposto sindical getulista, quando deveriam expressar, sobretudo, a vida associativa dos trabalhadores. Os partidos, mesmo os de esquerda, estão pouco presentes na vida social e se transformam facilmente em máquinas eleitorais ou em lugares de reprodução automática de mandatos. O nexo entre partidos, políticos e cultura é frágil, quando sabemos que, hoje, sem reflexão e estudo sério a política não consegue formular boas saídas para a sociedade. Mesmo a cultura, que deve se aproximar da vida das pessoas e dos problemas da política, não pode ser de modo algum ser instrumentalizada por esta última (a política). Devemos cultivar um “cosmopolitismo moderno”, abrindo nossos horizontes e arejando nossa agenda. Ao discutirmos sobre drogas, temos de estudar a experiência de outros países, como, por exemplo, o Uruguai ou Portugal. Muitas vezes, como no filme de Fernando Grostein Andrade e Cosmo Feilding-Mellen, teremos pacientemente de ir “quebrando tabus”. Ao discutirmos sobre violência, teremos de considerar o que acontece em sociedades, como a americana, que permitem a difusão abusiva de armas. Nesta nossa longa viagem no interior da sociedade civil, marxistas de inspiração gramsciana poderão dizer alguma coisa em proveito da convivência democrática e civilizada entre pessoas de múltiplas e variadas inspirações.
Existe uma relação entre a socialdemocracia e o pensamento de Gramsci? O modelo social democrata, dos moldes dos países nórdicos, poderia ser uma solução para o Brasil?
O Brasil tem uma particularidade, uma especificidade densa, como disse acima. Não caberia reproduzir aqui o modelo clássico das socialdemocracias, que também está posto em questão neste nosso admirável novo mundo da globalização. Aliás, temos de ter o mundo como horizonte. Nossa economia deve se integrar competitivamente no cenário global, não se fechar como uma autarquia. Hoje, os reacionários são nacionalistas e até provincianos. Da socialdemocracia clássica devemos reter a preocupação central e mesmo obsessiva com saúde e educação universal. Há variados meios de obter isso, combinando ação pública e iniciativa privada, regulação estatal e mercado. E estamos muito atrasados nessas áreas, infelizmente. É inteiramente lícito que forças economicamente mais ou menos liberais, mais ou menos estatistas, disputem o comando do estado, respeitadas as regras da democracia política. Mas todas estas forças, além de cuidar do funcionamento da máquina econômica, garantindo que funcione bem e se reproduzam de modo sustentável, deveriam - por assim dizer - ter o conhecido índice Gini como referência. Ao cabo de um determinado ciclo, conseguimos nos tornar menos desiguais? O consumo coletivo - nos transportes, na saúde, na educação - ganhou fôlego e se estendeu seus benefícios ao conjunto da população, especialmente aos mais desfavorecidos? Como dizia uma faixa nas jornadas de junho de 2013, povo desenvolvido não é aquele em que o mais pobre anda de carro (ou nem sequer anda, a depender do engarrafamento...), mas sim aquele em que muitos cidadãos, das mais variadas origens sociais, trafegam lado a lado no metrô e em outros bons transportes de massa, em ambientes urbanos saudáveis para todos. Esta é uma lição da social-democracia nos seus melhores anos, que certamente temos de consultar no espírito daquele cosmopolitismo de novo tipo, atento de modo inteligente às mais variadas experiências.
A mesa redonda terá transmissão ao vivo pelo canal no Facebook da FAP: https://www.facebook.com/facefap
Convite

Giuseppe Vacca: O século XX de Antonio Gramsci
Dossiê Gramsci, oitenta anos depois
Dois mil e dezessete é um “ano gramsciano”, por marcar o octogésimo aniversário da morte do pensador sardo, em 1937. Não é de hoje sua presença no debate político e na produção acadêmica brasileira. Uma presença que não é unívoca nem tem a mesma valoração por parte de todos os que se inspiram em maior ou menor medida nos textos daquele pensador. Nossa perspectiva — democrática e reformista — é uma das formas de acolher seu complexo legado. Sem a menor pretensão de qualquer monopólio ou ortodoxia, temos um objetivo “simples” e direto: pôr Gramsci a serviço da democracia brasileira.
Acolhemos a ideia de historicizar radicalmente os escritos do pensador, relacionando-os às diferentes circunstâncias em que foram produzidos — circunstâncias que inauguram nosso tempo, mas não são nem podem ser exatamente as mesmas aqui e agora. E tudo sem censuras, cortes ou embelezamentos. Certamente, este é um pressuposto da apropriação crítica, e não doutrinária, do autor, tornando-o apto a ajudar na compreensão de nossos problemas. Frases soltas ou conceitos descontextualizados têm assim validade muito restrita, ainda que possam ressaltar o brilho do escritor. Mas, como dissemos, nosso objetivo é de outra natureza.
Aqui reunimos três referências internacionais na área. Na abertura, Silvio Pons, atual presidente da Fundação Gramsci, em Roma, e sucessivamente Francesco Giasi e Giuseppe Vacca, diretores da mesma Fundação. Um tema recorrente nestas entrevistas é a monumental Edição Nacional dos Escritos, em curso de publicação. Mas não faltam alusões a questões substantivas da atualidade: a globalização e sua crise, para não falar dos imensos dilemas da própria esquerda.
A Fundação Astrojildo Pereira (FAP) e a Fundação Gramsci atuam conjuntamente no plano editorial, especialmente na coleção Brasil & Itália, acolhida e apresentada por Armênio Guedes, dirigente histórico do PCB associado entre nós às “ideias italianas”. De Giuseppe Vacca, já publicamos Por um novo reformismo; Gramsci no seu tempo (com Alberto Aggio e Luiz Sérgio Henriques); Vida e pensamento de Antonio Gramsci, 1926-1937; e Modernidades alternativas. O século XX de Antonio Gramsci. De Silvio Pons, publicamos A revolução global. História do comunismo internacional, 1917-1991, densa narrativa do impacto do comunismo no século passado.
(Entrevista dada a Leonardo Cazes, publicada parcialmente em O Globo, 26 abr. 2017)
O senhor defende que, ao contrário do que foi feito no passado por alguns estudiosos, não é possível separar a biografia política da biografia intelectual de Gramsci. Por quê?
Gramsci é universalmente considerado um clássico do pensamento político do século XX, mas jamais escreveu um livro. É um autor póstumo que foi, antes de mais nada, um combatente político e um jornalista. Deixou-nos cerca de dois mil textos jornalísticos e políticos, cerca de 80% deles anônimos, publicados entre 1914 e 1926; uma copiosa correspondência, cuja parte mais ampla são as Cartas do cárcere, escritas entre 1926 e 1937; 33 cadernos manuscritos, os Cadernos do cárcere, escritos entre 1929 e 1935, reunidos em volume pela primeira vez dez anos depois de sua morte [a partir de 1947-1948]. Como se pode pensar em estudar seu pensamento, que nos Cadernos passa por uma contínua evolução, articulando-se gradualmente em “sistema”, se prescindirmos de sua biografia? E como interpretar seus conceitos fundamentais sem ligá-los às vicissitudes mundiais que, a partir da Grande Guerra, constituíram o campo de investigação de Gramsci e a fonte de suas reflexões mais audaciosas?
Em vários momentos, o senhor destaca a importância da leitura diacrônica da obra de Gramsci, sob o risco de se praticar reduções significativas do seu pensamento (caso de Bobbio e sua leitura de Gramsci como teórico da sociedade civil). Quais os principais pontos revelados por essa leitura diacrônica?
Recorrendo necessariamente a juízos sumários, creio poder dizer que o conhecimento da vida e do pensamento de Gramsci, acessível nos volumes publicados pela Ed. Contraponto e pela Fundação Astrojildo Pereira, dele nos oferece uma imagem global substancialmente nova e diversa daquelas elaboradas antes da Edição Nacional dos Escritos, que começou publicando, em 2007, os inéditos Cadernos de tradução. Mas, não podendo fazer uma descrição articulada destas novidades, remeto ao ensaio introdutório de meu livro Modernidades alternativas. O século XX de Antonio Gramsci. O ensaio, intitulado “Os estudos gramscianos hoje na Itália”, contém uma comparação sintética das diferenças entre os modos pelos quais era interpretado Gramsci entre os anos 60 e 80 do século passado, e os desenvolvimentos de uma nova leitura. A descontinuidade é fruto de um grande trabalho de recuperação das fontes — antes de tudo, as cartas — e do aperfeiçoamento do método diacrônico no estudo de seu pensamento, realizados por estudiosos que colaboram com a Fundação Gramsci e com a IGS [International Gramsci Society] há cerca de trinta anos.
Nos últimos dez anos, os estudos gramscianos ganharam novo fôlego, após um recuo na década de 1990, com a publicação da Edição Nacional dos Escritos de Antonio Gramsci. Qual a importância desta publicação?
A Edição Nacional, encaminhada no início dos anos 90, favoreceu a formação de uma nova geração de estudiosos que compartilham o método diacrônico na leitura dos Cadernos e interpretam o pensamento de Gramsci reconstruindo seus nexos com a história europeia e mundial do século XX. Os Cadernos do cárcere são publicados segundos novos agrupamentos — Cadernos de tradução, Cadernos miscelâneos, Cadernos especiais —, oferecendo ao leitor a temporalidade mais fiel àquela em que foram escritos. As cartas são publicadas com as dos correspondentes e, ao lado do Epistolário gramsciano, reunimos em dois volumes a correspondência entre Tatiana Schucht [a cunhada russa que lhe prestou assistência nos anos de cárcere] e Piero Sraffa [o economista que servia de elo com o PCI], bem como entre as famílias Schucht (em Moscou) e Gramsci (na Sardenha). Os escritos são republicados em ordem cronológica depois de um acurado exame das atribuições precedentes que nos permitiu inúmeras atribuições e “desatribuições”. Acrescenta-se uma seção de Documentos, em que já foi publicada a apostila que contém os apontamentos do Curso de Glotologia, de Matteo Giulio Bartoli, feitos por Gramsci no ano acadêmico de 1912-1913, fundamental para o estudo de sua formação. Portanto, a Edição Nacional é a primeira edição crítica integral dos escritos de Gramsci tratados com critérios exclusivamente filológicos e segundo o método histórico, sem sugerir nenhuma interpretação e restituindo textos e contextos de sua obra a seu tempo, como é obrigatório para um clássico do pensamento.
No seu livro Modernidades alternativas, o senhor centra sua análise em três conceitos de Gramsci: hegemonia, revolução passiva e filosofia da práxis. Especialmente o conceito de hegemonia já foi interpretado das maneiras mais diversas. De que Gramsci fala quando ele fala de hegemonia? De que maneira esse conceito permanece atual?
Vou tentar dar um exemplo. Se aplicarmos à história mundial contemporânea as lentes de Gramsci, o mundo do século XXI aparece marcado — mais do que pela globalização e por sua crise — por um conflito econômico que ameaça precipitar-se numa guerra de verdade. À luz do pensamento de Gramsci, esta situação teve origem na crise do sistema mundial do segundo pós-guerra — começada nos anos 70 do século passado e culminada com a implosão da URSS — que havia permitido décadas de estabilidade, e no surgimento de um conflito econômico mundial que se caracteriza pelo crescente conflito entre o “cosmopolitismo” da economia e o “nacionalismo” da política. Em outras palavras, as classes dirigentes não foram capazes de negociar novos equilíbrios mundiais baseados na simetria entre soberania política e soberania econômica, precipitando o mundo numa proliferação de guerras voltadas para destruir velhas soberanias políticas e abrir espaço à mercantilização, e favoreceram o desenvolvimento de neomercantilismos continentais nas “regiões” economicamente mais fortes, em crescente conflito entre si. Superado o velho sistema hegemônico mundial, não se formou nenhum outro novo e, portanto, volta à cena a equação entre a política e a guerra.
Gramsci é um intelectual profundamente marcado pelo tempo histórico em que viveu. Sua prisão talvez seja o melhor exemplo disso. Em 2017 completam-se 100 anos da Revolução de Outubro, na Rússia. Qual foi o impacto deste acontecimento na vida e na obra de Gramsci?
A vida e o pensamento de Gramsci foram marcados profundamente pela Revolução de Outubro e a luta pelo comunismo. Mas o que caracteriza aquele pensamento foi a capacidade de historicizar as novidades de seu tempo — grande guerra, comunismo, fascismo, americanismo, desmoronamento dos impérios coloniais, nova subjetividade dos povos, etc. —, elaborando um novo pensamento e uma nova capacidade política de elaborar projetos que hoje nos parecem, ao mesmo tempo, uma revisão radical do marxismo e uma refundação deste mesmo marxismo, projetada num novo tempo histórico que, acredito, ainda é o nosso.
Silvio Pons: O Gramsci que fala sobre nós
Dossiê Gramsci, oitenta anos depois
Dois mil e dezessete é um “ano gramsciano”, por marcar o octogésimo aniversário da morte do pensador sardo, em 1937. Não é de hoje sua presença no debate político e na produção acadêmica brasileira. Uma presença que não é unívoca nem tem a mesma valoração por parte de todos os que se inspiram em maior ou menos medida nos textos daquele pensador. Nossa perspectiva — democrática e reformista — é uma das formas de acolher seu complexo legado. Sem a menor pretensão de qualquer monopólio ou ortodoxia, temos um objetivo “simples” e direto: pôr Gramsci a serviço da democracia brasileira.
Acolhemos a ideia de historicizar radicalmente os escritos do pensador, relacionando-os às diferentes circunstâncias em que foram produzidos — circunstâncias que inauguram nosso tempo, mas não são nem podem ser exatamente as mesmas aqui e agora. E tudo sem censuras, cortes ou embelezamentos. Certamente, este é um pressuposto da apropriação crítica, e não doutrinária, do autor, tornando-o apto a ajudar na compreensão de nossos problemas. Frases soltas ou conceitos descontextualizados têm assim validade muito restrita, ainda que possam ressaltar o brilho do escritor. Mas, como dissemos, nosso objetivo é de outra natureza.
Aqui reunimos três referências internacionais na área. Na abertura, Silvio Pons, atual presidente da Fundação Gramsci, em Roma, e sucessivamente Francesco Giasi e Giuseppe Vacca, diretores da mesma Fundação. Um tema recorrente nestas entrevistas é a monumental Edição Nacional dos Escritos, em curso de publicação. Mas não faltam alusões a questões substantivas da atualidade: a globalização e sua crise, para não falar dos imensos dilemas da própria esquerda.
A Fundação Astrojildo Pereira (FAP) e a Fundação Gramsci atuam conjuntamente no plano editorial, especialmente na coleção Brasil & Itália, acolhida e apresentada por Armênio Guedes, dirigente histórico do PCB associado entre nós às “ideias italianas”. De Giuseppe Vacca, já publicamos Por um novo reformismo; Gramsci no seu tempo (com Alberto Aggio e Luiz Sérgio Henriques); Vida e pensamento de Antonio Gramsci, 1926-1937; e Modernidades alternativas. O século XX de Antonio Gramsci. De Silvio Pons, publicamos A revolução global. História do comunismo internacional, 1917-1991, densa narrativa do impacto do comunismo no século passado.
Entrevista dada a Beatrice Rutiloni, Democratica, 14 jul. 2017
Deve-se dizer que Antonio Gramsci se tornou um ícone pop. Como a Marilyn de Andy Warhol ou o Che nas camisetas dos sonhadores de todo o mundo, Gramsci, com aquela face de “intelectual orgânico”, tornou-se o rosto mais conhecido da política com P maiúsculo, a que mistura pensamento, estudo, seriedade, paixão. E sobriedade. Gramsci como o novo ídolo de uma geração um tanto nerd, que de todo canto do mundo encontra naquele olhar moderníssimo a própria fuga do presente. O último dos utopistas, com os pequenos óculos redondos que passaram de John Lennon para Harry Potter, é hoje mais celebrado do que Lenin: há quatro anos, no Bronx, o artista suíço Thomas Hirschhorn criou a instalação The Gramsci Monument, um lugar de agregação que deu lugar a leituras, aulas, cursos para crianças, concertos e seminários. Da casa-museu de Ghilarza, na Sardenha, onde Gramsci viveu sua infância, até Nova York, o tesouro gramsciano parece se enriquecer de ano em ano. A demonstrar o fato de que a herança cultural, quando é viva, é como um clássico: não morre nunca — ao contrário, renasce na memória.
Oitenta anos depois da morte do político, definição que em sua máxima expressão é capaz de reunir todas as outras, a de filósofo, historiador, linguista, jornalista e escritor, resta muito de Gramsci: restam suas belíssimas cartas privadas, que expressam o homem, e restam os Cadernos, traduzidos em todo o mundo e abertos mil vezes na vida. Uma daquelas leituras que se fazem e refazem, porque sempre têm algo a dizer, um pouco como a Recherche de Proust. E permanece a impressão de Gramsci, o mesmo traço inquieto e ordenado de sua face está em sua página escrita, com aquela inesquecível grafia, muito pequena, precisa, de um homem que sabe que não se desperdiça e não se perde o tempo. Um dos maiores conhecedores da obra gramsciana é Silvio Pons, historiador da Europa Oriental, um dos maiores especialistas do comunismo internacional e presidente da Fundação Gramsci.
• Ocorre-nos perguntar neste 14 de julho, aniversário da Revolução Francesa, quanto vale hoje a liberdade.
É um valor global e é mais atual do que nunca. Vivemos uma época de grande desordem mundial em que foram recolocados em discussão os princípios fundamentais da democracia. O último exemplo de revolução em nome da liberdade foram as primaveras árabes que agora cancelamos à luz da catástrofe da Síria e de todos os eventos violentos que se seguiram à queda dos regimes. Poderíamos dizer que do final do século XX até o início do século muitas comunidades se movimentaram para reivindicar liberdades. Não houve só 1989 na Europa, houve muitas outras revoluções pacíficas entre os Bálcãs, o sul da África e até o Irã. Houve comunidades inteiras, destituídas de nome, que impuseram à agenda mundial uma exigência de liberdade que vai muito além da tradição eurocêntrica da Revolução Francesa.
• A egocêntrica Revolução Francesa.
Digo que os europeus monopolizaram alguns valores, entre os quais a liberdade. A Revolução Francesa foi a revolução política que gerou a modernidade política europeia, o evento genético do nacionalismo ocidental. Agora estamos numa época em que Ocidente e americanismo parecem pertencer ao passado e estão superados, mas uma certa ideia de liberdade e até de igualdade que se podem relacionar à nossa história moderna se globalizaram. Existem muitas revoluções francesas, na frente das quais coloco a primavera árabe.
• Mas ela fracassou.
As revoluções podem fracassar, mas seu fracasso também expressa significados importantes, sobretudo em relação à parte do mundo em que se originam. Até diria que justamente porque fracassaram devemos prestar ainda mais atenção. O fantasma das liberdades modernas ainda está entre nós.
• E o da igualdade?
Muito menos. Vivemos num mundo desigual: por uma parte, há o crescimento da riqueza global — mas sou ferozmente contrário a quem acusa a globalização de ser portadora de pobreza — que semeou riquezas no mundo de modo desigual. A China ou a Índia são as novas potências, o Ocidente não controla mais, não influencia mais. A redistribuição dos recursos deslocou o eixo da riqueza do Ocidente para o Oriente, trazendo como danosa consequência que, entre nós, o bem-estar está polarizado nas mãos de poucos e assistimos a um tendencial empobrecimento das classes médias, verdadeiro fulcro da democracia ocidental. Diante de tudo isto continua a me surpreender que a exigência de maior equidade ainda não tenha suscitado protestos sociais que era legítimo esperar.
• Será talvez ainda cedo?
A questão é que as sociedades hoje são muito corporativas e, portanto, custa-nos imaginar um bloco social e político que levante a questão de uma igualdade maior. Vejo um fenômeno que implica diminuição de igualdade mas não vejo os sentimentos de protesto e contestação, que permanecem limitados e marginais ou então se expressam sob a forma de populismos.
• E que tipo de forma social são os populismos?
Primitivos. Ilusórios. A ideia de que seja suficiente conquistar parcelas de soberania nacional para melhorar a vida das pessoas é uma miragem. No mundo de hoje, o primado dos Estados individuais está limitado por uma série de forças que não se deixam desafiar pelo poder de cada um deles. A única forma possível de resistência e de reforma, a única resposta positiva aos processos de globalização é supranacional.
• A única resposta é a Europa?
O tema de uma governance global continua a ser um grande tema, mas muito distante de nós. A Europa é uma resposta, por certo. O processo de integração europeia nasce como recusa às guerras entre Estados-nação que marcaram a história do século XX. A isto se soma a consciência de que só uma grande área supranacional em termos econômicos, democráticos e produtivos, pode sustentar a globalização.
• O problema são os líderes?
Os líderes são o espelho da sociedade. A questão é que não se criou um espaço político legitimado e aceito por todos. O nível nacional continua a ser mais forte e isto determina tensões contínuas entre cada Estado e a Europa. Acrescentemos que, em tempos de crise, com a Europa frágil, o populismo com sua carga de ilusões encontra uma porta aberta.
• Gramsci, encerrado numa cela, entreviu nossos dias: nos Cadernos falou de mundialização da economia contraposta à nacionalização da política. É impressionante.
Na realidade, este processo estava particularmente visível já depois da Primeira Guerra Mundial: o tempo de Gramsci está ligado ao nosso. Observo duas coisas: que a globalização começa muito antes do fim da guerra fria, uma vez que uma crescente interdependência já se inicia no final do século XIX, e também que não existia uma forma de hegemonia evidente. Com a linguagem de hoje, poderíamos dizer que não havia nos anos vinte e trinta uma governance mundial, e esta também é uma tendência de nosso século.
• Outra tendência de nosso século é a crise da esquerda praticamente por toda parte. Como explicá-la?
É um tema que nos atinge e preocupa há tempos. Não é uma crise recente e devemos recuar uns passos, embora seja verdade que ninguém tem a receita. No entanto, existem muitas razões para tal crise: houve a ideia segundo a qual, depois do fim do comunismo, fosse possível fazer uma nova esquerda democrática, era a época da Terceira Via, dos Blairs e Clintons. Uma experiência de esquerda reformista e antitotalitária que emperrou no final do século. Acredito que este foi o início do declínio. Ainda estamos um pouco presos ali e penso que a esquerda, hoje, ainda não ajustou as contas com o paradigma progressista segundo o qual o progresso é sempre linear e irrefreável. A esquerda é uma das vítimas da globalização e entrou em crise com o esgotamento do welfare state. E afinal, como se sabe, quando a política está em crise, com mais razão está a esquerda.
• A direita se ressente menos disso?
A direita é mais capaz, desde sempre, de se valer dos sentimentos das pessoas, do medo. A esquerda não tem este tipo de possibilidade e, portanto, na falta de Política, aquela com o famoso P maiúsculo, sofre mais.
• Um conselho seu.
Estamos sempre naquele ponto: comecemos a rever o paradigma progressista. A esquerda deve viver e deve se contrapor à direita. Cometeremos um erro histórico se pensarmos que estes valores não mais existem.
• Tem razão. Basta ver as reações à lei contra a apologia do fascismo. Disseram que é liberticida. E foi a coisa mais gentil que disseram.
É um fato preocupante porque se baseia numa perda da memória: devemos conservar a consciência de que o fascismo foi uma catástrofe. Não se trata de antifascismo banal, mas de reafirmar a não neutralidade de nossa história. Também os valores da Europa são antitotalitários e a perda de memória é visível naquilo que acontece na Hungria ou na Polônia. Dizer que é liberticida uma lei que condena a apologia do fascismo é contraditório, e o é duas vezes se quem assim se expressa são os que até alguns meses atrás se atribuíam a defesa de nossa Constituição.
• A quem se refere?
Ao Movimento 5 Estrelas, que se entrincheirou por uma Carta que é profundamente antifascista e, ao mesmo tempo, afirma que uma lei que condene a exaltação do vintênio fascista é liberticida.
Democratica & Gramsci e o Brasil
Luiz Sérgio Henriques: O legado de Armênio, agora
O título remete à serenidade e, indiretamente, à ideia de revolução e luta pelas liberdades, e o livro em si fala de um personagem que, nascido em 1918, nos dá a honra de ser seu contemporâneo, depois de ter acompanhado parte conspícua das batalhas pela democracia segundo a ótica de um pequeno, mas importante, partido da esquerda contemporânea. Refiro-me ao relato de Sandro Vaia sobre a vida de um comunista singular (Armênio Guedes - sereno guerreiro da liberdade, Barcarolla, 2013), cuja leitura convida simultaneamente a uma reavaliação do passado e a uma posição no presente - esta última sempre tão difícil de tomar, se é que, como diz o filósofo, a ave da sabedoria só levanta voo ao escurecer e, por isso, estamos humanamente condenados a travar os combates do dia com uma consciência tão só parcial e muitas vezes enganosa.
O partido, naturalmente, é o PCB, criado no significativo ano de 1922, prenhe de acontecimentos que assinalariam a modernidade brasileira. Entre seus quixotescos fundadores, Astrojildo Pereira, intelectual fora dos padrões convencionais, admirador e estudioso arguto de Machado de Assis - paixão que o acompanharia pela vida afora e muitas vezes o salvaria da aridez sectária tanto na política quanto na literatura. Armênio chegaria ao "partido" - assim entre aspas, como se fosse "o" partido por antonomásia e todos os demais não passassem de ficção ou figuras casuais - em circunstância diversa e posterior, por ocasião da mobilização antifascista que também iria abalar internamente o Estado Novo e propiciar, logo em seguida à redemocratização de 1945, o curto período de legalidade do PCB.
Astrojildo e Armênio se cruzariam na história partidária, já então profundamente marcada por um traço específico do nosso país - a admissão da ala esquerda do tenentismo, simbolizada na figura de Luís Carlos Prestes -, bem como por uma característica generalizada dos velhos partidos comunistas - a adesão à União Soviética e ao corpo doutrinário que daí se irradiava para os demais partidos "irmãos", o "marxismo-leninismo".
Tempos de ferro e fogo, de clandestinidade, prisões e exílios. E também de enrijecimento dogmático, de cisões e excomunhões estrepitosas, como, para dar o exemplo canônico, as que acompanharam a denúncia dos crimes de Stalin e do seu sistema de poder, no já distante ano de 1956.
Prestes e Armênio - uma visão que tendia a soluções militares, marcada por uma assimilação positivista do marxismo, e outra que tendia a valorizar a política e os recursos da democracia, em cujo cerne estão a dissuasão, e não a força, o consenso, e não a coerção. O mais tradicional e moderado dos partidos da esquerda chegaria cindido a 1964. "No embate entre Jango e seu mais feroz opositor, o governador Carlos Lacerda, da UDN, Prestes achava que o PCB podia ficar no meio da briga e sair ganhando o poder que sobraria depois da mortal briga entre os dois lados." Armênio e muitos outros, ao contrário, tiveram consciência imediata do alcance histórico da derrota e do salto de qualidade que o capitalismo iria conhecer entre nós, na sequência dos idos de março de 1964.
Debilitado pelas sucessivas cisões de quadros que iriam fazer a luta armada - Marighella, Gorender, Mário Alves -, o velho PCB, apesar de tudo, acharia forças para prestar um último e decisivo serviço à democracia brasileira, ao tornar-se "linha auxiliar do MDB" e apostar na crescente discrepância entre o arbítrio do regime dos atos institucionais e o resíduo de legalidade que se manifestava na competição eleitoral e no movimento associativo, mesmo sob severos condicionamentos. Uma estratégia que apontava, desde o início, para a derrota do regime discricionário mediante a obtenção de ampla anistia e, fundamentalmente, de uma Carta democrática - esta mesma a que lealmente nos devemos referir em todos os momentos, especialmente nos de crise e incerteza, como o que ora atravessamos.
Eis-nos, como dissemos no princípio, antes de um novo e iluminador voo da coruja, a nos haver não só com o legado de Armênio, como também com os problemas um tanto opacos do presente. Movemo-nos num ambiente em que o mundo virtual - num indício, talvez, de verdadeira mudança antropológica - facilita enormemente a difusão do anseio por uma "democracia direta" que, segundo seus adeptos radicais, eliminaria a mediação institucional e os organismos estáveis da representação.
Além do fato de o mundo virtual também estar atravessado de boas e más possibilidades, podendo gerar, no limite negativo, um "assembleísmo eletrônico" com todos os vícios do assembleísmo tradicional, resta a evidência de que a esquerda hegemônica não parece ter pela Carta de 1988 o apreço a que devem sentir-se convocados todos os cidadãos. Alguns dos seus dirigentes veem a crise como ocasião para "enfrentar a direita e levar o governo para a esquerda", ainda que, a rigor, não tenham nenhum projeto alternativo de País ou de sociedade. Enxergam o conflito social legítimo como oportunidade de processos constituintes espúrios ou plebiscitos mal-ajambrados, que supostamente reuniriam um Executivo ainda mais hipertrofiado e a massa da população, fora ou dentro das redes sociais - mas sempre ao largo das instituições.
Num paradoxo só aparente, o caminho da fidelidade às regras do jogo democrático, como poderia ter sido em 1964 e como se patentearia nos anos da resistência, continua a ser a via mestra das mudanças substantivas, sem aventuras ou saltos no escuro. No velho PCB, em circunstâncias muito mais difíceis, pôde germinar um reformismo como o de Armênio Guedes. A esquerda hegemônica, hoje, está desafiada a fazer o mesmo: hic Rhodus, hic salta, diria conhecido pensador. E já não seria sem tempo.
* Luiz Sérgio Henriques é tradutor, ensaísta e um dos organizadores das obras de Gramsci no Brasil. Site: www.gramsci.org
Luiz Sérgio Henriques: As metáforas de Bobbio
Não são poucas as fantasias desfeitas e as ilusões perdidas que temos visto desfilar nos últimos tempos. Elas parecem passar mais depressa em períodos de crise vertiginosa e não poupam ninguém, mostrando os farrapos de bem e mal-intencionados, de “tribunos do povo” e adeptos de um liberalismo restrito. Difícil decifrar uma cena tomada pela centralidade dos órgãos de controle e pelos destroços de um sistema partidário que deveria vertebrar a institucionalidade democrática estabelecida há quase trinta anos.
Para usar uma metáfora de Bobbio, aliás originalmente de Wittgenstein, cada um de nós terá alguns bons motivos para se sentir como a mosca dentro de uma garrafa, a esperar talvez por uma intervenção externa que a livre da prisão. A intervenção externa em nosso caso, segundo os defensores extremados da inédita ação corretiva em curso, viria pura e tão somente de juízes, delegados e promotores, mesmo quando, ressalvado o papel globalmente positivo que desempenham, fazem como o Bacamarte machadiano, para quem toda a Itaguaí deveria ser encerrada na Casa Verde; ou para quem, atualizando a trama, a atividade política só poderia recomeçar depois de encontrada uma “solução final” para a corrupção.
Não é possível existir tal ator externo — foi o que Bobbio defendeu contra Wittgenstein e é o que já podemos ver com mais clareza, especialmente com a colaboração premiada do dono da JBS, no curso da qual, a par dos mecanismos jurídicos, se destacou a movimentação propriamente política do procurador-geral na seleção de alvos e prioridades. Pode-se e, de resto, deve-se muito bem admitir a impropriedade do diálogo registrado no Jaburu, indicador, no mínimo, de uma relação promíscua entre o líder político e o megaempresário. No entanto, corresponde a uma escolha mais problemática definir o papel do atual presidente da República como o de “número 1” na sequência de atropelos institucionais da última década e meia, alguns dos quais, como na Ação Penal 470, foram objeto a seu tempo de sanção do STF.
Se não há nenhum deus ex machina à nossa disposição, diante da atual miséria política nacional poderíamos talvez nos sentir como peixes apanhados numa rede – e é a segunda metáfora bobbiana a que recorremos para definir nosso estado de espírito. Estaríamos assim enredados num maniqueísmo indigente, a esbarrarmos uns nos outros com ódio, rancor e intolerância poucas vezes vistos e menos ainda previstos depois de trinta anos de vigência de amplas liberdades. Não soubemos nos autoeducar para a democracia ou então, à maneira de Weimar, vivemos numa democracia sem democratas, prisioneiros de culturas políticas que não se renovaram e, ao contrário, reiteraram alguns de seus piores vícios.
Tomemos, por exemplo, a cultura de esquerda, pelo menos a dominante. Após o longo ciclo autoritário, que expandiu e consolidou as relações capitalistas com sua mistura inseparável de arcaico e moderno, era de esperar que coubesse à esquerda – especificamente ao partido dos trabalhadores que surgiu ainda nos anos de transição – a função de esteio da política democrática: uma política de massas, culturalmente luminosa, capaz de promover os elementos modernos da nossa civilização e, aos poucos, cancelar os arcaísmos. Com frequência, no entanto, lemos seus documentos, observamos a ação de seus dirigentes e geralmente nos decepcionamos: a velha matriz de outros tempos — classe contra classe, proletariado contra burguesia — continua “produtiva”, mas produz menos a mudança e mais o alimento, no campo oposto, para uma direita igualmente primitiva e sectária.
Movimentamo-nos, então, como peixes aprisionados. Mas se trata de movimento rumo a uma saída catastrófica: levados para a margem, como lembra o filósofo, em vez da liberdade encontramos a morte. O que parecia saída era apenas a repetição do peso de chumbo da história: a “estadolatria”, o culto do chefe carismático, o sacrificium intellectum em suas mais variadas manifestações, a murchar o mundo da cultura ou a torná-lo tendencialmente irrelevante, à custa de adesões automáticas segundo o antigo roteiro dos “companheiros de viagem”, usados instrumentalmente e logo descartados.
O labirinto é a terceira das imagens bobbianas para figurar a condição humana e, nela, a dimensão política. Um labirinto sem saída, como convém a um pensador desconfiado de amanhãs radiosos e de uma humanidade utopicamente sem conflitos, ainda que insista, obstinada e racionalmente, em mudanças progressivas, “moleculares”, que possibilitem padrões de civilização mais altos ou, pelo menos, menos injustos. Mudanças estas que sempre foram, e presumivelmente serão, trabalho contínuo sobre madeira muito dura, baseado na disputa e na construção de consenso, na explicitação leal de divergências e na ampliação da tolerância entre os que divergem.
O labirinto é a política. Dentro dele temos de caminhar indefinidamente, contando tão só com nossas forças e nossa capacidade de invenção. Quedas e retrocessos nunca podem ser excluídos, mas temos a favor toda a caminhada anterior, isto é, o processo histórico, que, mesmo tragicamente acidentado, é um processo de criação de valores, entre os quais, como conquista difícil e sempre em risco, a democracia política.
Trinta anos de democracia não bastaram para civilizar as partes em conflito na cena brasileira. Mesmo na falta de alternativas radicais em confronto (e nem elas o justificariam), a divergência transbordou das redes “sociais”, infiltrou-se entre amigos, dividiu famílias. E criou impasses que não temos o direito de ignorar — afinal, o pecado mora ao lado, como nos mostra a desafortunada Venezuela de Chávez e Maduro. Segundo Bobbio, a arte de andar no labirinto — a arte da política — não é nada consolatória, mas, com o tempo, ensina a pressentir os caminhos bloqueados. Não é pouco.
* Luiz Sérgio Henriques é o editor de Gramsci e o Brasil
Tibério Canuto: Filhotes de Maduro
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Universidade Federal de Minas Gerais são duas instituições com relevantes serviços prestados ao país, à ciência e à democracia. Por sua natureza, esses dois centros do saber e da cultura sempre se opuseram ao pensamento único, à intolerância e a qualquer manifestação totalitária.
Lembro-me muito bem dos meus tempos de juventude, quando realizávamos manifestações estudantis em Belo Horizonte e nos abrigávamos nas instalações da UFMG para nos proteger da repressão policial. De suas fileiras saíram muitos líderes estudantis e muitos intelectuais e cientistas que engrandeceram a cultura nacional.
Quando a sociedade civil começou a se rearticular nos anos 70, a SBPC foi uma de suas vozes, ao lado da OAB, ABI e CNBB. Seus congressos anuais foram momentos de resistência democrática e de efervescência política.
Suas histórias, portanto, são a negação do ódio. Por livre e espontânea vontade jamais a UFMG e a SBPC serviriam de palco para intolerantes que foram até a reunião anual da SBPC para hostilizar e impedir o senador Cristovam Buarque de divulgar o seu livro. Pasmem, em um encontro da ciência, “coletivos” do PT impedem a divulgação da cultura. Se pudessem, queimariam seu livro nas fogueiras da inquisição.
Agrediram o senador, é fato. Mas agrediram e desrespeitaram as duas instituições, sua história e sua cultura pluralista. Não pensem que se trata tão somente de uma ação tresloucada de alguns petistas espiroquetas.
O xingatório ao senador Cristóvam tem relação direta com o “mesaço” das senadoras Gleisi, Fátima Bezerra e Vanessa Grazziotin, que na mão grande tentaram tomar de assalto a condução dos trabalhos no Senado, durante a votação da reforma trabalhista.
Obedece à ordem dada por José Dirceu ainda de dentro da cadeia de uma “guinada à esquerda” do PT. Está em absoluta sintonia com a mensagem de solidariedade ao “companheiro Maduro” da presidente do PT, em recente encontro da esquerda bolivariana.
Propositadamente, o PT está açulando seus aprendizes de Maduro para criar uma escalada da violência, talvez por acreditar que, com a confirmação da condenação de Lula em segunda instância, a via institucional estará esgotada e que terão de apelar a outros meios. Esse é o sentido da afirmação de que eleição sem Lula é fraude. Ora, se é fraude, eles não participarão dela e percorrerão outras vias.
O PT não tem o menor compromisso com a democracia como um bem, um valor universal. Vivem na lógica binária robespierriana, que dividia o mundo em “bons e maus cidadãos”. Os bons são eles, claro, os maus todos os que não rezam por sua cartilha e merecem a guilhotina.
Se pudessem, os filhotes de Maduro fariam do Brasil uma Venezuela. Só não fazem porque não têm força e são obrigados a conviver com esse estorvo, a “democracia burguesa”, para enfraquecê-la por dentro. Não conseguirão porque felizmente o Brasil não é a Venezuela de Maduro. Nem por isso devemos subestimar seus filhotes.
Quanto ao senador Cristovam, sua biografia fala por si só. A ele toda a nossa solidariedade.
* Tibério Canuto é jornalista e comentarista político
Vídeo: Seminário sobre Gramsci em Roma
A Fundação Astrojildo Pereira (FAP) participou, nos dias 18 a 20 de maio, do Seminário Hegemonia e Modernidade, em Roma, Itália. O evento, organizado pela Fundazione Gramsci, teve o objetivo de “realizar uma discussão envolvendo os estudiosos do pensamento de Gramsci em diversas partes do mundo”. A FAP foi representada por meio de dois de seus dirigentes, especialistas em Gramsci no Brasil, Alberto Aggio e Luiz Sérgio Henriques (que também é tradutor do filósofo). O convite da organização do evento, para que a Fundação Astrojildo Pereira integrasse o seminário, foi um forte reconhecimento das atividades de publicação e tradução do pensamento de Gramsci realizado pela FAP e de seus comentadores aqui no Brasil. Confira, abaixo, o vídeo com um resumo dos debates.
Luiz Sérgio Henriques: Democratas de esquerda – a hora e a vez?
A esquerda brasileira gira em círculos em torno de seus anacronismos e tabus
O quadro partidário em ruínas e o destino incerto de tantos personagens de primeiro plano tornam particularmente opaca a cena pública a pouco mais de um ano de eleições gerais. Não há muitos termos de comparação para nossas agruras e a referência inevitável para este nó aparentemente insolúvel entre questões judiciais e questões políticas continua a ser a Operação Mãos Limpas, italiana, na década final do século passado (na foto, Antonio di Pietro, o procurador da República encarregado do caso).
Diferentemente do caso brasileiro, em que partidos frouxamente organizados conduziram a transição e dominaram o poder central até 2002, a Primeira República Italiana, que nasceu no segundo pós-guerra, era uma República de partidos de massa, dois dos quais se tornaram reconhecidos até fora do país: a Democracia Cristã (DC) e o Partido Comunista (PCI). Ambos portavam visões de mundo comunitaristas, não necessariamente antagônicas, admiravelmente retratadas na arte culta ou popular. Para dar um exemplo divertido, foram tempos de Don Camillo e Peppone, o pároco e o prefeito comunista – criaturas de Giovannino Guareschi – que se comportavam expressivamente ora como adversários, ora como aliados.
Positivamente, aquela República fez nascer a Itália moderna; negativamente, reduziu-se muitas vezes, segundo os críticos, a uma “partidocracia”, em que cargos e nomeações, em toda a estrutura do Estado, se dividiam segundo regras bizantinas de filiação partidária. Sempre no poder, a DC e seus aliados de centro ou centro-esquerda; eternamente na oposição, o PCI – uma disposição que se tornaria disfuncional em razão, precisamente, do veto que os condicionamentos da guerra fria impunham à alternância.
A Mãos Limpas levou à implosão daquele sistema bloqueado: dois partidos tradicionalíssimos, a DC e o Partido Socialista, entre outros menores, foram tragados na grande crise. Forza Italia, a agremiação berlusconiana, e os separatistas da Liga Norte dariam voz à nova direita. O PCI continuaria o processo de reconstrução que o levaria muito além do comunismo de origem. E na margem a galáxia ultraesquerdista, a praticar “rachas” e cisões, seu esporte preferido.
Começada de forma casual, a Lava Jato terá topado, progressivamente, com um esboço de “sistema de poder” à italiana, estruturado não só a partir de nossa maior empresa pública, mas, pelo que se vê, espalhado por fundos de pensão, bancos e demais órgãos públicos. As regras de repartição saíram do âmbito artesanal: não se tratava mais de dar, ao sabor de pressões momentâneas, “diretorias que furam poços e acham petróleo” para este ou aquele personagem folclórico, mas de criar máquinas eleitorais poderosas e alianças parlamentares imbatíveis, roçando a unanimidade.
Não se pode dizer, de forma alguma, que o mecanismo fosse inteiramente inédito, salvo na proporção que passou a assumir. Mudanças quantitativas, como se diz, acarretam saltos de qualidade e no auge de sua vigência o mecanismo pareceu capaz de autorreprodução: mal se descobriam feitos e malfeitos que deram vida ao “mensalão”, surgiram indícios de algo mais grave a envolver empresas públicas e privadas numa escala que nos assusta ainda agora.
Alguém poderá lembrar que Sérgio Motta, um dos ministros mais fortes do primeiro governo FHC, certa vez vaticinou um domínio de 20 anos para consolidar as reformas liberais de então. A lembrança é cabível, mas não de todo pertinente: essa espécie de reforma é normalmente impopular, independentemente das justificativas que possa ter, e costuma minar as bases de sustentação de qualquer governo. E, ainda mais importante, os tucanos, como de resto seus aliados do antigo PFL ou do PMDB, eram partidos à moda antiga, fortes eleitoralmente, mas com pouca ou nenhuma vida orgânica ou elaboração autônoma. A adesão que obtinham, no mais das vezes, era de tipo passivo; salvo na implantação da nova moeda e em algumas outras situações, não entusiasmavam nem mobilizavam seus eleitores ao longo do tempo. Não lhes davam argumentos para a boa luta cotidiana, em meio às pessoas comuns.
Uma forte assimetria, ao contrário, caracterizou o sistema de poder petista. Longe de ser um partido comunista, especialmente se considerado o conjunto de fins (realizáveis ou irrealizáveis) que caracterizava esse tipo de partido, o PT sempre trouxe em si algo dos velhos PCs: a centralização, a disciplina e, ai de nós, o culto do chefe, não raro imantado dos dotes de messianismo e infalibilidade. Em contato com tradicionais “partidos de Estado”, que a ele se aliaram a partir do segundo mandato de Lula, o PT pôde exercer por alguns anos, quase sem contestação, seus pendores hegemonistas e seus vezos de cooptação. De fato, o “franciscano” toma lá dá cá atingiu o estado da arte, muito além dos desvios – intoleráveis! – de caixa 2 eleitoral e “sobras de campanha” que sempre atingiram os amorfos partidos brasileiros.
As democracias estão sob ataque por toda parte. Inútil buscar situações exemplares ou receitas definidas. Os partidos, em particular, veem-se assediados por “não políticos”, que estimulam a vaga populista contra a “casta” e disso se beneficiam – até porque, reconheçamos, há muito de “casta” no comportamento político convencional. Os italianos não estão fora do abalo sísmico que varre o mundo. Contudo, sem contar flutuações conjunturais, apontaram um caminho promissor ao tentarem associar num só “partido democrático” os reformistas egressos do comunismo e do catolicismo social.
A esquerda brasileira até agora não contou com tal sabedoria. Gira em círculos em torno de seus anacronismos e tabus. Reduz-se à defesa de seu chefe único e se fecha ao aggiornamento. Parece não ver que é necessário resgatar a si mesma – consciente de que “esquerda” é hoje um conceito desonrado – e contribuir para a missão comum de renovar a política, o Estado e, não por último, a sociedade brasileira.
*Luiz Sérgio Henriques é tradutor e ensaísta. É um dos organizadores das 'obras' de Gramsci no Brasil.
Alberto Aggio: A disjuntiva gramsciana
De um lado, o Gramsci da ‘política democrática’ e, de outro, o Gramsci da ‘política revolucionária’
Neste ano relembramos os 80 anos da morte de Antonio Gramsci, líder político comunista, reconhecido como um dos mais importantes pensadores da Itália. Depois da derrota do fascismo e do fim da 2.ª Guerra, suas ideias ajudaram a fertilizar o terreno que redundaria na construção da moderna República Italiana. Encarcerado por Mussolini em 1926, Gramsci não pôde ver essa tarefa realizada. Sem ter nunca publicado um livro, a difusão do seu pensamento se deve a seus editores, depois do resgate das notas que escreveu na prisão. Desse resgate resultaram as diversas edições dos famosos Cadernos do Cárcere, editados no Brasil desde a década de 1960.
Bastante conhecido no Brasil, o texto gramsciano presta-se a infindáveis polêmicas em torno da interpretação e dos usos dos seus conceitos. Muitos o veem como um ameaçador seguidor de Marx e Lenin, um revolucionário comunista sem mais. Outros o admiram por sua capacidade de perceber as mudanças de sua época, anunciando os traços da complexidade social que viria a se edificar com mais vigor bem depois de sua morte.
O pertencimento de Gramsci ao marxismo e ao comunismo é patente, ainda que ele seja reconhecido como um formulador original e considerado um “clássico da política”. Inicialmente, foi visto como um “pensador da cultura nacional-popular” e um “teórico da revolução nos países avançados”, de cuja obra se extraíram os conceitos que o tornaram um autor assimilado em grande escala. Recentemente, a partir de uma “historicização integral” da sua trajetória, visando a apanhar simultaneamente vida e pensamento (Giuseppe Vacca), aliada à recepção e ao tratamento de fontes inéditas ou até ignoradas, vem emergindo uma nova inserção de Gramsci na política do século 20. Essa perspectiva analítica tem permitido a superação dos diversos impasses e bloqueios que marcaram por longos anos os estudos gramscianos.
Mesmo na prisão, Gramsci continuou sendo um homem de ação. Tudo o que escreveu, das reflexões anotadas nos cadernos à correspondência com familiares e amigos, indica que ele permaneceu atuando como um dirigente político. Nessa condição, procurou fazer chegar à direção do Partido Comunista Italiano (PCI) suas avaliações do cenário italiano e mundial, bem como seus questionamentos a respeito de algumas orientações do PCI que lhe pareciam equivocadas. É desse comprometimento que emergem os termos de uma “teoria nova”, hoje reconhecida no mundo da política e dos intelectuais.
Nos Cadernos do Cárcere foi se sedimentando um novo pensamento, com o qual Gramsci imaginava poder mudar as orientações do movimento comunista. Do texto de Gramsci se pode apreender uma superação clara do bolchevismo, notadamente em relação à concepção do Estado, à análise da situação mundial, à teoria das crises e à doutrina da guerra como parte intrínseca da revolução.
Não foi por acaso que dessas reflexões emergiu a proposta de luta pela convocação de uma Assembleia Constituinte. Isso implicava deslocar o PCI da preparação da revolução proletária para a conquista da Constituinte. Em outras palavras, estrategicamente a luta pela democracia deixava de ser pensada apenas como fase de transição para o socialismo e assumia autonomia plena. No mundo do comunismo da década de 1930 tratava-se de um ato de ruptura. Assim, o ponto de chegada dos Cadernos foi a elaboração de uma nova visão da política como luta pela hegemonia, o que, em termos objetivos, representaria a adoção de um programa reformista de combate ao fascismo e, com ele, a reconstrução da nação italiana.
Essa nova teoria, dramaticamente elaborada no interior das prisões fascistas, resultava do enfrentamento dos impasses que o atormentavam como dirigente político: a derrota para o fascismo e a perda de propulsão do movimento comunista soviético, bloqueado pelo “estatalismo” e pelo autoritarismo. Os conceitos de Gramsci, tais como “hegemonia”, “guerra de posições”, “revolução passiva”, “transformismo” e “americanismo”, entre outros, evidenciam uma linguagem própria, não mais bolchevique ou leninista, de quem, mesmo na prisão, pensava de maneira inovadora os desafios que estavam postos diante da construção política da modernidade no Ocidente.
Em meio às lutas pela democracia, diversas gerações de intelectuais brasileiros que se aproximaram do pensamento de Gramsci buscaram uma tradução dos seus conceitos para nossas circunstâncias. Da década de 1970 para cá, parecia haver consenso na assimilação dos conceitos do pensador sardo, mas a realidade não confirmou essa tese.
Hoje há uma disjuntiva explícita: de um lado, o Gramsci da “política democrática”, ou seja, da política-hegemonia, enquanto “hegemonia civil”, não mais “proletária” ou “socialista”; de outro, o Gramsci da “política revolucionária”. Na primeira “leitura”, a revolução não é mais o centro da elaboração política e a perspectiva se deslocou no sentido de exercitar o conceito de revolução passiva até seus limites, isto é, acionar permanente e intransigentemente a política democrática visando a inverter a longa “revolução passiva à brasileira” (Werneck Vianna), de marca autoritária e excludente, e dar-lhe novo direcionamento.
Aqui estamos diante de uma tradução do Gramsci que se descolou da sua originária demarcação revolucionária e se distanciou de um marxismo que ainda tem como referência uma época histórica de revoluções. É isso que lhe dá o viço ainda hoje. Inversamente, o “outro” Gramsci permanece prisioneiro de uma representação construída a partir de um duplo sentido: representação de classe, como o fora anteriormente, numa perspectiva revolucionária, e, noutro sentido, como representação da conservação e difusão de um imaginário revolucionário do qual se querem resguardar os signos e significados de uma época revolucionária terminada há décadas.
Uma outra fonte de parasitismo
“Uma outra fonte de parasitismo absoluto sempre foi a administração do Estado e ainda hoje acontece que homens relativamente jovens, com ótima saúde, no pleno vigor das forças físicas e intelectuais, depois de 25 anos a serviço do Estado, não se dedicam mais à mesma atividade produtiva, mas vegetam com aposentadorias mais ou menos satisfatórias”.
Antonio Gramsci