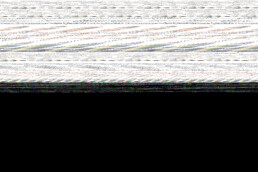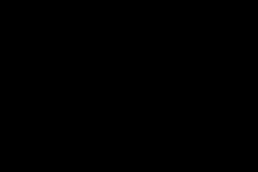Fundação Astrojildo Pereira
Com canções nacionais, filme Brasil Ano 2000 remete a tropicalismo
Longa será discutido em mais um webinar da série de eventos online em pré-comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna
Cleomar Almeida, da equipe FAP
Considerado pela crítica como “empreitada alegórica” após o diretor Walter Lima Jr partir do realismo de seu primeiro longa, o filme Brasil Ano 2000 remete, em sua essência, ao tropicalismo por apresentar mistura de gêneros cinematográficos e referências imagéticas, literárias e musicais. O longa será discutido, nesta quinta-feira (14/10), a partir das 17 horas, em webinar da série de eventos online da Biblioteca Salomão Malina e Fundação Astrojildo Pereira (FAP), em pré-comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna.
Assista!
Com participação de Ulisses Xavier e mediação do diretor-geral da FAP, Caetano Araújo, o evento será transmitido na página da biblioteca no Facebook. O público também poderá conferir o debate no portal da FAP e na rede social da entidade (Facebook), assim como no canal da fundação no Youtube.
O roteiro do filme, lançado em 1969, se passa no ano 2000. Com o país parcialmente devastado pela Terceira Guerra Mundial, uma família de imigrantes chega a uma pequena cidade à qual dão o nome de “Me Esqueci”. O trio é recrutado por um indigenista para fingir-se de índios durante a visita de um general.

No dilema entre integrar-se ao sistema ou preservar a liberdade individual, colaborar com a farsa ou denunciá-la, a família caminha para a desagregação enquanto a cidade se prepara para o lançamento de um foguete espacial.
O filme conta com trilha sonora composta por Gilberto Gil e Rogério Duprat, com canções escritas por Gil, Capinam e o diretor, e interpretadas por Gal Costa e Bruno Ferreira. Duprat compôs a trilha instrumental deste filme enquanto trabalhava nos arranjos do antológico disco Tropicália ou Panis et Circencis (1968). Não por coincidência, em determinado momento pipoca na trilha sonora seu arranjo para a versão de Coração Materno que Caetano Veloso gravou naquele álbum.
O longa de Walter Lima Jr recorre principalmente a dois gêneros, conforme observa a crítica: A ficção científica pós-apocalíptica e a chanchada. O primeiro, incomum para a época, no país, dá a ambientação geral: No ano 2000, as nações ricas do mundo já não existem; foram destruídas após a mítica 3ª Guerra Mundial, onze anos antes.
Era de se imaginar que o Terceiro Mundo tiraria bons frutos desse acontecimento, mas não foi o caso. Não se tornou independente, não se livrou do complexo de inferioridade, não erradicou a miséria. Pelo contrário, seguiu cultivando todas essas mazelas.
Os temas pinçados pelo roteiro de Walter se relacionam diretamente a situações do brasileiro de então e que perduram até hoje. Entre elas estão a rejeição à história nacional, a cobiça do estrangeiro e o culto aos colonizadores.
Ciclo de Debates sobre Centenário da Semana de Arte Moderna
20º evento online da série | Modernismo, cinema, literatura e arquitetura.
Webinário sobre o filme Brasil Ano 2000
Dia: 14/10/2021
Transmissão: a partir das 17h
Onde: Perfil da Biblioteca Salomão Malina no Facebook e no portal da FAP e redes sociais (Facebook e Youtube) da entidade
Realização: Biblioteca Salomão Malina e Fundação Astrojildo Pereira
- Modernismo no cinema brasileiro
- Lançado há 50 anos, filme Bang Bang subverte padrões estéticos do cinema
- Projeto cultural de Lina e Pietro Bardi é referência no Brasil, diz Renato Anelli
- Filme Baile Perfumado é marco da “retomada” do cinema brasileiro
- Romance de 30, um dos momentos mais autênticos da literatura
- Com inspiração modernista, filme explora tipologia da classe média
- Webinário destaca “A hora da estrela”, baseado em obra de Clarice Lispector
- Obra de Oswald de Andrade foi ‘sopro de inovação’, diz Margarida Patriota
- O homem de Sputnik se mantém como comédia histórica há 62 anos
- ‘Desenvolvimento urbano no Brasil foi para o espaço’, diz Vicente Del Rio
- ‘Mário de Andrade deu guinada na cultura brasileira’, diz escritora
- Influenciado pelo Cinema Novo, filme relaciona conceito de antropofagia
- Mesmo caindo aos pedaços, ‘quitinete é alternativa de moradia em Brasília’
- ‘Semana de Arte Moderna descontraiu linguagem literária’, diz escritora
- ‘Modernismo influenciou ethos brasileiro’, analisa Ciro Inácio Marcondes
- Um dos marcos do Cinema Novo, filme Macunaíma se mantém como clássico
- Filme premiado de Arnaldo Jabor retrata modernismo no cinema brasileiro
RPD || Editorial: A trilha estreita do segundo turno
Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada no Senado Federal para apurar responsabilidades por eventuais omissões e irregularidades havidas no enfrentamento da pandemia, aproximam-se do fim. Restou claro, do esforço de investigação, a opção consciente do governo pela estratégia da negação, em prol da manutenção, ilusória, da atividade econômica. O acesso à vacina foi postergado, enquanto tratamentos desmentidos pela pesquisa foram promovidos. O resultado foi desastroso, mas além das vidas perdidas e da pauperização dos brasileiros, houve lucros para alguns nesse desastre.
Do ponto de vista político, a Comissão Parlamentar veio a ser o evento mais relevante de 2019 para cá. Pode ser comparada a um enorme lança-foguetes, que bombardeou o governo ininterruptamente desde sua instalação. Muitas das bombas, de explosão imediata, contribuíram para a inflexão negativa da curva de popularidade governamental. Outras, de efeito retardado, ainda estão por explodir, talvez com danos até maiores que aqueles verificados até agora na imagem do Presidente e de seus auxiliares mais próximos.
No entanto, as forças oposicionistas não parecem ter atinado ainda com os movimentos necessários para fazer valer a iniciativa política que chega a suas mãos. A estratégia do governo, por sua vez, está em plena execução. Trata-se do discurso bifronte: de um lado, moderação, para ganhar tempo nas relações com os demais Poderes da República; de outro, radicalização, para manter o núcleo duro de apoio na opinião pública, os vinte por cento de avaliação favorável, indispensáveis para ultrapassar a barreira do primeiro turno e enfrentar a oposição na nova eleição, “zerada”, que o segundo turno representa.
O caminho do Presidente para o segundo turno é estreito e vulnerável. A derrocada econômica, os estertores da pandemia, assim como o rescaldo da CPI, conspiram contra ele. Nesse cenário desfavorável, contudo, duas janelas de oportunidade se mantêm abertas para o sucesso de seu projeto. Primeiro, a coesão dos apoiadores convictos, aqueles imunes a qualquer evidência empírica, motivados pelo medo de conspirações diversas e inimigos tão perigosos quanto imaginários. Segundo, a divisão das oposições, a rejeição recíproca que anima parte de seus integrantes e mantém viva a bandeira da antipolítica, de papel importante para o sucesso eleitoral de 2018.
Do ponto de vista da defesa da democracia, urge estreitar os caminhos eleitorais do governo. Trabalhar para trazer à luz as consequências nefastas das decisões governamentais implementadas nos três últimos anos. Saber travar, de forma simultânea e separada, a luta unitária em defesa das instituições e a disputa eleitoral legítima e respeitosa em torno de divergências programáticas.
RPD || Charge - JCaesar

JCaesar é o pseudônimo do jornalista, sociólogo e cartunista Júlio César Cardoso de Barros. Foi chargista e cronista carnavalesco do Notícias Populares, checador de informação, gerente de produção editorial, secretário de redação e editor sênior da VEJA. É autor da charge publicada pela Revista Política Democrática Online.
RPD || Frederico Bussinger: Arco Norte - Nova fronteira logística, econômica e ambiental
Portos da região se destacam e ganham importância no escoamento de soja e milho. Desafio é tornar a logística mais eficiente
Certamente historiadores e geógrafos encontrarão origens mais remotas. O que pode ser afirmado é que na segunda metade dos anos 1990 a expressão Arco Norte já se tornara usual. E, formalmente, ela parece ter debutado no Plano Plurianual 2000/03 (Programa “Avança Brasil”) para se referir à “região lá em cima; Roraima e Amapá” e embalar um conjunto de ações estruturantes: além de rodovias, portos e hidrovias, também gás e energia elétrica. Isso sob a estratégia de “Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento”.
No passado mais recente, a expressão vem sendo crescentemente utilizada em sentido mais estrito: de “Saída Norte”; conceito mais logístico. Este foi antecedido pelos “Corredores” do plano de ação do biênio 1993/94 (“Reconstruindo as Artérias para o Desenvolvimento”); plano que já sinalizava a intermodalidade e previa dois deles naquela região. Este, por sua vez, foi precedido pelos “Corredores de Exportação”, integrantes dos dois “Plano Nacional de Desenvolvimento – PND” (PND-I e PND-II) dos governos militares (anos 1970/80).
O mapa do Brasil, aprendemos no Primário, já foi dividido no sentido norte-sul pelo Tratado de Tordesilhas (1494). Nas últimas décadas, passou a sê-lo por uma linha leste-oeste que demarca o limite sul do chamado Arco Norte.
A linha do Tratado (Belém-PA a Laguna-SC) foi fixada como fronteira entre dois reinos (Portugal e Espanha); por conseguinte, um referencial geopolítico. Já a do Arco Norte é uma linha imaginária aproximadamente sobre o Paralelo-16S: grosso modo, Cuiabá-MT, Brasília-DF, Ilhéus-BA. Diante do deslocamento da fronteira agrícola brasileira em direção ao noroeste, o conceito se impôs e foi imaginado como referencial logístico prático: seria o centro de uma faixa da qual tempos e custos para acessar os portos do Sul/Sudeste praticamente se equivaleriam aos da “Saída Norte”. Apesar de informal, o termo é usado regularmente pela imprensa, centros de pesquisa, na literatura e, até nas estatísticas oficiais.
A área que o Tratado reservou a Portugal foi de 2,8 milhões de km2 (32% do atual território brasileiro); ao passo que a do Arco Norte é mais que o dobro: 6,4 dos atuais 8,5 milhões de km2 (3/4; 75%). Além de grande número e extensão de unidades de conservação, assentamentos, terras indígenas e quilombolas, essa vasta região abarca diversas sub-regiões com características e vocações mais uniformes; como a emergente MATOPIBA: 73 milhões de hectares dos estados de MA, TO, PI e BA.
A saída do atual quadro de crises superpostas, que vive o país e a população brasileira, o estabelecimento do tal novo-normal e mesmo o futuro do Brasil, certamente passa pelo Arco Norte. Não se trata de miragem: a região já é responsável por parcela significativa da produção energética brasileira, bem como da produção e exportação mineral e agrícola. Só de soja e milho, por exemplo, em 2020, nela foram geradas 148,6 milhões de toneladas (2/3 da produção nacional), e exportadas 42,3 Mt (31,9 %). Nos últimos 10 anos, o aumento da sua produção foi de 2,1 vezes, ao passo que o das exportações, 5,9 vezes!
Consagrou-se, entre nós, o bordão: “Até a porteira a agricultura brasileira é competitiva. O problema está da porteira até o porto”; ou seja, na logística. Os dados acima, porém, recomendam melhores análises e explicações: teria a exportação crescido quase o triplo do crescimento da produção se a logística, de uma forma ou de outra, não tivesse dado conta do recado? Imagine, então, se a logística fosse mais eficiente!
O desafio logístico do Arco Norte, assim, é transitar de uma logística limitada para uma logística mais eficiente. E isso não só para exportações, mas também para o abastecimento da população da região que padece, igualmente, para levar as crianças à escola, ser atendida na limitada rede de saúde... mormente nas épocas de chuva.
Ou seja, a transformação da logística do Arco Norte transcende o mero escoamento de cargas e transporte de pessoas: pode ser instrumento de reordenação da ocupação do território, de mudança do perfil da atividade econômica e da organização social. Na linha dos “Corredores de Desenvolvimento”, difundidos pelo Banco Mundial e outras agências multilaterais.
A Amazônia tem tradição de megaprojetos abandonados, inconclusos, cujos cronogramas se arrastam por anos a fio, e/ou que deixam rastros de destruição não solucionados. Mas, além disso, há vários gargalos e desafios nessa trajetória de transformações: planejamento e gestão multimodal da logística; (des)coordenação das ações dos órgãos públicos; pirataria na navegação e roubo de cargas nas estradas; sincopados bloqueios de estradas e ferrovias; funding para os projetos (em geral bilionários); e estabilidade regulatória (imprevisível). E o estrategicamente mais importante: equilíbrio entre o produzir e o preservar.
Parodiando conhecida marca esportiva: just do it!

*Frederico Bussinger é consultor, engenheiro e economista. Pós-graduado em Engenharia, Administração de Empresas, Direito da Concorrência, e Mediação e Arbitragem. Foi Secretário Executivo do Ministério dos Transportes e Secretário Municipal de Transportes (SP-SP). Presidente da SPTrans, CPTM, Docas de São Sebastião e CONFEA. Diretor do Metrô/SP, Departamento Hidroviário (SP) e CODESP. Presidente do CONSAD da CET/SP, SPTrans, RFFSA; da CNTU e Comitê de Estadualizações da CBTU. Coordenador do GT de Transportes da Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC-SP). Membro do CONSAD/Emplasa e da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização – PND.
RPD || Julia Braga: Inflação de commoditites e dólar
País precisa reavaliar estratégias dos setores de energia e alimentos para superar a crise econômica, política e institucional
O aumento do preço das commodities afeta o mundo inteiro, levando a um quadro de inflação global. No Brasil, a inflação é maior que em outros países. Como explicar essa inflação mais alta que a média global?
O preço da energia para a combustão ou energia elétrica disparou esse ano. São causas desse fenômeno: a demanda do mundo digital da era pandêmica por energia elétrica, um conjunto de fatores climáticos, assim como a rápida transição energética na China, com a troca do carvão pelo gás natural para a geração de energia elétrica. A crise hídrica no Brasil, por sua vez, fez requereu o uso mais intensivo de termelétricas, incluindo aquelas movidas a gás natural.
Como uma commodity é custo de outra commodity, o choque energético eleva os custos em toda a cadeia produtiva, incluindo a produção de alimentos. Em 2020, o preço das commodities agrícolas (grãos e carnes) subiu intensamente (28%), devido à política de segurança alimentar na China, que demandou mais grãos e carnes após a gripe suína de 2019. Em 2021, já acumulam alta similar (28% de janeiro a agosto), devido tanto a problemas climáticos (cada vez mais frequentes e intensos), como ao aumento dos custos de produção.
O Brasil é um importador de insumos e bens intermediários até mesmo para a produção de alimentos, com dependência externa de máquinas e fertilizantes. Os preços dos produtos importados e exportados no Brasil, em dólares, têm grande correlação histórica com a dinâmica dos preços das commodities. Ocorre que esses preços, cotados em dólares, foram majorados pela variação cambial.
O câmbio afeta não só os preços dos bens importados, mas também os do que exportamos. Isso porque ao produtor não interessa vender no mercado interno por um preço inferior ao que poderia ganhar exportando. Para bens homogêneos e transacionáveis com o resto do mundo, vale a lei do preço único nos diversos mercados locais. Assim como ocorre com a regra da paridade internacional da Petrobrás, o exportador converte para o real o preço em dólar praticado nos mercados internacionais. Isto é, o Brasil é tomador do preço que vigora internacionalmente.
O Banco Central mede o impacto conjunto da inflação de commodities e da variação cambial com o índice IC-br. De janeiro de 2020 a agosto de 2021 esse índice acumula alta de 71%, mesma magnitude de 2002, quando a inflação saiu da meta. A decomposição indica que praticamente metade dessa variação é devida ao aumento do preço das commodities (34%), e outra metade, à desvalorização cambial (28%). Isso significa que a variação cambial praticamente duplicou o choque de custos advindo dos preços em dólares das commodities. O que surpreende é a autoridade monetária não ter dado a devida atenção a esse índice.
O aumento da taxa de juros tem o efeito de valorizar ou pelo menos frear a desvalorização cambial. Como mostra a história do Regime de Metas de Inflação, o Banco Central acaba conseguindo trazer a inflação para a meta, mesmo ultrapassando o ano calendário. Mas há um elemento adicional que atrapalha o canal de transmissão da política monetária. Keynes chamava de incerteza forte: quando fica difícil atribuir probabilidade a diferentes cenários. O investidor precisa atribuir probabilidades para calcular risco e expectativa de rentabilidade.
O Brasil acumula uma crise de natureza econômica, política e institucional há mais de 5 anos. Mesmo as empresas brasileiras, diante de tanta incerteza, optam por não internalizar a receita das exportações, deixando esse volume de dólares no exterior, sem impacto no mercado de câmbio. Cabe ao Estado dar previsibilidade aos agentes econômicos. Para isso, não basta anunciar uma meta de inflação, que pode ser descumprida sem ônus ao presidente do banco. É preciso ter planejamento econômico.
A crise também mostra a necessidade de reavaliação das estratégias relativas aos setores energético e de alimentos. Uma prioridade deve ser o incentivo à agricultura familiar, que perdeu parcela significativa no orçamento público desde 2015, devido às regras fiscais de contenção de gastos públicos. Também é necessário debater uma regra de repasse da Petrobrás que permita suavizar, ao menos em algum grau, a forte intensidade das oscilações do preço internacional e da variação cambial (uma das mais voláteis do mundo) ao preço na bomba. Uma sugestão é um programa de recompra de ações dos acionistas minoritários, deixando a Petrobrás com mais poder para interferir no preço. Assim, os investidores não seriam prejudicados e, ao mesmo tempo, o Estado ganharia maior controle de sua política energética.
Essas políticas de caráter estrutural acabam facilitando o canal de transmissão da política monetária. Em contrapartida, como tem sido demandado de bancos centrais no mundo todo, o Banco Central do Brasil pode ter papel mais amplo de atuação em diversas áreas, facilitando o financiamento para o cumprimento de metas ambientais e sociais e as estratégias definidas no planejamento econômico.

Julia Braga é professora associada da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e diretora da Associação Keynesiana Brasileira
RPD || Guilherme Casarões: Lições do Afeganistão pós-americano
Retorno violento do Talibã ao controle do país é claro sinal de que a fórmula hegemônica da democracia liberal se tornou disfuncional e contraproducente
A dramática saída norte-americana do Afeganistão marca o fim de uma era. Nos vinte anos de ocupação militar do país, o mundo testemunhou o declínio do poder dos Estados Unidos e a reorganização da ordem mundial em torno de uma superpotência em ascensão, a China. Cabul era a fronteira final de um modelo hegemônico há tempos insustentável. Sua queda para os militantes radicais do Talibã é mais uma evidência, talvez a derradeira, de um mundo diferente em formação.
E que mundo é esse? Trata-se de uma nova-velha ordem mundial, com elementos inéditos, mas diversas características conhecidas de outros tempos. Duas novidades merecem destaque: a primeira é o deslocamento do centro de poder para a Ásia, após cinco séculos de absoluto domínio cultural, militar e político do Ocidente.
A segunda novidade diz respeito às dinâmicas de poder. Vivemos a era do mercado geopolítico, em que Washington e Beijing – e, em menor grau, o eixo Berlim-Bruxelas – mobilizam modalidades variadas de recursos econômicos, políticos ou militares para criar esferas de influência globais, ao passo que países consumidores usufruem de certa liberdade para escolher a qual potência se associar, numa espécie de hegemonia à la carte.
Nesse novo arranjo, estabilidade e prosperidade valem mais que pluralismo e democracia. Se os americanos não se mostram capazes ou interessados em garantir o desenvolvimento local, com certa autonomia, os países buscarão a via chinesa, materializada no ambicioso projeto da Nova Rota da Seda. O pacto é simples: comércio e investimentos em troca de recursos naturais e lealdade política – sem julgamentos morais, receituários prontos ou imposição de valores.
O retorno da velha geopolítica trouxe consigo velhos sentimentos nacionalistas. Despida das amarras ideológicas da Guerra Fria, a disputa hegemônica sino-americana abriu espaço para emergência de movimentos soberanistas que contestam os efeitos da globalização, de fluxos migratórios à exportação de empregos, do multiculturalismo identitário à democracia liberal.
Nacionalistas contemporâneos em geral propõem uma visão de futuro olhando para o retrovisor, baseada no conceito de nacionalismo religioso. Expressam uma tendência, iniciada em regiões periféricas do globo e cada vez mais saliente nas democracias ocidentais, de condicionar o pertencimento nacional a um critério de fé, numa fusão pré-moderna entre identidades política e religiosa.
Sob a ótica do nacionalismo religioso, defendida por líderes mundiais tão distintos quanto Donald Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán e Narendra Modi, a religião é o elemento que permite superar tanto um choque intra-civilizações quanto um choque entre civilizações, para remeter à clássica (e controversa) tese de Samuel Huntington. As crises sociais internas seriam superadas pelo cimento social religioso, capaz de fornecer uma bússola moral e assegurar a unidade nacional. Ao mesmo tempo, essas mesmas religiões informariam os novos padrões de alinhamento globais. O resultado seria um mundo fundamentalmente distinto daquele que conhecemos.
Após a retirada norte-americana, o Afeganistão rapidamente passou a incorporar todos os elementos dessa nova-velha ordem. O abrupto colapso das instituições políticas afegãs, cedendo passagem ao violento retorno do Talibã, é mais um claro sinal de que a fórmula hegemônica da democracia liberal se tornou disfuncional e contraproducente.
Na sequência, o imediato reconhecimento russo e chinês do novo governo afegão é revelador da dinâmica da geopolítica concorrencial, ou à la carte. Ao contrário de algumas previsões apressadas, os problemas que a China tem com sua própria população muçulmana não a impediram de encontrar um modus vivendi com fundamentalistas islâmicos além-fronteiras.
Por fim, a gradativa normalização do nacionalismo religioso afegão ao redor do mundo, mesmo à custa de valores democráticos, direitos humanos ou liberdades individuais, sugere que ainda veremos, ao longo desta década que se inicia, outras tentativas de solucionar crises internas pela supremacia da fé.
Bem ou mal, não se poderá contar com o ímpeto das potências ocidentais, enfraquecidas e dedicadas a resolver suas próprias divisões internas, para salvaguardar a democracia liberal em nível global. Se mais movimentos como o Talibã nos aguardam no futuro, caberá a cada sociedade garantir que essa fusão nacionalista religiosa e esse ambiente geopolítico cada vez mais perigoso não coloquem em risco as conquistas políticas das últimas décadas.

Guilherme Casarões é doutor e mestre pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) (Programa SAN Tiago Dantas). Leciona Relações Internacionais na Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM-SP)e na FGV-SP. Pela Contexto é autor do livro Novos olhares sobre a política externa brasileira.
RPD || Lilia Lustosa: Belmondo, Nouvelle Vague e cia
Movimento cinematográfico mostrou uma França mais moderna, dinâmica. Jean Paul Belmondo era seu grande ícone
Em setembro, o mundo perdeu um de seus grandes atores, Jean-Paul Belmondo. Símbolo maior da Nouvelle Vague, movimento cinematográfico francês revolucionário que, inspirado no neorrealismo italiano e no cinema-verdade de Jean Rouch, acabou por influenciar diversos novos cinemas em todo o mundo.
Desde o lançamento de Acossado, naquele março de 1960, o cinema mundial nunca mais seria o mesmo. Não por ter sido esta a pedra fundamental do movimento, mas, mais precisamente, por ter se convertido em uma espécie de manifesto da Nouvelle Vague, ao apresentar na telona estética e temática totalmente novas. O filme, dirigido por Jean-Luc Godard e baseado em argumento de François Truffaut, mandou às favas as regras já consolidadas do cinema comercial, trocou o tripé pela câmera na mão, usou película fotográfica ultrassensível para escapar da obrigatoriedade dos estúdios e ainda transformou bandidos em protagonistas, levando plateias inteiras a torcerem para que Michel (Belmondo), mesmo depois de ter roubado um carro e matado um policial, escapasse para Roma com a bela Patricia (Jean Seberg).
A partir dali, o mundo começava a entender que já não era mais preciso se render à predatória indústria cinematográfica norte-americana, nem à francesa, nem a qualquer outra. E que era possível, sim, realizar bons filmes com poucos recursos, câmeras leves, ao ar livre, equipe reduzida, tratando de temas moralmente questionáveis. Foi a retomada do “cinema de autor”, preconizado pelos vanguardistas dos anos 1920/30.
No Brasil, um dos herdeiros da Nouvelle Vague foi o Cinema Novo, que adotou a câmera na mão como slogan e levantou a bandeira da independência dos grandes estúdios, nacionais e internacionais. A liberdade era o grande lema dos jovens cinemanovistas que viam nessa nova maneira de fazer cinema uma forma de descolonizar também sua cultura. Filmes como Os Cafajestes (1962), de Ruy Guerra, beberam diretamente da fonte do movimento francês, sendo vistos com admiração até mesmo pelos próprios críticos do Cahiers de Cinéma, berço da Nouvelle Vague. No filme de Guerra, Norma Bengell protagonizou o primeiro nu frontal da história do cinema brasileiro. Um escândalo para a época!
Mas o Cinema Marginal também assimilou características da “marginalidade” do movimento francês, levando-os, porém, a um paroxismo nunca visto no Brasil. O crítico e cineasta Jean-Claude Bernardet aponta várias influências de Godard em O Bandido da Luz Vermelha (1968), de Rogério Sganzerla, filme-marco deste movimento que sucedeu o Cinema Novo. Para ele, Acossado teria sido o filme que mais influenciara o cineasta paulista em sua obra. O anti-herói Jorge (Paulo Villaça) tinha muito de Michel-Belmondo, seu suicídio tendo sido moldado, porém, a partir da morte de outro personagem de um filme de Godard, Ferdinand de O Demônio das Onze Horas (1965), também interpretado por Belmondo.
Já nos Estados Unidos, a Nouvelle Vague impulsionou o nascimento da New Hollywood, deixando como herança a liberdade temática adotada a partir de então, com tramas que passavam a dialogar mais diretamente com o contexto sociopolítico daqueles rebeldes anos 60. Tópicos como igualdade racial e de gênero, pacifismo e liberdade sexual passaram a aparecer sem pudor nas telas de cinema. Anti-heróis viraram protagonistas e foram ganhando espaço no coração dos espectadores. Algo impensável até a estreia de Bonnie e Clyde (1967), de Arthur Penn, filme que abriu portas para uma nova geração de cineastas, composta por Scorsese, Coppola, Spielberg, Georges Lucas e outros. Diretores que mergulharam Hollywood em outra dimensão estética, sendo até hoje venerados e idolatrados por um sem-número de cinéfilos mundo afora. Cineastas que influenciaram, por sua vez, outras gerações que seguem trabalhando em busca de novas inspirações e tecnologias que possam revolucionar ainda mais a sétima arte.
Mas, voltando à França e ao grande ícone da Nouvelle Vague, Belmondo nunca hesitou em assumir que não era lá muito fã daquele tipo de cinema que ele considerava “intelectual” demais… Um dos filmes em que mais gostou de atuar foi O Homem do Rio (1964), de Philipe de Broca, uma aventura nada nouvellevaguiana, rodada em Paris e no Brasil, uma espécie de live-action de Tintim, em que Adrien (Belmondo) viaja por terras tupiniquins para salvar sua amada Ignès (Françoise Dorléac), raptada por índios sul-americanos. Certamente, um retrato-clichê de nosso país, mas que serviu para conquistar espaço nas telas e nos corações dos franceses e de todo o mundo.
Merci et au revoir, Belmondo!

*Lilia Lustosa é formada em Publicidade, especialista em Marketing, mestre e doutora em História e Estética do Cinema pela Universidade de Lausanne, França.
RPD || Kelly Quirino: Que projeto de país temos para o futuro?
Erradicar a polaridade política atual e discutir questões estruturais se faz urgente para a construção de um país para o século XXI
Que projeto temos para o futuro do Brasil? Um país estruturado em violência, exploração do trabalho, sexismo e racismo entra na década de vinte do século XXI escancarando seus problemas históricos, e as principais lideranças políticas do nosso país ainda não conseguem apresentar uma resposta para estas demandas.
Começo por esta indagação, porque ao final do século XIX o projeto das nossas elites era modernizar o país. A ciência foi uma aliada para trazer o desenvolvimento e as políticas de imigração europeia para o Brasil ter uma mão de obra assalariada e também embranquecer nosso país, considerado preto demais para época. Era o projeto que até hoje é ostentando na nossa bandeira: “Ordem e Progresso”.
A ideia de desenvolvimento pautado pela implantação da indústria no Governo Vargas, continuada por JK e pelos militares, durante a ditadura, foi responsável pelo chamado milagre econômico brasileiro que colocou o Brasil entre as dez principais economias do mundo.
Ocorre que a exploração do trabalho, a violência e o racismo fizeram com que este projeto desenvolvimentista não fosse usufruído por grupos historicamente marginalizados: negros e indígenas.
Por mais que desde o século XIX José de Alencar já celebrasse a miscigenação como uma identidade nacional – primeiro a partir da exaltação aos indígenas e portugueses –, e Mário de Andrade reconhecendo que a identidade do povo brasileiro era soma dos três povos: indígenas, negros e brancos, no célebre Macunaíma, a riqueza gerada se concentrou nos grupos de homens brancos e continuou mantendo as piores estruturas sociais para negros e indígenas.
Aluísio de Azevedo, em O Cortiço, já apontava que o Estado brasileiro reservava os cortiços como moradia para os pretos no final do século XIX. Na década de 50, do século XX, Carolina Maria de Jesus em O Quarto de Despejo - denunciava os políticos, por negligenciar o povo favelado enquanto ela catava papel para alimentar seus três filhos.
No nosso projeto de país no século XX, os que são considerados cidadãos são privilegiados, e utilizam o discurso da meritocracia, para justificar seus lugares sociais. E pior, não possuem vergonha de ter irmãos pátrios que passam fome, são assassinados diariamente e não possuem moradia e nem trabalho digno.
Nosso projeto de país, criado no século XIX e que foi implementado no século XX não tem vergonha da desigualdade e ainda quer manter privilégios. As obras clássicas fundantes da sociologia brasileira nos ajudam a compreender este fenômeno parcialmente. Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, defende que o brasileiro é um homem cordial. Avalio que seja cordial com seus iguais: homens, brancos, cristãos, instruídos, heterossexuais. Quem não faz parte disso, é tratado de forma violenta. Daí a importância de trazer a obra de Abdias do Nascimento, para refutar a tese de Buarque de Holanda. Em O Genocídio do Negro Brasileiro, Abdias afirma que o brasileiro não é cordial com as pessoas negras. A cada 23 minutos um homem, jovem e negro é assassinado no Brasil. O Atlas da Violência 2021 aponta que 77% das vítimas de homicídio do nosso país em 2019 eram negras.
Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala defendia que a colonização no país foi harmoniosa, negros e portugueses se relacionavam de forma amistosa, e o sexo entre senhores e negras era consensual. E aqui Lélia Gonzalez, no artigo “Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira”, refuta esta tese ao afirmar que as mulheres negras e indígenas no Brasil foram vítimas de estupro, e, no nosso projeto de país, elas são a mulata para transar, a preta para trabalhar e a mãe preta para servir. É preciso trazer à luz na Sociologia brasileira obras como as de Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez para compreender o outro lado que Buarque de Holanda e Gilberto Freyre não contemplaram.
E chegamos no século XXI como resultado de tudo isto, em um cenário obscurantista negando a ciência que tanto nos ajudou a sermos um país industrializado, negando que somos violentos, racistas, sexistas e ainda sem um projeto de país. E a pandemia ainda agravou muito mais estas desigualdades econômicas, raciais e de gênero: 14 milhões de pessoas desempregadas e voltamos para o mapa da fome.
Que projeto de país temos para o futuro? Ainda não sabemos. Daí a importância de erradicarmos a polaridade política atual e discutir questões estruturais do nosso país, apontadas no decorrer deste artigo. Se faz urgente a união de vários setores da sociedade brasileira – intelectuais, políticos, organizações, sociedade civil organizada, partidos, sindicatos e as pessoas que estão nas redes sociais para construirmos um projeto de país para o século XXI. Do jeito que estamos, cada dia nos tornamos chacota mundial.

Kelly Quirino é doutora em Comunicação pela Universidade de Brasilia (UnB), Mestre em Comunicação Midiática e Jornalista Diplomada pela Universidade Estadual Paulista. Pesquisa jornalismo, relações raciais e diversidade.
RPD || Zulu Araújo: Faremos Palmares de novo
Ações do governo Bolsonaro visam destruir a fundação que é símbolo histórico da luta e resistência pela igualdade racial no país, avalia Zulu Araújo
A criação da Fundação Palmares é parte indissociável da luta democrática ocorrida no Brasil pela derrubada da ditadura militar e retomada da Democracia. A Constituição Cidadã de 1988 é a consolidação dessas conquistas. Ou seja, a Fundação Palmares simboliza a um só tempo a luta pela igualdade racial, social e a defesa da diversidade cultural. Em seu primeiro artigo, está inscrito seu objetivo maior: “Promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira.”, para “promover e apoiar a integração cultural, social, econômica e política dos afrodescendentes no contexto social do país.”.
A Fundação Palmares não é, pois, uma instituição qualquer, criada a partir do bolso do colete de um político sagaz, um burocrata esperto ou um ministro sensível. É fruto de um movimento amplo, diverso, um momento histórico. A Palmares é filha dileta da grande mobilização nacional que empolgou o país em 1988, no qual as mulheres, os movimentos dos direitos humanos, da defesa das crianças e combate à intolerância religiosa se uniram aos partidos políticos, para defender o retorno da Democracia ao nosso país.
Por isso mesmo, a Palmares é a vitória mais importante do movimento negro brasileiro, no século XX. Teve origem na sociedade, foi aprovada pelo Congresso Nacional, e é a primeira instituição do Estado brasileiro incumbida de elaborar políticas públicas de combate ao racismo e promoção da igualdade, a partir da valorização, preservação e difusão das manifestações culturais de origem negra no país. Isto não é pouca coisa. Essa vitória sem precedentes contou com a participação de muita gente, artistas, políticos, religiosos/as, militantes do movimento negro. Lá estavam pretos, brancos, mestiços, indígenas. Gente de esquerda, direita, tais como Ana Célia do (MNU), Embaixador Alberto Costa Silva, Carlos Moura (Comissão de Justiça e Paz), João Jorge (Olodum), Deputados/a Abdias Nascimento, Benedita da Silva e Paulo Paim, Clóvis Moura (sociólogo), Gilberto Gil (artista), Martinho da Vila (artista), Marcos Terena (indígena), Mãe Stela de Oxóssi (Yalorixá) e Zezé Mota (atriz), dentre tantos outros.
Ao longo de 32 anos de existência, a Fundação Palmares passou por muita dificuldade, superou inúmeros desafios e se firmou como a grande representação política/cultural da comunidade negra brasileira. Conquistas importantes foram alcançadas: o Parque Memorial Quilombo dos Palmares em Alagoas, (10 mil metros quadrados de área construída) o Decreto 4887/03 (certificação e regularização dos territórios quilombolas, com mais de 4.000 reconhecidos), a Lei de Cotas raciais para o Ensino Superior, ( mais de 1 milhão de estudantes negros, beneficiados), além de apoio a milhares de projetos, grupos culturais, intercâmbios e trocas de experiências com comunidades negras de todo o mundo, em particular do continente africano.
A Palmares realizou ações memoráveis como a participação na III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, (Durban/África do Sul/2001), a II Conferência dos Intelectuais ada África e da Diáspora, realizada em Salvador em 2006 e que contou com a presença de mais de 3.000 intelectuais afrodescendentes do mundo inteiro, assim como a participação no III FESMAN (Festival Mundial de Artes Negras /Senegal/2010), no qual contou com a maior delegação de artistas negros (465). Em que pese as dificuldades orçamentárias, financeiras e de recursos humanos, a Palmares tem cumprido com sua missão.
Portanto, o que está ocorrendo hoje na Fundação Palmares é algo muito mais profundo do que a maldade de um dirigente mal-intencionado. É a destruição de um símbolo de luta e resistência, dos nossos sonhos de igualdade, diversidade, fraternidade e de respeito ao outro, à religião do outro. Essa destruição está ocorrendo em todos os setores da cultura: patrimônio, memória, linguagens, produção de conhecimento, literatura, enfim, tudo aquilo que signifique inteligência, civilidade, cidadania. Por isso mesmo, nossa luta precisa ter foco e precisão. Não devemos cair na armadilha da fulanização. O combate é contra um sistema, o governo. E, para tanto, temos de estar juntos para fortalecer a luta democrática e defender a diversidade. E, por fim, incluir na agenda política nacional a luta pela promoção da igualdade racial como algo de todos que são democratas e progressistas, visto que a promoção da igualdade, além de um avanço civilizatório é uma necessidade humana.
Toca a zabumba que a terra é nossa!
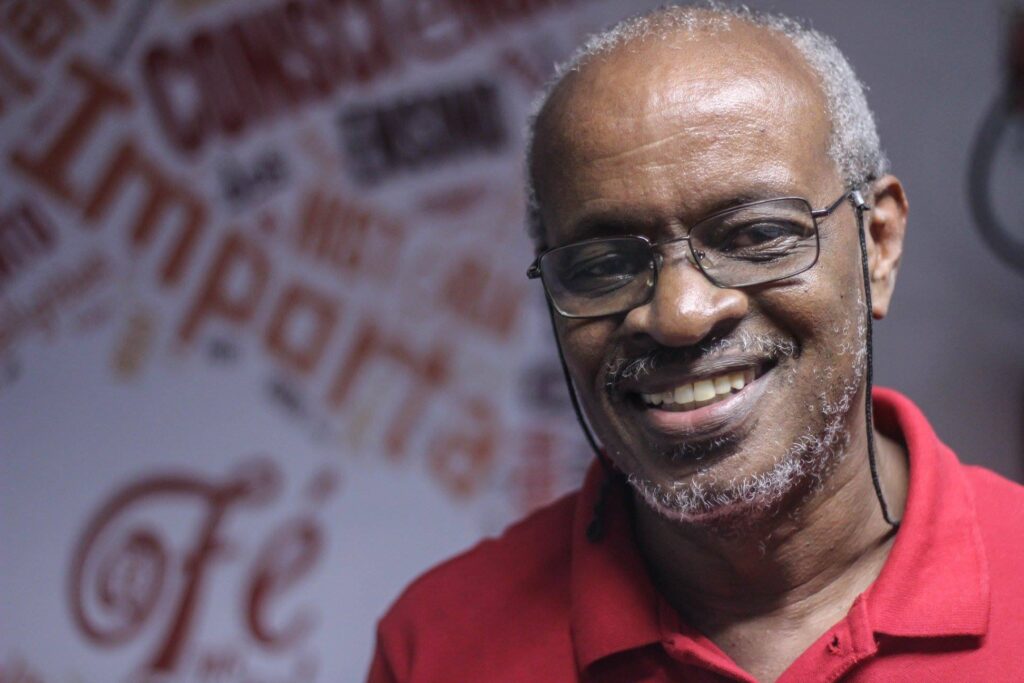
Zulu Araújo é diretor geral na Fundação Pedro Calmon. É arquiteto, produtor cultural e militante do movimento negro brasileiro, ex-diretor da Casa da Cultura da América Latina/UnB e ex-presidente da Fundação Cultural Palmares.
RPD || Alberto Aggio: O que setembro nos revelou?
Bolsonaro não conseguiu ampliar sua base de sustentação e aumentou ainda mais seu isolamento político
Dos meses do ano, agosto sempre foi, em termos políticos, o mais lembrado em razão de inúmeros acontecimentos, invariavelmente disruptivos, como o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954. Setembro jamais havia ganho, na memória coletiva, tamanho protagonismo com o mesmo teor. Mas este último mês de setembro foi bem diferente e mexeu com nossos nervos, fez palpitar corações e desafiou os mais competentes cérebros da análise política. O que setembro nos revelou?
Reconhecidamente, estivemos no limiar de uma grave ruptura institucional que poderia pôr a pique nossa jovem democracia. E o grande responsável por isso foi o presidente da República, Jair Bolsonaro, pela confrontação destrutiva que estimulou e conduziu contra as instituições da República, notadamente o Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro projetou e participou, no Dia da Independência, de atos antidemocráticos de massa em Brasília e São Paulo com o claro objetivo de confrontar o Poder Judiciário, rompendo o equilibro da República. Se essa ação produzisse os efeitos esperados a favor do presidente, estaria dado o sinal para o golpe de Estado.
Mas não foi o que aconteceu. A tentativa de golpe não prosperou. Os militares recolheram-se, depois da cerimônia oficial em Brasília, e as Polícias Militares dos Estados, controladas pelos governadores, mantiveram-se em suas funções ordinárias, garantindo a ordem.
Detalhadamente preparadas nas duas cidades mencionadas e também no Rio de Janeiro, Bolsonaro conseguiu mobilizar efetivamente milhares de pessoas. Obteve, nesse curso, o apoio de parte do empresariado e da militância de suas redes sociais. No entanto, as principais forças políticas do país não deram respaldo à escalada golpista comandada pelo presidente. Muito ao contrário, partidos políticos que relutavam em fazer oposição direta ao governo passaram a falar abertamente em impeachment. O principal setor social que havia declarado apoio, os caminhoneiros, dividiu-se. Vocalizando uma retórica exaltada, parte dele ainda tentou uma “greve” nos dias sucessivos, desestimulada pelo próprio presidente da República.
O golpe fracassou, dentre outras razões, porque Bolsonaro não conseguiu adesão suficiente para levá-lo a efeito. Quer porque o suposto braço armado do dispositivo golpista recuou ou efetivamente não se compôs, quer porque a mobilização de massas não correspondeu às expectativas. Ficou a impressão de uma radicalização despropositada e irresponsável; e, por fim, de um recuo amedrontado diante da ameaça real de abertura do processo de impeachment.
De toda forma, o episódio revela que Bolsonaro não conseguiu ir além dos apoiadores de sempre, e o recuo do presidente, com a Carta à Nação, deixou parte de seus apoiadores bastante insatisfeitos. O resultado é cristalino: Bolsonaro não conseguiu ampliar sua base de sustentação e aumentou ainda mais seu isolamento político. Poucos dias depois, pesquisas de opinião sancionaram essa avaliação. A imensa maioria da população brasileira repudiou a iniciativa do presidente em se antagonizar abertamente com as instituições da República, quase levando a uma ruptura institucional.
Ainda que com equalização diversa em cada um dos atores, foi a sociedade política, em representação delegada da sociedade civil, que agiu de maneira célere e responsável para estancar o dispositivo golpista, antes, durante e especialmente depois do 7 de setembro. Noticia a imprensa que, nos dias seguintes, produziu-se uma espécie de “concertação” entre atores representativos e diferenciados (STF e governadores, inclusos), mais militares de alta patente, todos preocupados em montar um dispositivo antigolpe capaz de atuar constitucionalmente contra Bolsonaro caso ele queira impedir a realização das eleições de 2022, não reconhecer os resultados ou tentar se antepor à posse do eleito em janeiro do ano seguinte[1]. Como se pode ver, a democracia brasileira aderiu oportunamente à campanha do “setembro amarelo”, mês dedicado ao combate ao suicídio.
“Mau soldado”, na definição do General Ernesto Geisel, setembro reiterou que Bolsonaro é péssimo articulador político e um presidente ainda pior. Se havia alguma inclinação analítica em compreender seu governo como “bonapartista”, o comportamento dos militares foi esclarecedor. Bolsonaro é um líder de espírito fascista incapaz de dar solidez e consequência a seu próprio movimento. É um iliberal que tem adotado ações corrosivas contra a democracia, desde o início do mandato, por meio de estratégias erráticas de “guerra de movimento” e “guerra de posição” sucessivas e superpostas.
Setembro termina com a desastrosa viagem a Nova York na qual Bolsonaro e a delegação brasileira apenas exercitaram o antidecoro, mentiram e despreocupadamente espalharam o vírus da Covid-19 pelos salões das Nações Unidas. Por aqui, felizmente, as instituições da democracia parecem ter resistido à fronda reacionária comandada pelo presidente. Qualquer projeção positiva do nosso futuro vai depender de uma compreensão consequente do que se passou neste setembro.
[1] NOBLAT, Ricardo. “Operação antigolpe já foi deflagrada para conter Bolsonaro”. Metropole, 20.09.2021; https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/ricardo-noblat/operacao-antigolpe-ja-foi-deflagrada-para-conter-bolsonaro.

*Alberto Aggio é historiador, professor titular da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e responsável pelo Blog Horizontes Democráticos.
RPD || Alessandro Vieira: A CPI que fez a diferença
Comissão expôs erros e omissões graves da desastrosa atuação do governo Bolsonaro no combate à pandemia
À medida que a CPI da Pandemia se aproxima de seu término, aumenta, na mesma proporção, a cobrança por resultados práticos dos seis meses de depoimentos, quebras de sigilo e milhares de documentos colhidos, em um país que, a essa altura da tragédia, beira os 600 mil brasileiros mortos pelo coronavírus. Você já viu muitas CPIs atravessarem momentos históricos difíceis, mas certamente nunca testemunhou uma comissão parlamentar que fez tanto de fato pelo país - os porões que abriu, as portas que lacrou e, sem falsa modéstia, as vidas que salvou. A CPI tirou o foco do cercadinho e escancarou erros e omissões graves do Governo Federal. Ademais, descobriu indícios da existência de um mecanismo de favorecimento de empresas para desvio de recurso público operando dentro do Ministério da Saúde.
Já tivemos muitas comissões de inquérito, retratos de seus momentos políticos, da realidade do país. Algumas mornas, outras efervescentes. Algumas mero conchavo entre amigos - terminando em 'pizza' -, outras esmagadas pelos tentáculos do Estado. Mas nenhuma - e não tenho dúvida em cravar isso - como a CPI da Pandemia. Uma CPI realizada na era das tecnologias da informação e comunicação e da efervescência das redes sociais, que de forma inédita tem de lidar com o gabinete das fake news, mas também com a checagem de fatos em tempo real. Estamos chegando aos derradeiros dias de trabalho, da CPI das CPIs, como já foi consagrada. E o que lhe garante esse título é o volume de erros, omissões, irregularidades e evidências de crimes de corrupção que estão sendo desvendados à medida que ainda se vive a Pandemia, e que a cada dia novos fatos se revelam.
Mais de 600 mil brasileiros perderam suas vidas – pais, mães, irmãos, amigos, que não retornarão. Algumas ceifadas por falta de vacinas, outras por falta de orientação e comunicação acerca de medidas não farmacológicas e tantas outras pela falta de políticas concretas de gestão e contensão e propagação do vírus. Não há precedente para tal massacre - ainda mais turbinado por um esquema corrupto e desumano, em diversos escalões e com diferentes fardamentos. Mas a CPI da Covid também reflete uma ruptura no que considero ser um momento particularmente baixo da degradação da atividade parlamentar, com o esforço do Executivo para reduzir as Casas Legislativas a um entreposto de emendas e cargos. A CPI da Covid é, mesmo em meio a esse cenário hostil, uma luz no fim do túnel para o povo, mostrando que, mesmo em tempos sombrios, ainda que em menor número, existem pessoas sérias que pensam no Brasil e que lutam pela justiça, pela ciência e pela verdade.
Foram desafios marcantes. Graças ao equilíbrio de seus líderes, e membros mais combativos, a CPI terminará seus trabalhos sem se desviar do caminho. Muito claramente, narramos, ao longo desses meses, um enredo terrível - longe de poder ter um final feliz. Além da omissão fatal do Governo Federal, comprovada nos depoimentos que convocou e documentos que analisou, a CPI expôs a vergonhosa atuação do presidente e de seus subordinados, ele que favoreceu a disseminação da epidemia causada pelo novo coronavírus, sendo incapaz de proteger seu povo - que continua enterrando centenas de brasileiros por dia. Pior: isso não foi casual, foi deliberado, baseado numa crença negacionista, anticiência e antivacina.
A CPI expôs um governo sem um pingo de empatia com seu povo, com os hospitais lotados e os cemitérios cheios passando longe das agendas das autoridades. A CPI seguiu o dinheiro, e o mau-cheiro, chegando aos mais altos escalões da República. Internações, intubações, dores lancinantes, cadáveres em carros frigorífico, covas coletivas, sequelas de todo tipo, tomaram o noticiário, mas não entraram nos amplos salões do Planalto - e de muitos de seus equivalentes locais. Tivemos, tragicamente, o pior governo do mundo contemporâneo no pior momento de nossa história administrativa recente. Com base em provas documentais e depoimentos, a CPI mostra que o governo não foi só inepto, é ganancioso, favorecendo a disseminação da epidemia e o enriquecimento de empresários e políticos aliados. Despejando toda sua ignorância, despreparo, ideologia, ambição, e misturando jalecos com fardas, transformou a política de saúde pública em um genocídio.
Quanto mais avançamos, mais desafios tem a comissão para que a sociedade, num novo momento, por meio de seus mecanismos legais, dê prosseguimento ao que não será possível concluir agora. Por seu tempo de vida, e por nossas próprias limitações, a CPI não conseguirá investigar todos os âmbitos de corrupção. Não acabaremos com a escuridão. Mas certamente teremos jogado muita luz sobre muitas realidades ocultas. E aberto espaços novos para o exercício da cidadania. Nossos frutos estarão espalhados por quem sabe, outras CPIs - spin-offs depois da nossa última temporada - investigações do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Polícia Federal. E, especialmente, em nossas consciências, valores e práticas.
__Esse texto é uma homenagem póstuma a um amigo que, no meio da pandemia, perdemos para a Covid. E que, presente em nossas vidas, nos animou a enfrentar o que enfrentamos. Dor e saudade, Senador Major Olímpio. Um Brasil melhor vai nascer, muito graças a seu espírito.

*Alessandro Vieira é senador da República (Cidadania-SE). Integra o Movimento Acredito e o RenovaBR. Pautou sua campanha política no combate à corrupção e é um dos senadores que mais se destacaram nas sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.
RPD || Octavio Amorim Neto: Bolsonaro, militares e democracia
Governo Bolsonaro tem nos militares um de seus pilares, constituindo base de apoio e instrumento de intimidação
Para compreender as relações entre Bolsonaro, os militares e a democracia, é necessário identificar a fórmula governativa do atual presidente.
Trata-se de uma presidência em minoria no Congresso e na população e que governa para essa minoria, excluindo de forma enfática e hostil amplos setores da sociedade. Além disso, a ênfase das políticas públicas implementadas pela gestão Bolsonaro está na distribuição de bens privados para a referida minoria, em detrimento da distribuição de bens públicos. O melhor exemplo da falta de interesse por bens públicos encontra-se no descaso com a saúde e a educação.
Todavia, a formação de um governo minoritário hostil às maiorias e pouco afeito à provisão de bens públicos não é suficiente para resolver a equação de governabilidade de um presidente numa democracia, pois tal governo seria frágil e vulnerável demais, podendo rapidamente ser removido. A equação se resolve com a mobilização de seus apoiadores radicais contra as instituições e a ameaça frequente de uso das Forças Armadas – “o meu Exército” – contra opositores.
Portanto, sob Bolsonaro, os militares se tornaram um dos pilares do governo, uma vez que constitutem base de apoio, fonte de quadros administrativos e instrumento de intimidação da oposição e das instituições de controle.
Ao longo de toda a presidência de Bolsonaro, a probabilidade de ameaça de uso dos militares para intimidar opositores tem sido uma função da fraqueza do chefe de Estado. Quanto mais fraco no Congresso ou na opinião pública, mais a ameaça é feita.
O auge das tentativas de vergar as instituições com a ameaça do uso da força se deu no dia 10/08/2021, quando houve, por ordem do presidente, desfile de veículos de combate em Brasília – justamente no dia em que o Congresso votaria – e derrotaria – o principal item do programa da extrema-direita bolsonarista, a proposta de emenda constitucional que restabelecia o voto impresso.
Um dos aspectos mais impressionantes do referido desfile foi o fato de os veículos de combate pertencerem à Marinha. Esta era considerada, até então, a Força mais distante politicamente de Bolsonaro. Assim, com o desfile de 10 de agosto, o presidente completou o trabalho de entrelaçamento da imagem das três Forças a seu governo, uma vez que a Aeronáutica – sobretudo a partir da posse, em março de 2021, do Brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior como comandante da FAB – também passara a ser vista como outra Força intimamente ligada ao bolsonarismo.
O Exército é e sempre foi o principal esteio político de Bolsonaro dentro das Forças Armadas. Sua imagem está indelevelmente ligada à do presidente – trata-se, afinal, do “meu exército”, nas palavras do chefe de Estado –, não obstante os esforços envidados pelo ex-comandante, General Edson Pujol, e pelo atual, General Paulo Sérgio de Oliveira, de separar a caserna da política.
Apesar do entrelaçamento, o Alto Comando das três Forças deve estar insatisfeito com a confusa e ambígua situação em que se encontram, apesar de todos os benefícios materiais que lhes trouxe o atual governo. Afinal de contas, os comandantes da Marinha, Exército e Força Aérea têm rechaçado a ideia de golpe de Estado.
Ou seja, as Forças Armadas brasileiras estão caminhando sobre uma corda bamba esticada entre a rejeição a aventuras golpistas e a lealdade que devem a Bolsonaro como comandante-em-chefe. E a corda está trepidando cada vez mais, ao sabor das ameaças feitas pelo presidente. A situação vai continuar assim até o final do atual governo.
As Forças Armadas precisam de ajuda civil para descerem da corda – e do lado da democracia. Por isso, a aprovação da emenda à Constituição proibindo militares do serviço ativo de exercerem cargos civis, proposta pela Deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), é passo fundamental, uma vez que eliminará um dos principais meios pelos quais Bolsonaro logrou confundir ativa com reserva e associar os quartéis à sua presidência.

Octavio Amorim Neto é professor Titular da EBAPE/FGV