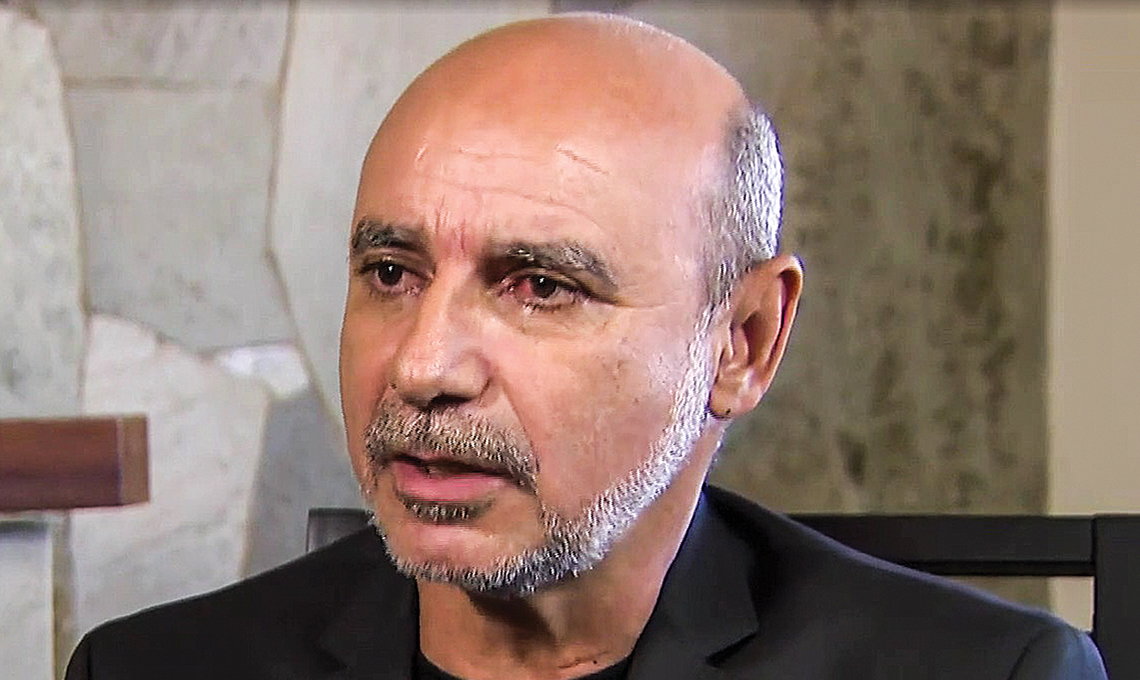Fundação Astrojildo Pereira
Cineclube Vladimir Carvalho indica filmes sobre racismo e violência policial
Unidade mantida pela FAP pretende colaborar com combate ao racismo, que voltou a ser assunto de polêmica nesta semana
Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP
O Cineclube Vladimir Carvalho, mantido pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), em Brasília, continua a indicar filmes sobre racismo e violência policial, no mês de agosto. No Brasil, a luta contra esse crime foi envolvida em uma polêmica após a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz publicar um artigo de opinião na Folha de S.Paulo, criticando a cantora Beyoncé pelo novo álbum "Black is King", lançado na última sexta-feira (31).
A historiadora foi chamada de racista pelo movimento negro e nas redes sociais por dizer, no título, que Beyoncé erra ao "glamourizar a negritude" no novo álbum e "precisa entender" a fazer uma luta antirracista que não envolva "pompa" e "brilho". Depois das críticas, Lilia pediu desculpas e disse que a Folha também deveria assumir a responsabilidade por ser autora do título e do subtítulo.
Negros e negras são 56% da população brasileira, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mas são minoria em posições de liderança no mercado de trabalho e entre representantes políticos. Por outro lado, de acordo com o Atlas da Violência, são 75% das vítimas de homicídio, inclusive por parte da polícia, e compõem mais de 60% da população carcerária.
A seguir, veja sugestões de filmes sobre racismo e violência policial:

MISSISSIPI EM CHAMAS
SINOPSE:
Mississipi, 1964. Rupert Anderson (Gene Hackman) e Alan Ward (Willem Dafoe) são dois agentes do FBI que estão investigando a morte de três militantes dos direitos civis. As vítimas viviam em uma pequena cidade onde a segregação divide a população em brancos e pretos e a violência contra os negros é uma tônica constante.
Ano: 1989
Duração: 2h 08min / Drama, Suspense
Direção: Alan Parker
Elenco: Willem Dafoe, Gene Hackman, Frances McDormand
Nacionalidade: EUA

HISTÓRIAS CRUZADAS
SINOPSE:
Jackson, pequena cidade no estado do Mississipi, anos 60. Skeeter (Emma Stone) é uma garota da sociedade que retorna determinada a se tornar escritora. Ela começa a entrevistar as mulheres negras da cidade, que deixaram suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca, da qual a própria Skeeter faz parte. Aibileen Clark (Viola Davis), a emprega da melhor amiga de Skeeter, é a primeira a conceder uma entrevista, o que desagrada a sociedade como um todo. Apesar das críticas, Skeeter e Aibileen continuam trabalhando juntas e, aos poucos, conseguem novas adesões.
Data: 2012
Duração: 2h 26min / Drama
Direção: Tate Taylor
Elenco: Emma Stone, Jessica, Chastain, Viola Davis
Nacionalidades: EUA, Índia, Emirados Árabes Unidos

O MENINO QUE DESCOBRIU O VENTO
SINOPSE:
Sempre esforçando-se para adquirir conhecimentos cada vez mais diversificados, um jovem de Malawi se cansa de assistir todos os colegas de seu vilarejo passando por dificuldades e começa a desenvolver uma inovadora turbina de vento.
Data: 2019
Duração: 1h 53min / Drama
Direção: Chiwetel Ejiofor
Elenco: Maxwell Simba, Chiwetel Ejiofor, Aïssa Maïga
Nacionalidades EUA, Malawi, França, Reino Unido

RAY
SINOPSE:
Em 1932 Ray Charles (Jamie Foxx) nasce em Albany, uma pequena e pobre cidade do estado da Georgia. Ray fica cego aos 7 anos, logo após testemunhar a morte acidental de seu irmão mais novo. Inspirado por uma dedicada mãe independente, que insiste que ele deve fazer seu próprio caminho no mundo, Ray encontrou seu dom em um teclado de piano. Fazendo um circuito através do sudeste, ele ganha reputação. Sua fama explode mundialmente quando, pioneiramente, incorpora o gospel , country e jazz, gerando um estilo inimitável. Ao revolucionar o modo como as pessoas apreciam música, ele simultaneamente luta conta a segregação racial em casas noturnas que o lançaram como artista. Mas sua vida não está marcada só por conquistas, pois sua vida pessoal e profissional é afetada ao se tornar um viciado em heroína.
Data: 2005
Durção: 2h 32min / Drama, Musical
Direção: Taylor Hackford
Elenco: Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King
Nacionalidade: EUA

MALCOLM X
SINOPSE:
Biografia do famoso líder afro-americano (Denzel Washington) que teve o pai, um pastor, assassinado pela Klu Klux Klan e sua mãe internada por insanidade. Ele foi um malandro de rua e enquanto esteve preso descobriu o islamismo. Malcolm faz sua conversão religiosa como um discípulo messiânico de Elijah Mohammed (Al Freeman Jr.). Ele se torna um fervoroso orador do movimento e se casa com Betty Shabazz (Angela Bassett). Malcolm X ora uma doutrina de ódio contra o homem branco até que, anos mais tarde, quando fez uma peregrinação à Meca abranda suas convicções. Foi nesta época que se converteu ao original islamismo e se tornou um "Sunni Muslim", mudando o nome para El-Hajj Malik Al-Shabazz, mas o esforço de quebrar o rígido dogma da Nação Islã teve trágicos resultados.
Data: 1993
Duração: 3h 21min / Biografia,
Drama, Histórico
Direção: Spike Lee
Elenco: Nelson Mandela, Denzel Washington, Albert Hall
Nacionalidade EUA

SELMA - UMA LUTA PELA IGUALDADE
SINOPSE:
Cinebiografia do pastor protestante e ativista social Martin Luther King, Jr (David Oyelowo), que acompanha as históricas marchas realizadas por ele e manifestantes pacifistas em 1965, entre a cidade de Selma, no interior do Alabama, até a capital do estado, Montgomery, em busca de direitos eleitorais iguais para a comunidade afro-americana.
Data: 2015
Duração: 2h 08min /
Drama, Histórico, Biografia
Direção: Ava DuVernay
Elenco: David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo
Nacionalidades Reino Unido, EUA

ÔNIBUS 174
SINOPSE:
Uma investigação cuidadosa, baseada em imagens de arquivo, entrevistas e documentos oficiais, sobre o seqüestro de um ônibus em plena zona sul do Rio de Janeiro. O incidente, que aconteceu em 12 de junho de 2000, foi filmado e transmitido ao vivo por quatro horas, paralisando o país. No filme a história do seqüestro é contada paralelamente à história de vida do seqüestrador, intercalando imagens da ocorrência policial feitas pela televisão. É revelado como um típico menino de rua carioca transforma-se em bandido e as duas narrativas dialogam, formando um discurso que transcende a ambas e mostrando ao espectador porque o Brasil é um país é tão violento.
Data: 2002
Duração: 2h 13min / Documentário
Direção: José Padilha, Felipe Lacerda
Nacionalidade Brasil
Leia mais:
Racismo: Cineclube Vladimir Carvalho indica filmes para ver após manifestações
Auto da Compadecida é discutido em encontro virtual da Biblioteca Salomão Malina
Obra será debatida em sessão do Clube de Leitura Eneida de Moraes, que terá transmissão ao vivo
Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP
A Biblioteca Salomão Malina vai discutir, no dia 3 de agosto, das 18h30 às 20h, o livro Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, durante encontro virtual do Clube de Leitura Eneida de Moraes. O evento online terá transmissão ao vivo na página da biblioteca no Facebook. A retransmissão em tempo real será realizada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), em sua página na rede social e em seu site.
Empréstimo do livro pode ser solicitado à Biblioteca Salomão Malina, localizada em Brasília. Como está fechada ao público durante a pandemia, a unidade disponibiliza serviço de empréstimo delivery gratuito, para moradores da capital federal e região, por meio do seu Whatsapp oficial (61 984015561). Além disso, o arquivo do livro em PDF no catálogo virtual da biblioteca.
Assista ao vídeo!
A peça teatral Auto da Compadecida foi escrita por Ariano Suassuna, em 1955. É um auto por ser uma peça de apenas um ato e que traduz a tradição do teatro medieval português ao contexto social e histórico do nordeste brasileiro. A peça retoma elementos do teatro popular, contidos nos autos medievais, e da literatura de cordel para exaltar os humildes e satirizar os poderosos e os religiosos que se preocupam apenas com questões materiais.
O enredo da peça gira em torno das aventuras de João Grilo, que protagoniza os acontecimentos de forma absolutamente imaginosa, e seu companheiro Chicó. Ambos se envolvem no caso do cachorro da mulher do padeiro, comprometendo um número considerável de personagens que, em meio às confusões armadas pelas mentiras de João Grilo, vão se enredando numa trama que culmina com o julgamento de algumas delas diante de Jesus, da Virgem Maria e do Diabo.
Ao resgatar essa tradição teatral medieval, Ariano Suassuna realiza uma leitura da moral católica muito ajustada aos tipos que cometem gestos transgressores, conforme analisa a coordenadora da biblioteca, Thalyta Jubé. “Outra linha de força de Auto da Compadecida é a presença do anti-herói ou herói quixotesco, uma espécie de personagem folclórica que vive ao sabor do acaso e das aventuras”, afirma.
João Grilo é o típico anti-herói, que se envolve com as mais diversas personagens e se compromete com as próprias mentiras. No entanto, conforme observa Thalyta, é através dele que o autor propõe um exame dos valores sociais e da moral estabelecida. Em outras palavras, Suassuna pretende refletir sobre a fragilidade e a suscetibilidade de nossas convicções.
A religiosidade, a fixação da cultura popular, a presença do anti-herói e a linguagem simples bem articulada nas falas das personagens são elementos que merecem um olhar atento, pois sua combinação constitui a arquitetura e a lógica do Auto da Compadecida.
Ariano Suassuna traz à tona reflexões de ordem moral por meio das quais problematiza as fraquezas humanas, relativizando valores e convicções. “Não se pode ignorar a linha marcante do humor que percorre toda a estrutura da peça, caricaturizando não apenas as personagens, mas também as circunstâncias em que elas se envolvem”, diz Thalyta.
Leia também:
Livro de Machado de Assis é discutido em webinar da Biblioteca Salomão Malina
Livro Senhor das Moscas, que aborda poder e violência, é discutido em webinar
Biblioteca Salomão Malina oferece empréstimo de livro em casa, de forma gratuita
‘Diante do futuro sombrio, cultura deve oferecer respostas’, diz Martin Cezar Feijó
Em artigo publicado na revista Política Democrática Online, historiador diz que pandemia se amplia nas consequências econômicas, sociais, políticas e culturais
Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP
Em meio à situação caótica e ao império do medo durante a pandemia do coronavírus, “o futuro se demonstra sombrio, mas a cultura pode, e deve, oferecer respostas”. A análise é do historiador Martin Cezar Feijó, em artigo que publicou na revista Política Democrática Online de julho, produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), sediada em Brasília e que disponibiliza todas as edições, para acesso gratuito, em seu site.
Clique aqui e acesse a revista Política Democrática Online de julho!
Feijó ressalta, no texto, que entende a cultura como a “expressão sensível”, por meio das artes, aos impasses da humanidade, pois, segundo ele, é claro que respostas sempre foram encontradas em quadros até mais sombrios do que o atual. “Não será diferente agora, apesar de todos os percalços que já existiam no plano oficial para o desmantelamento do antigo Ministério da Cultura, mas também do Ministério da Educação. Que período insano”, afirma.
Em sua análise, o historiador diz que seu texto não se resume ao quadro sanitário, do qual, conforme ressalta, cientistas competentes estão cuidando em várias partes do mundo sob a supervisão da OMS (Organização Mundial de Saúde). “A questão se amplia nas consequências econômicas, sociais, políticas e culturais, objetivo desta reflexão”, esclarece.
O mundo da cultura foi totalmente abalado pelos efeitos da pandemia: cinemas, teatros e museus foram fechados; artistas, músicos e bailarinos estão desempregados. “Com as quarentenas, cidades ficaram vazias (Living in a ghost town, Rolling Stones), tudo parecendo formar cenário das maiores e mais tenebrosas distopias”, observa.
“Enquanto equipes médicas travavam batalhas contra um vírus invisível em unidades de terapias intensivas, sendo contaminados e, muitos deles, mortos; jornalistas buscavam informar enfrentando não só os vírus que se espalhavam, mas também a grande quantidade de fake news que tumultuava o ambiente de guerra”, lamenta o autor.
Leia mais:
PEC do Teto não sufoca crescimento da economia, diz Benito Salomão
Público do Cine Drive-in de Brasília triplicou durante pandemia do coronavírus
‘Fabrício Queiroz virou fantasma que assombra Bolsonaros’, afirma Andrei Meireles
Mudez de Bolsonaro é recuo tático para conter impeachment, diz Paulo Baía
Brasileiros estão mais vulneráveis à depressão e ansiedade na pandemia
Intolerância e autoritarismo levam o país para trás, afirma Marco Aurélio Nogueira
Falta de liderança é um dos ‘fatores muito graves’ para combate à Covid-19, diz Luiz Antonio Santini
‘Educação muda vida das pessoas e transforma sociedade’, diz Sérgio C. Buarque
Pesquisas apontam cansaço da opinião pública com Trump, diz José Vicente Pimentel
Política Democrática Online: No Silêncio, Bolsonaro costura sua base parlamentar
Falta de liderança na pandemia e depressão são destaques da Política Democrática Online
Confira aqui todas as edições da revista Política Democrática Online
PEC do Teto não sufoca crescimento da economia, diz Benito Salomão
Em artigo publicado na revista Política Democrática Online de julho, economista chama de falaciosas o que chama de acusações contra a proposta
Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP
Em meio à proliferação dos casos confirmados de coronavírus ao longo do território nacional, o país tem de lidar com uma segunda pandemia, a de ideias erradas, analisa o economista Benito Salomão.” Dentre as muitas propostas estapafúrdias que vêm à baila, surge a ideia oportunista e ideológica de revogar o Novo Regime Fiscal (NRF)”, observa ele, em artigo que publicou na revista Política Democrática Online de julho.
Clique aqui e acesse a revista Política Democrática Online de julho!
A publicação é produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), sediada em Brasília e que disponibiliza todas as edições, gratuitamente, em seu site. “Como toda falácia, ideias erradas portam maquiagem e alguns argumentos acerca dos efeitos da Emenda Constitucional 95, que, embora pareçam verdadeiros, não resistem a uma simples consulta aos dados”, analisa o economista.
A primeira acusação falaciosa acerca da PEC do Teto, segundo Salomão, é de sufocar os investimentos públicos e, portanto, a capacidade de crescimento da economia. “Ambos os argumentos são falsos”, assevera. “Os limites para crescimento do gasto público do NRF entraram em vigor apenas em 2017; os investimentos públicos do governo federal vinham em queda desde meados de 2013”, continua.
Além disso, segundo o artigo do economista publicado na revista Política Democrática Online, grande parte dos investimentos públicos anteriores até então eram financiados via pedaladas fiscais, ou seja, o Tesouro utilizava temporariamente os bancos públicos para pagar obras do PAC e do Minha Casa Minha Vida. “É falso que o limite imposto ao crescimento do gasto público tenha prejudicado as despesas com investimentos”, afirma o economista.
De acordo com Salomão, o grande inibidor do investimento no Brasil é o crescimento inercial do componente permanente do gasto público (previdência e salários). “Sobre isto, a PEC tem exercido papel interessante. Primeiro, porque, após a incorporação do NRF, se contava com a aprovação de uma reforma da Previdência que atenuasse a tendência de crescimento do gasto previdenciário”, disse.
O economista pondera que o segundo ponto é que a PEC impõe uma dinâmica ao gasto com pessoal da União, distinta do verificado ao longo das últimas décadas. “Sob os limites do NRF, a elite da burocracia passa a competir com as demais rubricas do orçamento, de forma que reajustes salariais devem necessariamente ser compensados por quedas em outras áreas, o que aumenta o custo político dos reajustes concedidos”, analisa.
Leia mais:
Público do Cine Drive-in de Brasília triplicou durante pandemia do coronavírus
‘Fabrício Queiroz virou fantasma que assombra Bolsonaros’, afirma Andrei Meireles
Mudez de Bolsonaro é recuo tático para conter impeachment, diz Paulo Baía
Brasileiros estão mais vulneráveis à depressão e ansiedade na pandemia
Intolerância e autoritarismo levam o país para trás, afirma Marco Aurélio Nogueira
Falta de liderança é um dos ‘fatores muito graves’ para combate à Covid-19, diz Luiz Antonio Santini
‘Educação muda vida das pessoas e transforma sociedade’, diz Sérgio C. Buarque
Pesquisas apontam cansaço da opinião pública com Trump, diz José Vicente Pimentel
Política Democrática Online: No Silêncio, Bolsonaro costura sua base parlamentar
Falta de liderança na pandemia e depressão são destaques da Política Democrática Online
Confira aqui todas as edições da revista Política Democrática Online
Público do Cine Drive-in de Brasília triplicou durante pandemia do coronavírus
No Brasil, os drive-ins vêm ganhando cada vez mais espaço, a maioria em caráter provisório, analisa Lilia Lustosa, na revista Política Democrática Online
Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP
A pandemia do coronavírus Covid-19 tem ressuscitado o cinema drive-in em várias regiões do Brasil e do mundo. Em Brasília, o público triplicou depois da reabertura. “Durante a pandemia, o sucesso do drive-in já é fato”, afirma a crítica de cinema Lilia Lustosa, em artigo que publicou na revista Política Democrática Online de julho.
Clique aqui e acesse a revista Política Democrática Online de julho!
Desde que as cidades começaram a entrar em quarentena, a modalidade de cinema nos carros tornou-se uma das poucas opções para os que desejavam assistir a um filme em tela grande ou de forma coletiva, conforme observa Lilia no artigo da revista. A publicação é produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), sediada em Brasília e que disponibiliza todas as edições, gratuitamente, em seu site.
O Cine Drive-in de Brasília goza de uma situação privilegiada. Depois de quase ter sido fechado em 2014, foi declarado patrimônio cultural e material do Distrito Federal em 2017, de acordo com a lei n° 6.055, proposta pela deputada distrital Luzia de Paula. O espaço, que conta com uma tela de 312m² (a maior do Brasil), ficou fechado por 40 dias no início da pandemia, mas retomou às atividades no fim de abril, com um público cada vez maior.
Segundo a proprietária, Marta Fagundes, o público triplicou depois da reabertura, apesar das adaptações feitas para se adequar aos protocolos de segurança que a época exige: redução de 50% da capacidade (de 400 para 200 carros), distanciamento de 1,5m entre os veículos, compras dos ingressos apenas online, uso dos banheiros por uma pessoa a cada vez, uso obrigatório de máscara e fechamento da lanchonete.
No Brasil, os drive-ins vêm ganhando cada vez mais espaço, a maioria em caráter provisório, implementados por empresas de organização de eventos, muitas vezes em parceria com os próprios exibidores, que veem nesta velha fórmula uma solução temporária para sua sobrevivência.
Nos Estados Unidos, onde surgiu, mesmo durante a fase de isolamento, dos cerca de 300 drive-ins ainda em funcionamento, 25 continuaram abertos, segundo a Drive-in Theatre Owners Association. “E agora, com a retomada gradual das atividades em vários Estados, outros tantos se somaram à lista, como em vários países do mundo”, diz Lilia.
Leia mais:
‘Fabrício Queiroz virou fantasma que assombra Bolsonaros’, afirma Andrei Meireles
Mudez de Bolsonaro é recuo tático para conter impeachment, diz Paulo Baía
Brasileiros estão mais vulneráveis à depressão e ansiedade na pandemia
Intolerância e autoritarismo levam o país para trás, afirma Marco Aurélio Nogueira
Falta de liderança é um dos ‘fatores muito graves’ para combate à Covid-19, diz Luiz Antonio Santini
‘Educação muda vida das pessoas e transforma sociedade’, diz Sérgio C. Buarque
Pesquisas apontam cansaço da opinião pública com Trump, diz José Vicente Pimentel
Política Democrática Online: No Silêncio, Bolsonaro costura sua base parlamentar
Falta de liderança na pandemia e depressão são destaques da Política Democrática Online
Confira aqui todas as edições da revista Política Democrática Online
‘Fabrício Queiroz virou fantasma que assombra Bolsonaros’, afirma Andrei Meireles
Jornalista avalia repercussão da prisão domiciliar e do histórico de Queiroz na vida do presidente e de seus filhos, em artigo que publicou na revista Política Democrática Online
Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP
“Fabrício Queiroz virou fantasma que assombra os Bolsonaros”, a afirmação é do jornalista Andrei Meireles, em artigo que publicou na revista Política Democrática Online de julho. “Ele sempre foi uma espécie de faz tudo para a família presidencial, cuidava desde a arrecadação à segurança do clã”, diz, em um trecho.
Clique aqui e acesse a revista Política Democrática Online de julho!
Queiroz montou e operou o esquema das rachadinhas, devolução de parte dos salários por funcionários remunerados com dinheiro público, nos gabinetes parlamentares dos Bolsonaros. “O de maior escala foi no gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro em seus mandatos como deputado estadual, no Rio de Janeiro”, lembra Meireles. A publicação é produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), sediada em Brasília e que disponibiliza todas as edições, gratuitamente, em seu site.
A preocupação no entorno dos Bolsonaros, após a decisão do ministro Noronha, é o advogado Frederick Wassef. “Ele se sente credor da família e recusa todos os conselhos para submergir. Vaidoso, adora holofotes. Em suas seguidas entrevistas, vem apresentando teses delirantes sobre a morte do capitão miliciano Adriano Nóbrega e as ameaças a Fabrício Queiroz ‘por forças ocultas’”, escreve Meireles.
O que mais incomoda o governo, de acordo com o artigo publicado na revista Política Democrática Online, é sua dificuldade em dar uma versão crível sobre a sua atuação, em seu papel de “anjo” para os Bolsonaros. “Ele não consegue explicar, por exemplo, quem lhe autorizou a comandar a operação clandestina para esconder Queiroz em suas casas em São Paulo”, afirma.
Outra sombra do passado que acua Bolsonaro, segundo Meireles, é o avanço em diversas frentes sobre o exército de robôs que ajudou a elegê-lo e faz guerra permanente contra todos os seus adversários. “Nos inquéritos e na CPI sobre fake news em Brasília, e nas medidas profiláticas tomadas pelas redes sociais Facebook e Instagram, a tropa montada pelo filho Carlos Bolsonaro, o 02, está sob intenso tiroteio”, observa o autor.
Leia mais:
Mudez de Bolsonaro é recuo tático para conter impeachment, diz Paulo Baía
Brasileiros estão mais vulneráveis à depressão e ansiedade na pandemia
Intolerância e autoritarismo levam o país para trás, afirma Marco Aurélio Nogueira
Falta de liderança é um dos ‘fatores muito graves’ para combate à Covid-19, diz Luiz Antonio Santini
‘Educação muda vida das pessoas e transforma sociedade’, diz Sérgio C. Buarque
Pesquisas apontam cansaço da opinião pública com Trump, diz José Vicente Pimentel
Política Democrática Online: No Silêncio, Bolsonaro costura sua base parlamentar
Falta de liderança na pandemia e depressão são destaques da Política Democrática Online
Confira aqui todas as edições da revista Política Democrática Online
Mudez de Bolsonaro é recuo tático para conter impeachment, diz Paulo Baía
Cientista político avalia estratégia do presidente diante da ofensiva do STF, em artigo publicado na revista Política Democrática Online de julho
Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP
A mudez do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nos últimos dias é apenas um recuo tático para conter um possível processo de impeachment e a ofensiva do STF no inquérito das fake news contra seus apoiadores, avalia o sociólogo e cientista político Paulo Baía, em artigo publicado na revista Política Democrática Online de julho. “Não pensem que Bolsonaro está contido em sua saga contra a democracia e os valores iluministas, como demonstra em sua fala mansa ao comunicar ter sido contaminado com o coronavírus e estar se tratando com cloroquina e hidroxicloroquina”, disse.
Clique aqui e acesse a revista Política Democrática Online de julho!
A publicação é produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), sediada em Brasília e que disponibiliza todas as edições, gratuitamente, em seu site, além de fazer ampla divulgação nas redes sociais. Baía avalia que Bolsonaro permanece com sua “atitude ambígua” ao insistir que a pandemia é uma chuva inofensiva, sem mencionar os milhares de brasileiros mortos, que a lógica da imunidade de rebanho trata como cadáveres baratos.
No artigo publicado na revista Política Democrática Online, o sociólogo lembra que, desde o início do governo, em janeiro de 2019, as ruas, até então monopolizadas por bolsonaristas em rituais de enfrentamento ao Estado Democrático de Direito, ganharam novos protagonistas reverberando o Fora Bolsonaro. São os aliados aos panelaços quase diários em centenas de cidades espalhadas pelo país.
De acordo com o cientista político, os efeitos destruidores da crise sanitária da Covid-19 sobre o sistema produtivo e gerador de renda no Brasil somaram-se à ineficiência de uma política econômica essencialmente rentista conduzida por Paulo Guedes e toda a sua equipe. “Os tempos do coronavírus descortinaram uma realidade para a qual Paulo Guedes não é afeito, desconhece o que tem de ser feito, mostrando-se inapto”, afirma.
Leia mais:
Brasileiros estão mais vulneráveis à depressão e ansiedade na pandemia
Intolerância e autoritarismo levam o país para trás, afirma Marco Aurélio Nogueira
Falta de liderança é um dos ‘fatores muito graves’ para combate à Covid-19, diz Luiz Antonio Santini
‘Educação muda vida das pessoas e transforma sociedade’, diz Sérgio C. Buarque
Pesquisas apontam cansaço da opinião pública com Trump, diz José Vicente Pimentel
Política Democrática Online: No Silêncio, Bolsonaro costura sua base parlamentar
Falta de liderança na pandemia e depressão são destaques da Política Democrática Online
Confira aqui todas as edições da revista Política Democrática Online
Brasileiros estão mais vulneráveis à depressão e ansiedade na pandemia
Reportagem especial da revista Política Democrática Online de julho conta casos de pessoas que buscaram ajuda para lidar com o período de isolamento social
Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP
A servidora pública Eliana Ramagem (50 anos) estava prestes a parar de tomar remédio para ansiedade, mas teve de continuar por causa da pandemia do coronavírus. De repente, o empresário Alexander Loureiro (47) viu sua renda zerar. “Tomo ansiolítico, senão a cabeça dá uma pirada, estava muito acelerada. Não dormia, ficava preocupado. Chegava às 5 ou 6 horas da manhã, eu ainda estava acordado”, conta ele, em reportagem especial da revista Política Democrática Online de julho.
Clique aqui e acesse a revista Política Democrática Online de julho!
As histórias de Eliana e Loureiro são contadas na reportagem especial, que também mostra que a OMS (Organização Mundial da Saúde) estima aumento de até três vezes dos casos de depressão e ansiedade em países mais atingidos pela pandemia. A publicação é produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), sediada em Brasília e que disponibiliza todas as edições, gratuitamente, em seu site, além de fazer ampla divulgação nas redes sociais.
Já uma pesquisa da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), divulgada em maio, mostra que o número de casos de ansiedade mais que dobrou durante a pandemia no país, ao passo que os de depressão tiveram aumento de 90%.
A reportagem da revista Política Democrática Online conta que os impactos da pandemia sobre a saúde mental são ainda maiores e mais catastróficos entre as pessoas de baixa renda. Sem atendimento de saúde adequado, muitas ficaram desempregadas e não têm o básico para comer em casa. Para outra parte, a saída que resta é romper o isolamento social e se misturar a outras pessoas para ir trabalhar em ônibus lotados.
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou, no final do mês de junho, que a pandemia destruiu 7,8 milhões de postos de trabalho no Brasil até maio. Menos da metade das pessoas em idade para trabalhar está empregada, o que nunca havia sido registrado desde 2012.
Outro alerta feito pela reportagem é de que o cuidado com a saúde da mente deve ser contínuo, não só durante a pandemia. O alerta é de um estudo sobre os efeitos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), provocada pelo corona vírus em 2002 e 2003, na Ásia, realizado pela revista especializada East Asian Arch Psychiatry. A pesquisa mostrou que, depois de quatro anos, 42% das pessoas que sobreviveram à doença haviam desenvolvido algum transtorno mental. A maioria apresentou transtorno de estresse pós-traumático e, em segundo lugar, depressão.
Leia mais:
Intolerância e autoritarismo levam o país para trás, afirma Marco Aurélio Nogueira
Falta de liderança é um dos ‘fatores muito graves’ para combate à Covid-19, diz Luiz Antonio Santini
‘Educação muda vida das pessoas e transforma sociedade’, diz Sérgio C. Buarque
Pesquisas apontam cansaço da opinião pública com Trump, diz José Vicente Pimentel
Política Democrática Online: No Silêncio, Bolsonaro costura sua base parlamentar
Falta de liderança na pandemia e depressão são destaques da Política Democrática Online
Confira aqui todas as edições da revista Política Democrática Online
FAP fortalece sua função social com série de eventos e cursos online durante pandemia
Confira as ações realizadas pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP) durante o primeiro semestre de 2020
Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP
No primeiro semestre de 2020, a FAP (Fundação Astrojildo Pereira) realizou eventos presenciais e, em março, passou a promover e a divulgar uma série de lives e webinars por causa do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19. Apesar da crise sanitária global, a entidade manteve a sua função social e seguiu com sua visão de ser referência para a cultura e a política democrática no Brasil.
Com os eventos online, a FAP fortalece a sua diretriz de realizar ações no mundo digital, como passou a fazer com os cursos de formação política Jornada da Cidadania e Jornada, realizado de fevereiro a junho deste ano, e Jornada da Vitória, iniciado no mês passado e que deve seguir até o mês de setembro.
Assim, a fundação continua promovendo o estudo e a reflexão crítica da sociedade, de maneira a construir referências teóricas e culturais relevantes para a defesa e a consolidação do Estado Democrático de Direito.Todas as ações da FAP são sustentadas por valores baseados na democracia, transparência, sustentabilidade, solidariedade, reformismo, ética, equidade e cosmopolitismo.
Clique aqui ou na imagem abaixo para conferir a lista de ações da entidade realizadas de janeiro a julho de 2020.

Desafios do empreendedorismo feminino é tema de live da Biblioteca Salomão Malina
Evento online tem participação da jornalista Jordana Saldanha e mediação da bibliotecária Thalyta Jubé
Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP
A Biblioteca Salomão Malina realiza, no dia 29 de julho, das 19h às 20h30, a live sobre desafios do empreendedorismo feminino na crise, com participação da jornalista Jordana Saldanha e mediação da bibliotecária Thalyta Jubé. O evento online terá transmissão ao vivo na página da biblioteca no Facebook, com retransmissão, em tempo real, no site e na página da FAP (Fundação Astrojildo Pereira) na rede social.
Assista ao vídeo!
A live deve abordar como a equidade de gênero no mercado de trabalho é uma questão ainda não resolvida no contexto brasileiro. “A mulher sofre desvantagens no momento de conseguir emprego ou, quando está empregada, chega a receber menos que um homem que o ocupa o mesmo cargo”, ressalta Thalyta, que é coordenadora da biblioteca.
Essa situação pode piorar ainda mais no contexto pós-pandemia, considerando a grave crise econômica pela qual passa o país e que já a problemática agora se agrava diante da situação econômica do país pós-pandemia.
O Brasil registrou o nível mais baixo de ocupação da série histórica no trimestre encerrado em maio, quando a pandemia de coronavírus deixou 12,7 milhões de desempregados e fez a taxa de desemprego disparar. Os dados são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
“O intuito do bate-papo com uma mulher empreendedora e multitarefas, como Jordana, é mostrar a internautas possíveis soluções e práticas para amenizar o desafio de muitas mulheres e mães que perderam seus empregos e que hoje têm dificuldade de encontrar uma opção viável para o sustento de suas famílias”, explica Thalyta.
Jordana Saldanha é jornalista, empreendedora, mãe, palestrante, professora e foi campeã mundial de kung fu. Recebeu o Prêmio MPE Sebrae (categoria gestão industrial) em 2015. É Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas.
Ela também foi campeã nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios - Sebrae, em 2016. Atua voluntariamente como coordenadora de comunicação do Grupo Mulheres do Brasil e, atualmente, é chefe da Assessoria de Comunicação Corporativa do Conselho Federal de Química.
Leia mais:
Webinar da Biblioteca Salomão Malina discute desafios para vida nas periferias
Marina Silva e Roberto Freire discutem sustentabilidade em webinar
Especialistas participam de webinar para debater economia após pandemia
“O que virá depois?” é tema de webinar da Biblioteca Salomão Malina
Live de artistas da periferia do DF mostra a importância da poesia em tempo de crise
Livro Senhor das Moscas, que aborda poder e violência, é discutido em webinar
Webinar da Biblioteca Salomão Malina discute desafios para vida nas periferias
Pedro Cláudio Bocayuva, Magda Gomes, Itamar Silva, Claudia Silva, Soninha Francine, Luciano Rezende e Elimar Pinheiro participam do webinar, que terá transmissão ao vivo e aberta ao público em geral no site e nas redes sociais.
Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP
A necessidade de implementação eficaz de políticas públicas nas favelas e periferias do país vai ser discutida no webinar “A vida banal nas comunidades: o que virá depois”, que será realizado pela Biblioteca Salomão Malina, nesta sexta-feira (17), das 18h30 às 20h. O evento online terá transmissão ao vivo e aberta ao público em geral na página da biblioteca no Facebook. A retransmissão será realizada, em tempo real, no site da FAP (Fundação Astrojildo Pereira) e na página da entidade no Facebook.
Assista ao vivo!
A seguir, veja quem são os participantes do webinar:
Pedro Cláudio Bocayuva, professor da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro);
Magda Gomes, líder comunitária da Rocinha;
Itamar Silva, líder comunitário do Morro Dona Marta;
Claudia Silva, líder comunitária de Belém;
Soninha Francine, vereadora de São Paulo
Luciano Rezende, prefeito de Vitória
Elimar Pinheiro, mediador, conselheiro da FAP e professor da UnB (Universidade de Brasília).
A proposta deste webinar é discutir como as políticas públicas devem chegar às comunidades e a forma como as pessoas estão vivendo durante a pandemia do coronavírus, em um contexto de aumento da extrema pobreza. Em abril, o Banco Mundial divulgou que o número de pessoas vivendo com menos de US$ 1,90 por dia no país passou de 9,25 milhões, em 2017, para 9,3 milhões, em 2018.
No país, a renda mensal para essa população, conforme cálculos do Banco Mundial, era de R$ 150, em julho de 2019, período mais recente analisado. Equador, Honduras e Argentina são outros países que tem indicadores preocupantes, mostrando aumento da pobreza extrema. Além disso, no Brasil, pretos, pardos e pobres são os mais afetados pela pandemia no coronavírus. Os dados são da primeira pesquisa mensal da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgada no mês passado.+
Veja outros vídeos da série “O que virá depois?”
Marina Silva e Roberto Freire discutem sustentabilidade em webinar
Especialistas participam de webinar para debater economia após pandemia
“O que virá depois?” é tema de webinar da Biblioteca Salomão Malina
Falta de liderança na pandemia e depressão são destaques da Política Democrática Online
Produzida e editada pela FAP, publicação também critica “metamorfose súbita” de Bolsonaro
Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP
Crítica à falta de liderança e articulação contra a pandemia do coronavírus, aumentos de casos de depressão e ansiedade por causa do isolamento social, imbróglios na corrida presidencial dos Estados Unidos e democracia iliberal são destaques da revista Política Democrática Online do mês de julho. Produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), a publicação mensal foi lançada, nesta sexta-feira (17), e todos os conteúdos podem ser acessados, gratuitamente, no site da entidade.
Clique aqui e acesse a revista Política Democrática Online de julho!
No editorial, a publicação aponta o que chama de “metamorfose súbita do presidente da República”. “Da incitação cotidiana ao confronto, Bolsonaro passou para o silêncio e a costura paciente, nos bastidores, de sua base parlamentar”, afirma. “Foi o bastante para provocar o congelamento, até a reversão, dos movimentos iniciais de convergência das oposições em torno da bandeira do impeachment”, acrescenta.
Já na entrevista exclusiva, o Ex-diretor do Inpe (Instituto Nacional do Câncer) por 10 anos, o médico e pesquisador Luiz Santini, afirma que o governo federal erra na luta contra o novo coronavírus por subutilizar o SUS (Sistema Único de Saúde) e pela ausência de uma liderança nacional, que, segundo ele, implica na falta de confiança do que está sendo implementado.
"Além de transferir a culpa pelos óbitos, a estratégia da guerra implica a normalização do dano colateral. Torna-se aceitável a morte de várias pessoas, a começar pelos profissionais de saúde. Isso precisa ser revisto. A conclusão de ‘vamos todos morrer um dia’ não edifica", critica Santini.
Um dos principais reflexos da pandemia na saúde mental dos brasileiros é apontado na reportagem especial desta edição da revista Política Democrática Online. Pesquisas registram aumento de casos de depressão e ansiedade, que, se não tratados, podem levar ao suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se mata. A reportagem, no entanto, mostra que especialistas apontam saídas.
“Vale a pena a gente virar e viver o dia seguinte. É o dia seguinte que pode surpreender a gente”, diz uma fonte ouvida pela reportagem e que passa pelo momento da pandemia com ajuda de tratamento médico e terapia.
Os internautas também podem conferir a análise do historiador e doutor em Comunicação pela USP (Universidade de São Paulo) sobre democracia iliberal. “Formas de ‘democracia iliberal’ estão espalhadas hoje pelo mundo”, afirma. “Estão vivas no Brasil de Bolsonaro. Governantes eleitos pelo voto usam expedientes democráticos para minar a democracia, corroê-la por dentro, por meios insidiosos, seja como valor, seja como ideia de representação política, governança e organização institucional do Estado”, observa.
Como a pandemia tem ressuscitado o cinema drive-in em várias regiões do Brasil e do mundo é outro assunto abordado na nova edição da revista Política Democrática Online. Na capital federal, conforme analisa a crítica de cinema Lilia Lustosa, o único em funcionamento contínuo foi declarado patrimônio cultural e material do Distrito Federal em 2017.
A publicação também tem outros assuntos de interesse público, atuais e de grande relevância nacional. Dirigida pelo embaixador aposentado André Amado, a revista Política Democrática Online tem o conselho editorial formado por Alberto Aggio, Caetano Araújo, Francisco Almeida, Luiz Sérgio Henriques e Maria Alice Resende de Carvalho.
Veja também:
Confira aqui todas as edições da revista Política Democrática Online