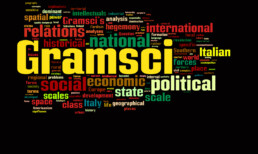fap
Debate na ABI:” Gramsci não pode tirar o País dessa crise”
Neste ano em que se completa 80 anos da morte do pensador italiano Antonio Gramsci, a Fundação Astrojildo Pereira e a Associação Brasileira de Imprensa realizaram a mesa redonda ‘Um pouco de Gramsci nessa crise não faz mal a ninguém’. O debate recebeu dezenas de pessoas no auditório Belizário de Souza, nesta terça-feira, dia 21 de agosto.
A mesa redonda foi aberta pelo presidente da ABI, Domingos Meirelles, e teve como mediador o Conselheiro da entidade e colunista político Luís Carlos Azêdo. O debate contou com a presença do tradutor e ensaísta Luíz Sérgio Henriques, do representante da Fundação Astrogildo Pereira Alberto Aggio e de Andrea Lanzi, do Partido Democrático Italiano.
O objetivo do encontro foi discutir a importância do legado intelectual de Antonio Gramsci, 80 anos depois da sua morte, e a contribuição de sua obra como instrumento de percepção e análise da atual crise brasileira. Ao contrário do pensamento marxista tradicional, que se dedicava ao estudo das relações entre política e economia, ele chamava a atenção para o papel da cultura e dos intelectuais nos processos históricos de transformação social.
Domingos Meirelles destacou as diferentes leituras da obra do pensador italiano e a lucidez com que se debruçou sobre as questões de sua época e observou na mesa debatedora os vários ‘Gramscis’ que apareceram nas diversas leituras que cada teórico fez sobre sua obra.”As temáticas levantadas pelo autor são muito atuais para entender o mundo pós-moderno. O encontro foi muito frutífero já que foi possível ouvir as diversas interpretações do pensamento de Gramsci sob diversas perspectivas”.
O diretor da Fundação Astrogildo Pereira, Alberto Aggio, lembrou que nesse momento em que se recorda os 80 anos de seu falecimento, é importante se pensar a recepção do pensador no Brasil. O ensaísta ressaltou que Gramsci é de leitura difícil já que escrevia em códigos e desde os anos 60 ele é discutido no país.
Para Aggio, toda a dificuldade de entendimento da teoria gramisciana é válida já que seu pensamento é extremamente desafiador. “Existem muitas interpretações a respeito do pensamento gramsciano, mas seguramente as mais aceitas e difundidas dão conta de que nele há uma perspectiva democrática importante e perspectivas culturais novíssimas que o marxismo do século XIX não comportava. Mais do que isso, Gramsci também foi um crítico aos caminhos que tomava a URSS e suas reflexões buscam uma saída em relação a esses descaminhos que, mais tarde, ficaram mais evidentes. Por tudo isso, vale a pena refletir sobre o pensamento do filósofo italiano. Ao discutirmos sobre drogas, temos de estudar a experiência de outros países, como, por exemplo, o Uruguai ou Portugal. Ao discutirmos sobre violência, teremos de considerar o que acontece em sociedades, como a americana, que permitem a difusão abusiva de armas. Nesta nossa longa viagem no interior da sociedade civil, marxistas de inspiração gramsciana poderão dizer alguma coisa em proveito da convivência democrática e civilizada entre pessoas de múltiplas e variadas inspirações”.
Luiz Sérgio Henriques fez uma reflexão sobre Gramsci como um teórico que convida toda a sociedade a um diálogo. Mas lembrou que o pensador, por si só, não vai salvar a sociedade e nem o Brasil, como nenhuma teoria ou religião. Mas que é um importante instrumento para refletir sobre a atual crise da esquerda no país. Trazendo Gramsci para o contexto político brasileiro, ele garantiu que o Partido dos Trabalhadores nunca se embasou na teoria gramisciana. “Ao chegar ao poder, a esquerda do PT construiu relações de poder equívocas, e deixou de lado o que a sociedade pensava. Ele não considerou as questões e necessidades da população. Mas o que mais se deve nos interessar mais nesse autor é a Democracia como uma utopia”.
Andrea Lanzi, do Partido Democrático Italiano, acentuou que apesar de considerar que Gramsci jamais pensaria a sociedade com a Revolução Industrial, os ideias de liberdade e igualdade, da Revolução Francesa e o pensamento Gramisciano ainda são referência para um movimento que queira reduzir as injustiças sociais.
Mesa redonda sobre Gramsci discute democracia como valor universal
Evento realizado pela FAP em parceria com a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de Janeiro, lembrou os 80 anos da morte do filósofo italiano e destacou a discussão em torno da democracia politica, valor presente em sua obra
Germano Martiniano
A mesa redonda “Um pouco de Gramsci não faz mal a ninguém”, promovida pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP) em parceria com a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), teve como destaque a discussão em torno da democracia politica, valor presente na obra deixada pelo filósofo italiano. O evento, que foi realizado na sede da associação, na cidade do Rio de Janeiro, traçou um paralelo do pensamento gramsciano com a realidade brasileira, levando à discussão como alguns partidos políticos brasileiros, considerados de esquerda, ainda flertam com politicas antidemocráticas e que ameaçam a estabilidade política e social do país.
Luiz Sergio Henriques, palestrante e especialista em Gramsci, reforçou que parte da esquerda brasileira é anacrônica e não compartilha dos valores democráticos: “Partidos como PT, por exemplo, não entendem as novas condições do mundo, a globalização, e acabam ainda por defender regimes como o de Maduro, na Venezuela, que caminha para uma ditadura. É lamentável”, criticou o tradutor e ensaísta de Gramsci.
Alberto Aggio, professor e historiador e um dos expositores da mesa redonda, ao ser questionado sobre o sectarismo político de parte da esquerda brasileira, analisou como essa mesma esquerda “que ainda é muito pobre em termos conceituais”, prejudica uma análise mais séria, profunda e convincente para a sociedade em seu conjunto. “A maior parte da população ainda enxerga a esquerda dentro de uma lógica muito estreita, muito radical, dentro da lógica de amigos e inimigos, o que é muito negativo e precisa ser superado", avalia Aggio. "Existem outros partidos, que defendem posições diferentes, com mais capacidade de análise do mundo que estamos vivendo e que possuem a democracia como valor primordial, mas nem sempre isso é reconhecido”, disse o professor e historiador.
Além de Alberto Aggio e Luiz Sergio Henriques, a mesa redonda contou com a participação de Andrea Lanzi, presidente do PD italiano; Domingos Meireles, presidente da ABI, e o diretor-geral de FAP, Luiz Carlos Azedo, que foi o mediador da mesa redonda.
Azedo destacou a importância da parceria que a FAP mantém com o Instituto Gramsci de Roma por meio de diversas publicações, especialmente a coleção "Brasil e Itália": “Primeiramente, essa parceria estabelece uma ponte entre o pensamento politico no Brasil e o que há de mais moderno no pensamento politico europeu. Em um momento de grandes mudanças no mundo e de turbulências políticas, é importante para a FAP ter esse intercâmbio de ideias. Em segundo lugar, era essencial homenagear os 80 anos da morte de Gramsci, que possui em sua obra conceitos que permitem analisar a realidade brasileira com mais profundidade, como revolução passiva, americanismo, democracia e transformismo, entre outros”, completou o mediador da mesa, ao encerrar o evento.
A Fundação Astrojildo Pereira transmitiu o evento ao vivo, confira:
https://www.facebook.com/facefap/videos/1290854354358356/
Jornal da ABI destaca mesa redonda sobre Gramsci em parceria com a Fundação Astrojildo Pereira
Evento tem o objetivo de discutir a importância do legado intelectual de Gramsci, 80 anos depois da sua morte, e a contribuição de sua obra como instrumento de percepção e análise da atual crise brasileira
A mesa redonda, que será realizada nesta segunda-feira (21/8), às 18h, será aberta pelo presidente da ABI, Domingos Meirelles, e terá como mediador o Conselheiro da entidade e colunista político Luís Carlos Azêdo. O encontro contará com a presença de Luíz Sérgio Henriques (tradutor e ensaísta ), Alberto Aggio (representante da Fundação Astrogildo Pereira), e Andrea Lanzi, do Partido Democrático Italiano. O objetivo do debate é discutir a importância do legado intelectual de Gramsci, 80 anos depois da sua morte, e a contribuição de sua obra como instrumento de percepção e análise da atual crise brasileira. Ao contrário do pensamento marxista tradicional, que se dedicava ao estudo das relações entre política e economia, ele chamava a atenção para o papel da cultura e dos intelectuais nos processos históricos de transformação social.
“A mesa redonda foi proposta para lembrarmos os 80 anos da morte de Gramsci. Isso é importante especialmente para nós, que somos os maiores divulgadores das interpretações e debates sobre o pensamento de Gramsci no Brasil por meio da coleção de livros (Brasil & Itália)”, aalia Alberto Aggio, historiador e professor titular da UNESP.
Gramsci foi também um dos fundadores do Partido Comunista Italiano e tornou-se mundialmente conhecido pela teoria da hegemonia cultural, onde sustentava que o Estado utilizava o arcabouço das instituições culturais para proteger os interesses de classe das elites e se perpetuar no poder. Pensador agudo das contradições do seu tempo, formulou questionamentos que parecem atuais. Uma de suas reflexões encontra ressonância nos dias de hoje : ” A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem “.
Gramsci foi uma das principais referências do pensamento de esquerda no século XX. Foi também uma das poucas vozes, na época, a denunciar a tirania política de Stálin, e as consequências inerentes a esse processo degenerativo que não foram percebidos, no começo dos anos 30. Suas construções teóricas estão reunidas em um dos clássicos da literatura socialista,” Cadernos do Cárcere “, onde desenvolveu inclusive uma revisão crítica dos postulados de Marx com o objetivo de adaptá-los às condições da Itália durante o Governo Fascista de Benito Mussolini.
Apesar de ser um ativista apaixonado, era fisicamente frágil, seu aspecto franzino e a forma de caminhar lembravam mais um padre que um revolucionário. Preso em 1926, inicialmente condenado a cinco anos, teve logo depois sua pena ampliada para 20 anos. Deixou a prisão, extremamente debilitado, em abril de 1937, em busca de tratamento médico para os pulmões arruinados pela tuberculose, mas morreria três dias depois.
Suas ideias foram condensadas em textos produzidos durante o período em que esteve preso. Sua obra não é fácil de se ler. Escrevia quase sempre em código para evitar a censura dos seus carcereiros. Os textos deixavam a cadeia pelas mãos de sua cunhada, funcionária da Embaixada Soviética, em Roma, para sem encaminhadas ao líder comunista italiano Palmiro Togliatti, que vivia exilado em Moscou.
A lucidez com que Gramci refletiu sobre os problemas e as contradições do seu tempo fizeram com que seu pensamento sobrevivesse não apenas a ele, mas ao próprio socialismo real que desmoronou em bloco, entre 1980 e 1990, com o esfacelamento dos países comunistas do Leste Europeu.
Sua obra foi editada no Brasil em quatro volumes pela Editora Civilização Brasileira, na década de 1970. ” Cadernos do Cárcere ” foi relançado pelo mesmo selo, em 1999, sob a coordenação de Luiz Sérgio Henriques, que será um dos debatedores da mesa-redonda que será realizada na sede da ABI, no Rio de Janeiro.
A mesa redonda terá transmissão ao vivo pelo canal no Facebook da FAP: https://www.facebook.com/facefap

PD #48: Interrogações sobre o fator Janot e o desfecho do governo Temer
Por Paulo Fábio Dantas Neto
O balanço dos 44 anos durante os quais a política tem sido o centro das minhas atenções, antes de militante e político, depois de estudioso e professor, permite-me o recurso luxuoso à nostalgia. Por outro lado, recusa-me o direito à ingenuidade. Por essa razão não compartilho celebrações (nem as de boa-fé) que se fazem diante dos fatos e factoides que vieram a público no a meu ver factualmente obscuro e politicamente obscurantista dia 17 de maio de 2017, data de uma operação de ataque cujo alvo foi o presidente Michel Temer e os protagonistas (os visíveis a olho nu), o comando do MPF, a PF e um empresário que vinha sendo investigado pelos dois primeiros.
Pessoas e grupos crentes no advento de uma nova era, isenta de corrupção política, que já se deixavam somar (por apoliticismo mais do que por afinidade), num mesmo polo político, a outras pessoas e grupos nostálgicos da ditadura, em protestos de rua e nas redes sociais desde 2014/2015, hoje já concordam, pontualmente, na rejeição ao governo Temer, com o polo político ao qual se opunham, quer dizer, aquelas pessoas e grupos esperançosos de um retorno ao status quo político superado pelo impeachment de Dilma Roussef. Formou-se, por acidente – ou não tanto assim –, curiosa coalizão de veto ao esforço pacificador do governo de transição. Na hora em que este governo parece balançar e, a princípio, migra, de súbito, de um momento de consolidação para uma crise que pode até ser terminal, afinidades eletivas entre os dois polos da escalada de radicalização política que persiste há três anos no país fazem ecoar o “Fora Temer” como se fosse um clamor nacional.
Clamam estridentemente os que na esquerda gostariam de revogar a Lava-Jato, mesmo sabendo que a queda do governo, se ocorrer, será obra, não da oposição de esquerda ou de movimentos sociais, mas da força daquela operação. Alimentam o mesmo bordão, embora com menos alarido e convicção, antipetistas e antilulistas seguidores exaltados da Lava-Jato, mesmo vendo que a queda do governo abre brecha para os “inimigos” voltarem ao jogo do poder que lhes parecia inalcançável após as últimas eleições municipais e delações das primeiras semanas de maio último meio agosto.
Na contramão desse coro excêntrico, persuade-me a ideia de que o virtual fim do governo parlamentar, se realizado, expressará uma derrota da política. Como tal representará, para além da queda de um governo impopular, um obstáculo à reconstrução do centro político democrático, obra complexa que seguia curso sinuoso desde o ano passado, após sua destruição durante a guerra pelo controle do Estado, travada a partir da eleição presidencial de 2014.
Tornou-se lugar comum dizer que a sociedade brasileira está dividida de modo radical entre duas posições políticas, como numa disputa entre torcidas fanáticas. Para alguns mais ligados em jargões teórico-políticos, é direita x esquerda, elite x povo ou neoliberalismo x política social. Em redes sociais há traduções ainda mais simplórias dessa narrativa, como confronto indigesto entre “coxinhas” e “mortadelas”, ou duelo pessoal entre Moro e Lula. Estes modos de exprimir a mesma coisa refletem um “modo de pensar” de claques mais ou menos organizadas e de pessoas fidelizadas por algum tipo de dogma, carisma, ou tabu. Identifi- car isso com a percepção do povo, ou mesmo do eleitorado é, no mínimo, um exagero e, no fundo, uma mistificação. Quem usa de boa vontade para olhar e escutar além do seu redor, de prudência para avaliar o que vê e ouve e de autonomia para pensar com a própria cabeça repara que enquanto as brigas de torcida se acir- ram, mais pessoas “comuns” delas tomam distância e anseiam por uma solução conciliadora da crise política. Este tipo de saída permite tratar de problemas públicos sem comprometer, como se tem feito, relações profissionais, de vizinhança e amizade e até o convívio em ambientes familiares. A recusa ao espírito de claque não é uma atitude política “alienada”. Compartilham-na pessoas que possuem variados níveis de instrução formal, informação e compromisso político. Penso que é o terreno social sobre o qual se pode reconstruir um centro democrático no Brasil.
Pensamento Político
Ocorre que há uma representação do modo maniqueísta de pensar o momento político que, ao contrário das que listei acima, parece ter mais conexão com a percepção das pessoas comuns: a luta do “Santo Guerreiro” (a Lava-Jato) contra o “Dragão da Maldade”, o sistema político. Ela sugere que estaríamos no limiar de uma vitória do bem, com a submissão da imperfeita democracia mundana e dos seus malditos corpos representativos a desígnios e ritos sumários de uma suposta “vontade geral”. Esta, por sua vez, seria guiada, além de pela fé, pela economia política ligeira de formadores de opinião para os quais violência urbana, caos na saúde e educação, inflação, recessão e desemprego seriam meros efeitos colaterais da corrupção. Daí que, como pontificam os arautos da faxina, uma assepsia radical no sistema político teria efeitos demiúrgicos. A antevisão de um quase paraíso moral e social, alcançado pela vitória do combate sem tréguas à corrupção, “doa a quem doer”, legitima meios excepcionais de investigação e punição, assim como justifica sacrifícios para pagamento à vista de todos os preços sociais, inclusive o de estancar uma incipiente recuperação econômica ao implodir o “malévolo” sistema político que, bem ou mal, pode viabilizá-la, numa democracia.
O eco (momentâneo, espero) desta perversa fantasia no imaginário de ampla parte da sociedade esconde, sob aparências de novidade, a reiteração extremada de um velho modo de pensar que está na base de aventuras jacobinas, autoritárias, ou fundamentalistas que, na história política brasileira, afirmaram querer revogar o pragmatismo conciliador de nossas elites políticas. Quando, por vezes, conquistaram o poder do Estado ou de governo agiram para exercer tutela e/ou para angariar clientela onde reinava a conciliação.
O pragmatismo conservador e liberal (não fundamentalismos doutrinários, como o neoliberal) deu-nos à luz como Estado e nação, conciliando o Estado e a representação política – que civilizaram a sociedade – com o ethos comunitário a um só tempo rude e cordial desta última, vindo da experiência de nossa formação social. Tal elitismo civil, que se conservava moderadamente atento aos temas de reforma social sem contrapô-los às instituições liberais, quando exposto ao contexto virtuoso que ligou a luta democrática dos anos 70 e 80 à Carta de 1988 achou, na nova feição do Ministério Público, um de seus modos de conversão à condição de uma força democrática. Decerto não foi o MPF a única instituição desenhada na Carta para controlar as variadas modalidades empíricas de exercício arbitrário ou criminoso do poder político. Mas nenhuma melhor do que ela exibe a inédita possibilidade de fazê-lo em proveito, não de outros particularismos, de corporações ou grupos políticos que se achem em eventual colisão com os governos, mas em proveito dos cidadãos de uma República definida como um Estado Democrático de Direito, definição que já registra a ultrapassagem das concepções elitistas da política e do direito e projeta esta ultrapassagem como processo aberto ao que vier no futuro.
Esta nobre instituição ameaça desviar-se de seu mister republicano e democrático – que vem honrando com zelo e eficácia, durante as últimas décadas – pelo modo corporativista e obscuro de sua ação ao conduzir a delação prodigamente premiada de proprietários de uma corporação empresarial que se fez gigante em tempo recorde, graças, além de agressividade nas relações de mercado, também ao auxílio de irresponsabilidade e corrupção estatais.
O inusitado modo de agir do MPF nesse episódio surpreende e suscita perguntas que não querem calar. Por que o uso, nesse caso específico que envolvia o presidente da República, de um rito mais sumário para viabilizar a delação, quando o senso de responsabilidade institucional recomendava justamente que se usasse o mais cauteloso? Por que uma operação que se autodenomina “controlada” foi tão meticulosa e certeira para viabilizar flagrantes e tão descuidada na checagem posterior da gravação suposta- mente mais comprometedora, conforme a própria PGR admitiu depois de já feito o estrago político e institucional? Como aceitar a explicação de que a incúria se deveu ao intento de preservar o sigilo da operação se, na prática, o sigilo já não havia mais quando o ministro Fachin recebeu o pacote? Nova incúria seguiu-se à primeira e deu lugar ao vazamento? Vazamento, aliás, desta vez duplamente seletivo, do conteúdo e do receptor privilegiado, um jornalista de O Globo que deu o furo não se sabe se por dever do emprego, se por escolha de quem vazou ou se por ter sido gentil ou formalmente aconselhado por quem sabe o caminho das pedras a seguir a máxima futebolística de Gentil Cardoso: “Quem pede, recebe; quem se desloca, tem preferência”.
Nuvens
Estas nuvens já carregam bastante o ambiente, mas ainda têm a companhia de outra, que suscita pergunta adicional, agora sobre o fato de ter a dupla de empresários safos lucrado ao especular no mercado cambial e na bolsa a partir de informações privilegiadas derivadas da condição de delatores que colaboravam com os investigadores em tempo real. Quer dizer, a metodologia adotada implicava em prévio conhecimento dos delatores sobre o momento de deflagração da operação da qual eram participantes e não só informantes. Este privilégio adicional, somado à prodigalidade dos prêmios formais da delação, torna excepcional o caso dos sortudos irmãos Batista e deixa no ar a pergunta arrematadora: vale a ideia de punir corruptos, doa a quem doer, mesmo que para isso se deixe porta aberta também à de que, em certos casos – especialmente naqueles em que todas as partes são mais relevantes – o crime compensa?
Pouco altera, para o que vai ser adiante analisado, o ultimatum do MPF à JBS fixando condições pecuniárias duras para que se celebre um acordo de leniência. Mesmo veraz, ela não remediará o estrago político causado pelo tratamento voluntarista e heterodoxo, para dizer o mínimo, que o comando da instituição deu à delação premiada dos seus proprietários. Assim como não anula o tratamento privilegiado e comparativamente injusto, em termos econômicos e de abstenção penal, concedido a tais delato- res. Bois gordos foram postos à frente do carro da política, de modo a levá-lo a parar e ter sua rota a seguir desviada, rumo a um pasto ignorado. À parte as controvérsias habituais sobre intenções e motivações, bem como sobre a validade ética e a eficácia prática de tais ou quais técnicas de investigação policial, o timming e a metodologia da operação levaram a ação da Procuradoria-Geral da República a assumir, objetivamente, o risco de provocar uma virtual queda de um governo de transição constitucional que naquele momento atuava, a duras penas, nos limites permitidos por circunstâncias herdadas e novas e nos da precária qualidade dos valores morais da elite política que acessou o poder dentro, também, dos marcos constitucionais. Tal governo, de manifesto caráter parlamentar, impôs-se as missões de restabelecer a governabilidade política em interlocução com o Congresso e de reverter a recessão econômica e o desemprego que se radicalizaram quando essa overnabilidade faltou, a partir de 2015. O cumpri- mento até então exitoso da primeira missão e os ainda tímidos e ambíguos sinais de encaminhamento da segunda foram suspensos, quem sabe revertidos, pelo uso inédito de um bisturi mais cortante, cujo manejo deve estar, constitucionalmente, condicionado ao escrutínio do Poder Judiciário.
Em vez de acolher a hipótese de inflexão também na conduta até aqui sóbria do ministro Fachin, prefiro pensar que o STF foi, mais uma vez, colocado diante do fato incontornável de que não poderia deliberar livremente sobre a homologação da delação relâmpago, dado o mais que provável e, afinal, consumado vaza- mento do conteúdo das informações para veiculação por medias ávidos por acessá-las para antecipadamente julgar, mais do que para informar. Mas ainda não se sabe ao certo se e como o STF deu consentimento prévio ao até então inédito script procedimental adotado pelo MPF para a obtenção de provas nesse caso. Mais intrigante ainda é que, no cumprimento da agenda do ministro-relator, o levantamento do sigilo de um processo que continha fatos que já haviam virado notícia levou mais tempo do que a grave decisão de autorizar a investigação formal da pessoa do presidente da República. É intuitiva a conclusão de que a parte da opinião pública que pede assepsia para já, além de pautar, via mídia, os movimentos do Ministério Público, também exerce influência sobre decisões toma- das no âmbito do STF, mesmo quando estão em jogo delicadas relações institucionais. O STF não transpareceu na cena com o protagonismo supremo que dele se espera em situações nas quais uma deliberação sua repercute fortemente na grande política.
O lastro social para tão espaçosa e perigosa incursão do MPF e da Polícia Federal no âmago da grande política provém da recente legitimação social da vocação de órgãos policiais para ocupar o lugar de justiceiros e da também recente adesão do comando do MPF à imagem do santo guerreiro, que já era aberta- mente assumida pelos mais conspícuos membros da corporação no âmbito da Lava-Jato. À diferença do juiz Sergio Moro, cuja moderação judicial aprimora-se à medida em que a operação entra num momento que exige também maiores sensibilidade e responsabilidade políticas, os procuradores de Curitiba seguem pregando, obstinadamente, com retórica plebiscitária, o reconhecimento da Lava-Jato como guardiã plenipotenciária da ética republicana e, como tal, ocupante do lugar de mais relevante e virtuosa instituição nacional. A este figurino e a este programa adapta-se, paulatinamente, a conduta prática do procurador-geral da República, por decisão própria ou por livre e espontânea pres- são exercida por setores de um quadro corporativo que ele parece não liderar a contento.
Bateu, levou
O chefe do MPF agiu à base do bateu/levou, método que já vinha testando, sem que outras autoridades da República se expusessem ao risco de serem censuradas pelo senso comum por apontarem em público e interpelarem, republicanamente, a ousada esgrima praticada em final de mandato pelo mais alto prócer de uma instituição relevante. Houve, é claro, a conspícua exceção do ministro Gilmar Mendes. Porém, suspeito de parcialidade pelos imparciais e odiado por ambas as turmas que se digladiam em redes sociais, não pôde se fazer ouvir o bastante na República emparedada pelo maniqueísmo. Parece estar perdendo a parada, no STF e fora dele.
O dr. Janot moveu-se como um Deodoro sem farda. Que ordem política se espera ver brotar dos escombros da atual, se a queda do governo Temer for mesmo o desfecho deste grave momento crítico? Se assim for, o presumido drible no Poder Judiciário (ou a insólita cooptação de quadros seus), bem como o desmonte de um Executivo que agia construtivamente em consórcio com o Legislativo imobilizariam, na prática, os poderes moderadores reais de que se dispõe para levar o país a um porto mais seguro até as eleições de 2018. Nada é certo, pois é missão da política desmanchar pratos feitos e achar soluções quando parece sofrer xeque-mate. Mas, no mínimo, fomos mergulhados, de novo, na incerteza e, se a pinguela cair, a disputa do poder tornado mais provisório queimará nas mãos de um Legislativo solteiro e alvo de contestação pública. Entendimentos de bastidores que, logicamente, seriam necessários para cumprir a tarefa levariam a uma solução melhor, em termos de confiabilidade social e eficácia política, do que a do arranjo montado para o governo Temer? Suspeito que não.
Ou será que a solução passaria por apagar as luzes dos basti- dores congressuais e transferir a disputa para urnas também carentes de luzes e premidas pelas urgências da crise? Ela tem chance de se resolver numa eleição direta travada sob desordem econômica refundada e sabe-se lá que casuísmos políticos de urgência? Será como montar arenas para claques movidas a ódio e para raposas e/ou outsiders movidos a demagogia, quando o encontro da solução requer uma racionalidade política e econômica que só medra quando conflitos são mediados, condição que há três anos não temos plenamente, mas da qual voltamos agora a nos distanciar mais.
Fora dessas hipóteses, há a do aumento do protagonismo judiciário, não à toa a preferida das organizações Globo, mas também até mais benigna, do ponto de vista de evitar, a curtíssimo prazo, um esgarçamento ainda maior das instituições democráticas para o qual a campanha de desestabilização da mesma Globo já contribui bastante. Mas o que esta solução supostamente moderada nos apontaria, como ponte para 2018? No mínimo a perda mais acentuada, pelo Judiciário, do seu já arranhado papel como instância arbitral, em face do envolvimento direto de alguém seu na gestão do governo em período de crise e pré-eleitoral. O prejuízo institucional só não seria maior que o desastroso uso simbólico da Justiça por um quadro dela migrado para o âmago de uma política demagógica que não ousa dizer seu nome.
Opção menos insólita e menos radical – embora se constitua também em precedente perigoso – seria o protagonismo judiciário ater-se a assegurar uma curtíssima interinidade para convocar o processo de busca de solução para o mandato tampão, em caso do Congresso a ela renunciar por se ver impedido de exercer esta sua prerrogativa constitucional pela força dos argumentos e dos veículos de pressão da suposta “vontade geral”. Mas se essa vontade geral/global tivesse o poder de vetar os políticos até como articuladores da solução, por que motivo aceitaria que fossem, eles próprios, a solução?
Mesmo que totalitários sejam muito poucos entre os adeptos da faxina, não é provável que estes últimos, sendo vencedores na operação contra Temer, permitam, depois dele, uma solução que revigore a Weimar tropical que denunciam e desestabilizam. É mais provável que o processo político, se se render ao monitoramento pela lógica investigativa e midiática, permita o assassinato serial de toda e qualquer alternativa política que surgir, desde que, entre mortos e feridos, garanta-se a continuidade da política econômica e promova- se, talvez, uma reformatação da reforma previdenciária, para não pô-la em colisão com interesses de algumas (poucas, é claro) corpo- rações do Estado. Em compensação, no quadro de um novo governo tampão com tais características, as corporações menos afortunadas do setor público terão saudade do deputado Artur Maia e até do quase unanimemente rechaçado PMDB.
Hipóteses
Como visto, há várias hipóteses para o desfecho A (queda de Temer). Mas qual cenário emergirá se porventura se der o desfecho B, a manutenção do presidente? Nem precisaremos da ajuda da TV Globo para admitir que se temos vivido tempos bicudos, os que viriam o seriam ainda mais. A começar pela hipótese de mais gente comum migrar da rejeição massiva e passiva ao governo, registrada em pesquisas de opinião, para uma participação em eventos organizados pela oposição política e por seus braços sindicais e nos movimentos sociais. O adensamento desse tipo de manifestação poderia ser suportado sem abalos graves, mas não a sua conversão em manifestações de massa, como as enfrenta- das pelo governo Dilma. Para evitar essa conversão, um Temer firme, enfático e agressivo, mas sem perder a elegância, como o que se mostra em declarações nesses dias de acuamento, teria que voltar às telas mais vezes para conversas mais diretas com a massa do eleitorado. Teria pendor e meios para isso se permanecesse sem um acordo ainda que provisório, com os canais de expressão da vontade geral/global?
Outro jeito não haveria senão tentar, pois a olímpica versão de que não se importa com impopularidade, se já não cabia bem em qualquer situação vivida por um presidente de um país democrático, em caso de um governo Temer II teria que ser abandonada completamente. O governo provavelmente não seria mais tão forte no Congresso, pois algumas das defecções, como a do PSB, não parecem reversíveis, a curto prazo. Tenderiam a aumentar os problemas internos em cada bancada partidária, o que forçaria o governo a fazer uso mais pródigo da caneta administrativa para abrir mais espaços a velhos e novos aliados e da tesoura política para abrandar ainda mais a reforma de Previdência. Surgiria aí uma nuvem: até que ponto o ministro Meireles sustentaria o apoio de agentes econômicos a um recuo relevante nessa área? Mais um fator que aconselharia a tentar um armistício com a suposta vontade geral. Por outro lado, um maior abrandamento da reforma previdenciária poderia desarmar parte do petardo armado contra o governo no último dia 17 de maio. Mesmo se a PF seguisse inflexível, talvez o bateu/levou perdesse adeptos no interior do MP. Ainda mais se incluída na pauta de negociações a troca do seu comando.
Concluída a digressão sobre cenários tateados na penumbra atual, voltemos ao MP e ao fator Janot. A mesma penumbra não permite que já se saiba agora se a instituição sairá desgastada ou fortalecida, após a arriscada operação em que a meteram. Se aparentemente faltam ao procurador-geral da República (como de resto aos seus até aqui explícitos parceiros de operação) pretensões jacobinas, o que então o animou a tanto? Talvez não caiba, por inútil, essa especulação, típica de redes sociais e que nos levaria aos limites do insondável, ou do insólito, como a de supor que ele tivesse a veleidade de oferecer, no curso ainda do seu mandato, ocasião para um bombástico grand finale da Lava-Jato: a entrega da cabeça de Temer e seu governo para o regozijo de madalenas que desejem ver inerte a geni apedrejada e com isso se contentem. E também para o sossego de agentes econômicos que receiam o tipo de impacto que vinha sendo previsto a respeito da delação do ex-ministro Palocci. Mas ainda que quisesse, a cúpula da PGR poderia dar essa pirueta só em acerto com os veículos da vontade geral/global e sem combinar isso em sua casa e também com Moro, Fachin e o STF? Não se negue a esses interlocutores institucionais um derradeiro voto de confiança.
Uma vacina contra teorias conspiratórias agiria no sentido de considerar que, tanto ou mais que a vontade dos atores, mesmo dos mais poderosos e influentes, estão envolvidas nessa operação, por mais heterodoxa que ela tenha sido, razões de legítima natu- reza institucional. Mas o exercício especulativo sobre o que moveu a ousadia e a agressividade do procurador-geral (ou a de quem ele chancelou) pode se deter também em hipóteses mais prosaicas, ligadas à luta interna da própria corporação.
Diz quem conhece o MPF (não é meu caso) que a comunidade de procuradores não se perfila, sem nuances e mesmo objeções, à cartilha dos missionários do MP em Curitiba. As razões estariam em diferentes conceitos e concepções normativas sobre a práxis da instituição e também em contendas por posições de poder, sensíveis, por exemplo, à prisão de um procurador na esteira da operação que ora comentamos. Esta cena colateral ao escândalo, nas palavras do dr. Janot, colocou gosto amargo na vitória que para ele a instituição ali obteve. O doce e o amargo propiciados pela ocupação do mais alto posto de comando da instituição decerto não são irrelevantes e podem fazer pensar que a instalação de um novo governo possibilitaria, ao atual chefe do MPF, influir no rumo de sua sucessão em grau maior do que aquele possível no atual governo. Esta miragem pode tanto se remeter a um governo sem Temer como a eventual governo Temer II, saldo do enfrentamento seguido por negociação com quem for preciso.
Conduta
Se inútil ou afoito for especular em qualquer dessas direções, é relevante registrar a relação da conduta da PGR com sua condição de ser, entre as instituições mais relevantes da República (incluindo seus Poderes), a única que não teve mudança de comando do fim da era petista para cá. Observando alterações de conduta derivadas da sucessão de Dilma Rousseff por Michel Temer; de Ricardo Lewandowski por Carmem Lúcia; de Renan Calheiros por Eunício de Oliveira e de Eduardo Cunha por Rodrigo Maia, o impulso corporativo ou personalista cedeu claramente lugar ao da concertação. Por isso tivemos (vínhamos tendo), o fim da paralisia dos poderes governativos e a consequente moderação da escalada de protagonismo político do Judiciário, sem prejuízo do seu pleno funcionamento e das demais instituições de controle nas esferas que privativamente lhe competem. Entre vantagens democráticas dessa convergência republicana há a maior proteção comum dos Poderes do Estado face à exposição de cada um, isoladamente, a pressões de corporações privadas e às relações perigosas sempre possíveis nesse circuito.
Há (ou havia) razões para supor, pelo andar da carruagem, que a sucessão na PGR, em setembro, dar-se-ia (mesóclise acidental) em sintonia com essa lógica política que retoma tradições cultivadas nos melhores dias dos nossos poderes civis, geralmente esquecidas em tempos de normalidade e retomadas quando nas crises se aguça o seu instinto de sobrevivência. Como ficará este jogo agora, se Temer cair? O Ministério Público emprestará sua colaboração de instituição republicana a uma concertação que preserve o Estado Democrático de Direito e fortaleça a Constituição para que a justiça republicana possa trabalhar em terreno político simpático a um permanente e sustentável combate à corrupção? Ou manterá performance sollo, surfando na fantasia faxineira? Caso consiga, com ajuda de veículos eficazes de formação de opinião, persuadir imediatamente a sociedade, essa promessa vã faria do Estado Democrático de Direito e da Carta de 1988 vítimas, a médio e longo prazos, de capturas corporativas por interesses privados ocultos em embalagens demiúrgicas difundidas por uma instituição de vocação democrática instrumentalizada em troca de tolerância ao seu corporativismo.
Se a pinguela realmente cair, torçamos para que quem torceu ou contribuiu para a sua queda – seja por vingança política ou por achar que valia a pena para denunciar a corrupção – saiba chegar a um bom porto nadando em águas turbulentas, pois estão de volta as que quase nos afogam no ano passado. E torçamos, principalmente, para que às águas turbulentas não sucedam águas turvas, como as de um passado autoritário e também corrupto que nós e nossos filhos não merecemos que volte para nos afogar de verdade e não só nas narrativas dos que chamam de golpe, ou de crime continuado, o ensaio de transição desse último ano. Ele deu lugar a que espíritos politicamente informa- dos e animados, mas não contaminados pela lógica binária que nos afundou na crise, vislumbrassem, nas idas e vindas do ensaio, o possível retorno da política por vocação, a que cultua valores mas, realista, também se dirige ao público como nas palavras de Max Weber: “eis-me aqui, não posso fazer de outro modo.”
* Artigo publicado originalmente na Revista Política Democrática #48
Mesa redonda: Um pouco de Gramsci nessa crise não faz mal a ninguém
Evento busca explorar o pensamento gramsciano em paralelo com a crise política que assola o país atualmente
Germano Martiniano
Neste ano em que se completa 80 anos da morte de Gramsci, a Fundação Astrojildo Pereira (FAP) realizará, no próximo 21 de agosto, às 18h, no Rio de Janeiro, o Seminário: Um pouco de Gramsci nessa crise não faz mal a ninguém. O evento, que conta com especialistas das obras do filósofo italiano, Alberto Aggio, Luiz Sergio Henriques e Andrea Lanzi, busca explorar o pensamento gramsciano em um paralelo com a crise política pela qual o país passa atualmente.
“A mesa redonda foi proposta para lembrarmos os 80 anos da morte de Gramsci. Isso é importante especialmente para nós, que somos os maiores divulgadores das interpretações e debates sobre o pensamento de Gramsci no Brasil por meio da coleção de livros (Brasil & Itália)”, disse Aggio, historiador e professor titular da UNESP.
Contexto
As conjunturas políticas atuais no Brasil têm despertado o interesse no debate em grande parcela da população, assim como tem feito que opiniões extremas, tanto a direita, quanto à esquerda, se fortaleçam. As redes sociais, por sua vez, têm sido “porta-voz” dessas manifestações, como também têm sido o palco de grandes dissidências.
Dentro deste contexto, no qual se vê Bolsonaro, na extrema direita, ganhar mais simpatizantes e, paralelo a isso, parte da esquerda, como PT, PCdoB e PSOL apoiar Maduro na Venezuela, é que o debate sobre a obra de Gramsci se faz mais importante. “Existem muitas interpretações a respeito do pensamento gramsciano, mas seguramente as mais aceitas e difundidas dão conta de que nele há uma perspectiva democrática importante e perspectivas culturais novíssimas que o marxismo do século XIX não comportava. Mais do que isso, Gramsci também foi um crítico aos caminhos que tomava a URSS e suas reflexões buscam uma saída em relação a esses descaminhos que, mais tarde, ficaram mais evidentes. Por tudo isso, vale a pena refletir sobre o pensamento do filósofo italiano”, acentuou Aggio.
Para dar início às reflexões que vão ser tratadas durante o Seminário, a FAP realizou uma entrevista com Luiz Sérgio Henriques, tradutor e ensaísta de Gramsci no Brasil, e que estará como um dos expositores no evento. Leia trechos a seguir:
FAP - A esquerda, atualmente, vive uma crise de identidade. Gramsci, que foi um vanguardista em sua época, já dava indícios em suas obras de que essa dicotomia clara entre capitalismo e socialismo, que ficou ainda mais evidente na Guerra Fria, acabaria?
Luiz Sérgio Henriques - Gramsci descobriu ou redescobriu o continente da política. Estabeleceu um conjunto notável de conceitos (hegemonia, revolução passiva, guerra de posição e de movimento, reforma intelectual e moral, a distinção entre o plano corporativo e o ético-político, etc.), que nem sempre estavam disponíveis no marxismo ou no que se entendia como marxismo. Foi atrás de outros autores e de outras tradições, inclusive liberais. Sabe-se que suas relações com Croce, um liberal clássico notavelmente importante em sua época, foram complexas, feitas de assimilação, recusa e reelaboração. Quantos marxistas agem assim, hoje, em face de Habermas ou Rawls, para dar dois exemplos bem conhecidos? Mesmo tendo se educado no universo socialista (PSI) e tendo se firmado depois como um político comunista, no âmbito da III Internacional, aquele conjunto de conceitos, aplicados à história de seu país, à evolução do socialismo soviético e ao desenvolvimento global do capitalismo, permitiu análises bastante originais que o colocam além do universo bolchevique e o destacam como um clássico da política do século XX. Percebeu, precocemente, o enrijecimento stalinista sob a forma da “estatolatria”: assim caracterizado, o comunismo soviético não teria condições de desafiar um capitalismo que se renovava com o fordismo e o americanismo. Mais cedo do que se pensa, a contraposição entre o mundo comunista e o mundo capitalista ocidental estava resolvida em favor deste último. A partir daí podemos inferir que contraposições frontais entre “campos” antagônicos não são produtivas, porque acabam, mais cedo ou mais tarde, induzindo fanatismos unilaterais e soluções de força.
Podemos ver no pensamento gramsciano uma saída para essa crise de identidade?
A política gramsciana, que recorre à hegemonia (isto é, à persuasão permanente entre sujeitos autônomos e ao deslocamento da relação de forças num contexto de liberdades), aponta numa outra direção. O momento da força fica inteiramente subordinado ao do consenso. Sublinhar isso pode nos ajudar a evitar até mesmo as catástrofes civilizatórias que, infelizmente, estão à espreita. Mas, evidentemente, tudo isto já é por nossa conta. Vemo-nos obrigados a ir muito além de Gramsci. Mesmo sendo muito menores do que ele, ao subirmos em seus ombros veremos coisas que ele não viu nem podia ver. Estamos condenados a “trair” Gramsci. Se o repetirmos, teremos o mesmo triste fim de todos os sectários.
Como interpretar a realidade brasileira, perante toda crise política que vivenciamos, sob a perspectiva gramsciana? Quais partidos políticos mais se aproximam dos seus ideais?
Não devemos adotar a posição de “apóstolos gramscianos” diante do Brasil. Nosso país tem uma densa história própria – uma história intelectual, inclusive. As categorias gramscianas ou quaisquer outras devem ser postas a serviço da compreensão desta realidade, senão não nos servem em absoluto. Vivemos um momento de crise nacional. Um momento, aliás, que se prolonga mais do que esperávamos. Por sua vez, Gramsci não foi um político particularmente bem sucedido, tanto que morreu prisioneiro. Mas, no cárcere, soube se valer da “paciência do conceito”. O fascismo não era um episódio, um parêntese na história do seu país. Vinha de longe, derivava de questões não resolvidas, entre elas a própria forma como se fizera a “unidade” italiana, subordinando o sul da península (que, grosseiramente, poderíamos aproximar do Nordeste brasileiro). Os males brasileiros decorrem igualmente de questões que tratamos mal ao longo do tempo. Nossos períodos de democracia foram curtos, logo interrompidos por surtos duradouros de autoritarismo. Ainda pensamos muitas vezes nos quadros mentais da “estatolatria”. Os sindicatos dependem do imposto sindical getulista, quando deveriam expressar, sobretudo, a vida associativa dos trabalhadores. Os partidos, mesmo os de esquerda, estão pouco presentes na vida social e se transformam facilmente em máquinas eleitorais ou em lugares de reprodução automática de mandatos. O nexo entre partidos, políticos e cultura é frágil, quando sabemos que, hoje, sem reflexão e estudo sério a política não consegue formular boas saídas para a sociedade. Mesmo a cultura, que deve se aproximar da vida das pessoas e dos problemas da política, não pode ser de modo algum ser instrumentalizada por esta última (a política). Devemos cultivar um “cosmopolitismo moderno”, abrindo nossos horizontes e arejando nossa agenda. Ao discutirmos sobre drogas, temos de estudar a experiência de outros países, como, por exemplo, o Uruguai ou Portugal. Muitas vezes, como no filme de Fernando Grostein Andrade e Cosmo Feilding-Mellen, teremos pacientemente de ir “quebrando tabus”. Ao discutirmos sobre violência, teremos de considerar o que acontece em sociedades, como a americana, que permitem a difusão abusiva de armas. Nesta nossa longa viagem no interior da sociedade civil, marxistas de inspiração gramsciana poderão dizer alguma coisa em proveito da convivência democrática e civilizada entre pessoas de múltiplas e variadas inspirações.
Existe uma relação entre a socialdemocracia e o pensamento de Gramsci? O modelo social democrata, dos moldes dos países nórdicos, poderia ser uma solução para o Brasil?
O Brasil tem uma particularidade, uma especificidade densa, como disse acima. Não caberia reproduzir aqui o modelo clássico das socialdemocracias, que também está posto em questão neste nosso admirável novo mundo da globalização. Aliás, temos de ter o mundo como horizonte. Nossa economia deve se integrar competitivamente no cenário global, não se fechar como uma autarquia. Hoje, os reacionários são nacionalistas e até provincianos. Da socialdemocracia clássica devemos reter a preocupação central e mesmo obsessiva com saúde e educação universal. Há variados meios de obter isso, combinando ação pública e iniciativa privada, regulação estatal e mercado. E estamos muito atrasados nessas áreas, infelizmente. É inteiramente lícito que forças economicamente mais ou menos liberais, mais ou menos estatistas, disputem o comando do estado, respeitadas as regras da democracia política. Mas todas estas forças, além de cuidar do funcionamento da máquina econômica, garantindo que funcione bem e se reproduzam de modo sustentável, deveriam - por assim dizer - ter o conhecido índice Gini como referência. Ao cabo de um determinado ciclo, conseguimos nos tornar menos desiguais? O consumo coletivo - nos transportes, na saúde, na educação - ganhou fôlego e se estendeu seus benefícios ao conjunto da população, especialmente aos mais desfavorecidos? Como dizia uma faixa nas jornadas de junho de 2013, povo desenvolvido não é aquele em que o mais pobre anda de carro (ou nem sequer anda, a depender do engarrafamento...), mas sim aquele em que muitos cidadãos, das mais variadas origens sociais, trafegam lado a lado no metrô e em outros bons transportes de massa, em ambientes urbanos saudáveis para todos. Esta é uma lição da social-democracia nos seus melhores anos, que certamente temos de consultar no espírito daquele cosmopolitismo de novo tipo, atento de modo inteligente às mais variadas experiências.
A mesa redonda terá transmissão ao vivo pelo canal no Facebook da FAP: https://www.facebook.com/facefap
Convite

Giuseppe Vacca: O século XX de Antonio Gramsci
Dossiê Gramsci, oitenta anos depois
Dois mil e dezessete é um “ano gramsciano”, por marcar o octogésimo aniversário da morte do pensador sardo, em 1937. Não é de hoje sua presença no debate político e na produção acadêmica brasileira. Uma presença que não é unívoca nem tem a mesma valoração por parte de todos os que se inspiram em maior ou menor medida nos textos daquele pensador. Nossa perspectiva — democrática e reformista — é uma das formas de acolher seu complexo legado. Sem a menor pretensão de qualquer monopólio ou ortodoxia, temos um objetivo “simples” e direto: pôr Gramsci a serviço da democracia brasileira.
Acolhemos a ideia de historicizar radicalmente os escritos do pensador, relacionando-os às diferentes circunstâncias em que foram produzidos — circunstâncias que inauguram nosso tempo, mas não são nem podem ser exatamente as mesmas aqui e agora. E tudo sem censuras, cortes ou embelezamentos. Certamente, este é um pressuposto da apropriação crítica, e não doutrinária, do autor, tornando-o apto a ajudar na compreensão de nossos problemas. Frases soltas ou conceitos descontextualizados têm assim validade muito restrita, ainda que possam ressaltar o brilho do escritor. Mas, como dissemos, nosso objetivo é de outra natureza.
Aqui reunimos três referências internacionais na área. Na abertura, Silvio Pons, atual presidente da Fundação Gramsci, em Roma, e sucessivamente Francesco Giasi e Giuseppe Vacca, diretores da mesma Fundação. Um tema recorrente nestas entrevistas é a monumental Edição Nacional dos Escritos, em curso de publicação. Mas não faltam alusões a questões substantivas da atualidade: a globalização e sua crise, para não falar dos imensos dilemas da própria esquerda.
A Fundação Astrojildo Pereira (FAP) e a Fundação Gramsci atuam conjuntamente no plano editorial, especialmente na coleção Brasil & Itália, acolhida e apresentada por Armênio Guedes, dirigente histórico do PCB associado entre nós às “ideias italianas”. De Giuseppe Vacca, já publicamos Por um novo reformismo; Gramsci no seu tempo (com Alberto Aggio e Luiz Sérgio Henriques); Vida e pensamento de Antonio Gramsci, 1926-1937; e Modernidades alternativas. O século XX de Antonio Gramsci. De Silvio Pons, publicamos A revolução global. História do comunismo internacional, 1917-1991, densa narrativa do impacto do comunismo no século passado.
(Entrevista dada a Leonardo Cazes, publicada parcialmente em O Globo, 26 abr. 2017)
O senhor defende que, ao contrário do que foi feito no passado por alguns estudiosos, não é possível separar a biografia política da biografia intelectual de Gramsci. Por quê?
Gramsci é universalmente considerado um clássico do pensamento político do século XX, mas jamais escreveu um livro. É um autor póstumo que foi, antes de mais nada, um combatente político e um jornalista. Deixou-nos cerca de dois mil textos jornalísticos e políticos, cerca de 80% deles anônimos, publicados entre 1914 e 1926; uma copiosa correspondência, cuja parte mais ampla são as Cartas do cárcere, escritas entre 1926 e 1937; 33 cadernos manuscritos, os Cadernos do cárcere, escritos entre 1929 e 1935, reunidos em volume pela primeira vez dez anos depois de sua morte [a partir de 1947-1948]. Como se pode pensar em estudar seu pensamento, que nos Cadernos passa por uma contínua evolução, articulando-se gradualmente em “sistema”, se prescindirmos de sua biografia? E como interpretar seus conceitos fundamentais sem ligá-los às vicissitudes mundiais que, a partir da Grande Guerra, constituíram o campo de investigação de Gramsci e a fonte de suas reflexões mais audaciosas?
Em vários momentos, o senhor destaca a importância da leitura diacrônica da obra de Gramsci, sob o risco de se praticar reduções significativas do seu pensamento (caso de Bobbio e sua leitura de Gramsci como teórico da sociedade civil). Quais os principais pontos revelados por essa leitura diacrônica?
Recorrendo necessariamente a juízos sumários, creio poder dizer que o conhecimento da vida e do pensamento de Gramsci, acessível nos volumes publicados pela Ed. Contraponto e pela Fundação Astrojildo Pereira, dele nos oferece uma imagem global substancialmente nova e diversa daquelas elaboradas antes da Edição Nacional dos Escritos, que começou publicando, em 2007, os inéditos Cadernos de tradução. Mas, não podendo fazer uma descrição articulada destas novidades, remeto ao ensaio introdutório de meu livro Modernidades alternativas. O século XX de Antonio Gramsci. O ensaio, intitulado “Os estudos gramscianos hoje na Itália”, contém uma comparação sintética das diferenças entre os modos pelos quais era interpretado Gramsci entre os anos 60 e 80 do século passado, e os desenvolvimentos de uma nova leitura. A descontinuidade é fruto de um grande trabalho de recuperação das fontes — antes de tudo, as cartas — e do aperfeiçoamento do método diacrônico no estudo de seu pensamento, realizados por estudiosos que colaboram com a Fundação Gramsci e com a IGS [International Gramsci Society] há cerca de trinta anos.
Nos últimos dez anos, os estudos gramscianos ganharam novo fôlego, após um recuo na década de 1990, com a publicação da Edição Nacional dos Escritos de Antonio Gramsci. Qual a importância desta publicação?
A Edição Nacional, encaminhada no início dos anos 90, favoreceu a formação de uma nova geração de estudiosos que compartilham o método diacrônico na leitura dos Cadernos e interpretam o pensamento de Gramsci reconstruindo seus nexos com a história europeia e mundial do século XX. Os Cadernos do cárcere são publicados segundos novos agrupamentos — Cadernos de tradução, Cadernos miscelâneos, Cadernos especiais —, oferecendo ao leitor a temporalidade mais fiel àquela em que foram escritos. As cartas são publicadas com as dos correspondentes e, ao lado do Epistolário gramsciano, reunimos em dois volumes a correspondência entre Tatiana Schucht [a cunhada russa que lhe prestou assistência nos anos de cárcere] e Piero Sraffa [o economista que servia de elo com o PCI], bem como entre as famílias Schucht (em Moscou) e Gramsci (na Sardenha). Os escritos são republicados em ordem cronológica depois de um acurado exame das atribuições precedentes que nos permitiu inúmeras atribuições e “desatribuições”. Acrescenta-se uma seção de Documentos, em que já foi publicada a apostila que contém os apontamentos do Curso de Glotologia, de Matteo Giulio Bartoli, feitos por Gramsci no ano acadêmico de 1912-1913, fundamental para o estudo de sua formação. Portanto, a Edição Nacional é a primeira edição crítica integral dos escritos de Gramsci tratados com critérios exclusivamente filológicos e segundo o método histórico, sem sugerir nenhuma interpretação e restituindo textos e contextos de sua obra a seu tempo, como é obrigatório para um clássico do pensamento.
No seu livro Modernidades alternativas, o senhor centra sua análise em três conceitos de Gramsci: hegemonia, revolução passiva e filosofia da práxis. Especialmente o conceito de hegemonia já foi interpretado das maneiras mais diversas. De que Gramsci fala quando ele fala de hegemonia? De que maneira esse conceito permanece atual?
Vou tentar dar um exemplo. Se aplicarmos à história mundial contemporânea as lentes de Gramsci, o mundo do século XXI aparece marcado — mais do que pela globalização e por sua crise — por um conflito econômico que ameaça precipitar-se numa guerra de verdade. À luz do pensamento de Gramsci, esta situação teve origem na crise do sistema mundial do segundo pós-guerra — começada nos anos 70 do século passado e culminada com a implosão da URSS — que havia permitido décadas de estabilidade, e no surgimento de um conflito econômico mundial que se caracteriza pelo crescente conflito entre o “cosmopolitismo” da economia e o “nacionalismo” da política. Em outras palavras, as classes dirigentes não foram capazes de negociar novos equilíbrios mundiais baseados na simetria entre soberania política e soberania econômica, precipitando o mundo numa proliferação de guerras voltadas para destruir velhas soberanias políticas e abrir espaço à mercantilização, e favoreceram o desenvolvimento de neomercantilismos continentais nas “regiões” economicamente mais fortes, em crescente conflito entre si. Superado o velho sistema hegemônico mundial, não se formou nenhum outro novo e, portanto, volta à cena a equação entre a política e a guerra.
Gramsci é um intelectual profundamente marcado pelo tempo histórico em que viveu. Sua prisão talvez seja o melhor exemplo disso. Em 2017 completam-se 100 anos da Revolução de Outubro, na Rússia. Qual foi o impacto deste acontecimento na vida e na obra de Gramsci?
A vida e o pensamento de Gramsci foram marcados profundamente pela Revolução de Outubro e a luta pelo comunismo. Mas o que caracteriza aquele pensamento foi a capacidade de historicizar as novidades de seu tempo — grande guerra, comunismo, fascismo, americanismo, desmoronamento dos impérios coloniais, nova subjetividade dos povos, etc. —, elaborando um novo pensamento e uma nova capacidade política de elaborar projetos que hoje nos parecem, ao mesmo tempo, uma revisão radical do marxismo e uma refundação deste mesmo marxismo, projetada num novo tempo histórico que, acredito, ainda é o nosso.
Política Democrática #48: Razões da crise, por Caetano Araújo
A crise ocupa, há tempo, o centro do debate no país. Em poucos anos, rachaduras na fachada ética da política e alertas na economia transformaram-se numa situação de extrema instabilidade, que ameaça tragar boa parte do sistema partidário. Discute-se hoje, principalmente, os lances mais recentes do processo, seus impactos já verificados e, principalmente, num quadro de grande incerteza, diferentes prognósticos alternativos sobre o futuro imediato, geralmente na perspectiva de suas consequências políticas e eleitorais.
Menos atenção tem recebido, no entanto, a questão, crucial, da gênese da crise. Em outras palavras, como chegamos ao ponto em que estamos hoje? Procuro desenvolver aqui uma resposta tentativa, o embrião de uma hipótese a ser trabalhada. No meu argumento, a origem da crise deve ser buscada em duas dimensões diferentes: o sistema de regras que regula as eleições e as decisões estratégicas dos principais atores políticos do país, nos últimos anos. Falo, nesse caso, dos maiores partidos brasileiros, com o evidente protagonismo do Partido dos Trabalhadores, vencedor das últimas quatro eleições para Presidência da República.
Vamos à regra. Praticamos no Brasil, nas eleições para deputados (federais, estaduais e distritais) e vereadores, o sistema de voto proporcional com listas abertas. Nele, os eleitores podem votar em legendas ou em candidatos das listas apresentadas pelos partidos políticos. As listas não são pré-ordenadas, de modo que o total de votos de cada partido (soma dos votos da legenda e de todos os nomes) determina o número de cadeiras que cada um obteve, enquanto a entrada dos candidatos é defnida pela ordem decrescente dos votos obtidos.
Importa lembrar que este sistema é uma invenção genuinamente nacional. Foi formulado por Assis Brasil, na década de 1930, com o objetivo de conciliar o voto em partidos, característico para ele de democracias modernas, com o voto em pessoas, que vigorou durante o Império e a República Velha. É usado entre nós desde 1945, de modo que muito provavelmente não há eleitores brasileiros vivos que tenham conhecido outro sistema.
Na comparação internacional, o sistema não teve tanto sucesso. Apenas a Polônia e a Finlândia nos acompanham hoje. A grande maioria dos países democráticos escolheu entre três outras alternativas: votar em pessoas, adotando o voto distrital; votar em partidos, com o voto proporcional em listas fechadas ou flexíveis; ou votar em pessoas para uma parte das cadeiras e em partidos para a outra parte, nos sistemas chamados mistos.
São conhecidas as críticas ao nosso sistema: personalização das campanhas, com as contrapartidas inevitáveis de sua despartidarização e despolitização; campanhas caras; influência do poder econômico; défcit de legitimidade junto aos eleitores. Como sabemos, tudo isso é verdade. Aqui candidatos arrecadam e gastam recursos de forma autônoma e concorrem todos contra todos, principalmente contra seus companheiros de legenda.
O foco de suas campanhas não é apresentar uma plataforma partidária comum, mas os pontos de singularidade política que os diferenciam dos demais candidatos de seus partidos. Os poucos dados disponíveis mostram que as campanhas eleitorais no Brasil são as mais caras do mundo e seu custo foi crescente, pelo menos até a recente exclusão das empresas do universo de doadores de recursos. Não são de surpreender, portanto, as evidências do uso crescente de recursos não declarados, portanto ilegais.
Os legislativos que saem dessa peneira são dispersos, fato que acumula difculdades para presidentes, governadores e prefeitos construírem suas bases de apoio. Não por acaso, todos os presidentes eleitos depois de 1988 foram favoráveis à reforma política.
Eleitores
Para os eleitores, o resultado da dispersão signifca perda em termos de fscalização e controle sobre os parlamentares. No sistema de voto distrital, essa fscalização é exercida diretamente porque os eleitores sabem exatamente quem é o deputado que os representa. No sistema de voto proporcional com listas fechadas ou flexíveis, a fscalização é feita por intermédio dos partidos, que são eleitos a partir de uma plataforma e zelam pelo cumprimento do pacto eleitoral por parte dos deputados.
No nosso sistema de voto proporcional com listas abertas, a fscalização direta dos eleitores é difícil, porque o eleitor não pode determinar quem é o seu representante e a fscalização partidária impossível, por não haver os partidos fortes de que necessitaria.
Em compensação, a fscalização por parte dos fnanciadores das campanhas é permanente, uma vez que as duas partes se conhecem, sabem quanto foi aportado e a sua importância para trazer o deputado à cadeira que ocupa. Portanto, tampouco é por acaso que legislativos, parlamentares e partidos são campeões na desconfança dos eleitores, segundo as pesquisas disponíveis.
Tais problemas foram camuflados no passado, em situações em que o número de eleitores era menor, como no período 1945/1964, e as restrições à liberdade de imprensa maiores, como na ditadura militar posterior a 1964. A Constituição de 1988, contudo, consagrou uma série de avanços democráticos que se revelaram incompatíveis com a continuidade da nossa regra eleitoral: sufrágio universal, liberdade de imprensa e autonomia do Ministério Público.
A contradição entre a regra eleitoral e os avanços da Constituição é demonstrada pela sequência de escândalos ligados ao fnanciamento da política no país a partir da década de 1990. Para fcar só nos principais, tivemos sucessivamente o impedimento de Collor, os anões do orçamento, as operações Satiagraha e Castelo de Areia, o Mensalão e, agora, a Lava-Jato, ainda em curso.
Em síntese, nossa regra eleitoral gera um ambiente de competição na qual partidos e candidatos que recusam qualquer recurso de campanha de origem não legal têm difculdade crescente de concorrer com aqueles que se integram a esses canais de fnanciamento. Quando isso ocorre, a corrupção política deixa de ser residual, ou seja, algo que pode ou não ocorrer em determinado pleito, e passa a ser estrutural.
Resta indagar as razões da persistência dessa regra por quase três décadas. Penso que a resposta deve ser procurada nas estratégias de alianças desenvolvidas pelos maiores partidos brasileiros, em especial o PT.
Tendência
Hoje a situação parece improvável, mas no período entre a posse e a queda de Collor ganhou corpo uma tendência à aliança entre PT e PSDB para as eleições presidenciais seguintes. Essa tendência começou a perder força com a opção do PT de não participar do governo Itamar e, principalmente, com o lançamento do Plano Real, duramente criticado pelo partido. Nos dois mandatos de Fernando Henrique, o PT fez oposição sistemática a toda a agenda modernizante do governo e à possibilidade de aliança fcou mais distante.
No início do governo Lula, a situação havia mudado. Depois de uma pauta de campanha que aceitou o processo de estabilização da economia, com todas as suas implicações; de uma transição de governo bem-sucedida; da defesa, ainda que tímida, de uma agenda reformista que contou com o apoio do PSDB, na oposição, e do PPS, então no governo, uma janela de oportunidades para uma nova política de alianças do PT parecia aberta. Contra essa nova política, pesavam dois fatores importantes: a forte resistência das bases do PT, educadas num discurso político salvacionista, e a oferta permanente de apoio, mais fácil e imediato, de uma grande massa de deputados situados politicamente entre o fsiologismo e o conservadorismo.
O momento decisivo para a defnição ocorreu no início de 2003, quando a proposta de reforma política apoiada por PT, PSDB, PFL, PDT, PSB e PPS, de listas fechadas com fnanciamento público de campanha, estava a ponto de ser votada em plenário. Por pressão dos demais partidos, o PT retirou seu apoio ao projeto, enterrou a reforma política e demarcou seu campo de alianças, tendo como principal referência aliada a centro-direita conservadora.
Vale lembrar que esse movimento do PT não apenas assegurou mais 15 anos de vigência à regra eleitoral, mas, como a aliança replicou-se nos estados, deu sustentação política a velhas elites regionais e, consequentemente, a suas bancadas parlamentares, concentradas nos partidos contrários à reforma.
O PT teve uma segunda oportunidade de redirecionar sua política de alianças. Em 2013, na onda das manifestações populares, que tinham na mudança da política um dos pontos centrais de reivindicação, a presidente Dilma poderia ter encabeçado uma ampla concertação parlamentar pela reforma política. Ao invés de fazê-lo, optou por insuflar propostas diversionistas que em nada resultaram, como plebiscito ou Constituinte exclusiva.
Parece evidente hoje que essa política redundou num fracasso completo. Poderia ser avaliada como um sucesso parcial se os objetivos do governo fossem manter inalterado o status quo econômico, social e político do país. No entanto, à luz dos objetivos declarados nas campanhas do PT, ou seja fazer avançar a democracia e recuar a pobreza e a desigualdade, essa política de alianças deve ser reprovada em toda linha.
Além disso, nas duas variantes que se sucederam, a aliança com o chamado “centrão” aumentou a vulnerabilidade do partido. A tentativa, no primeiro governo Lula, de governar com o apoio do PMDB, mas sem a sua participação proporcional, resultou no Mensalão. A incorporação do PMDB no governo, por sua vez, alimentou a Lava-Jato.
Se essa política deve ser vista com as informações de que dispomos hoje, como um erro colossal, como compreender sua adoção e manutenção por anos a fo? É claro que alguns sucessos do governo Fernando Henrique e do primeiro período de Lula alimentaram a visão da política brasileira como o palco no qual dois partidos programáticos gerenciavam o apoio do fsiologismo. Essa imagem de Werneck Vianna, muito citada por Fernando Henrique, descrevia bem a situação do momento. Nada dizia, contudo, sobre a sustentabilidade desse arranjo no médio prazo.
Podemos especular sobre as motivações pragmáticas do PT para se diferenciar do seu concorrente direto nas disputas presidenciais. Podemos ainda discutir uma tendência possível de interpretar o conjunto da política nacional através do prisma da conjuntura paulista. Penso ser mais produtivo analisar as premissas que podem ser usadas para justifcar essa opção. Na minha opinião, são três essas premissas, todas devidamente desmentidas pelos fatos.
Estado
Em primeiro lugar, a preponderância do Estado sobre a sociedade, tributária da ideia antiga que faz depender todo movimento de mudança à condução esclarecida de uma vanguarda, capaz de recolher as demandas populares e processá-las na forma de decisões políticas racionais. Nesse aspecto, as jornadas de 2013 mostraram que alguma coisa não funcionava como previsto.
Em segundo lugar, a preponderância do Executivo sobre o Legislativo. Outra ideia antiga que afrma a capacidade de o Executivo impor sua vontade aos legisladores como uma constante da política. O processo de impeachment desmentiu essa premissa, ao menos na sua versão absoluta.
Em terceiro lugar, a neutralidade política do fsiologismo, do atraso, do centrão, qualquer que seja o nome dado ao grupo de parlamentares que se posiciona na política mais do lado da oferta, menos no da demanda, de apoio parlamentar. Menos expostos às cobranças partidárias, esses deputados tendem a ser, no entanto, mais sensíveis às demandas dos grupos empresariais que fnanciam suas campanhas, como fcou demonstrado em diversas votações em que os interesses do governo foram contrariados nos últimos anos.
* Caetano Araújo é sociólogo, professor da Universidade de Brasília e consultor legislativo do Senado Federal
** Artigo publicado originalmente na Revista Política Democrática #48
Política Democrática #48: A crise parece não ter fim
A delicada e complexa crise que o Brasil enfrenta e que foi ampliada e aprofundada nos últimos anos, continua perturbando e intranquilizando a vida do país e de cada brasileiro, em particular. Até agora, as primeiras providências, e consideradas essenciais pelo governo de transição, efetivamente não constituíram nem constituem os únicos passos corretos e concretos em direção ao equilíbrio das contas públicas e à retomada do crescimento econômico.
Permita-se lembrar que a base da maior parte dos problemas de hoje – cerca de 2/3 dos gastos federais se destinam ao funcionalismo e à previdência – foi o aniquilamento das contas públicas pelos governos petistas (de Luiz Inácio a Dilma), num total descompromisso de suas gestões com as metas fscais.
Representantes dos diferentes núcleos da sociedade (empresários, trabalhadores, especialistas) têm se manifestado de que não estão sentindo que a saída da grave crise está a caminho, e, o que é pior, reduz-se, cada vez mais, o número dos que acreditam que os atuais ocupantes do Palácio do Planalto tenham capacidade e autoridade para deter esta marcha tresloucada que o país vive, cujo desfecho continua imprevisível.
O mais grave é que, ao lado da paralisia e da redução da atividade econômica e dos seus efeitos, sobretudo o desemprego (continuamos com 13 milhões e meio de pessoas fora do mercado de trabalho) e a insegurança da cidadania (aqui há mais mortes por assassinatos que mortes em países em guerra), sofremos uma crise demolidora da política e dos que a praticam, particularmente porque a expressiva maioria dos que deveriam servir ao público, nada mais fazem do que se servirem do público. O Brasil, lamentavelmente, é o quarto país mais corrupto do mundo, estando à frente até da Venezuela bolivariana de Nicolás Maduro.
Nesta edição, autores com as mais diversas visões sobre o quadro nacional buscam revelar aspectos, os mais variados, sobre este complicado período que os brasileiros vivem, destacando algumas incongruências vindas do governo central, o peso da Operação Lava-Jato em aspectos vários de quantos controlam, a seu talante, a máquina estatal, particularmente nos poderes Executivo, Legislativo e até no Judiciário.
Importante ressaltar que alguns articulistas, além do rico conteúdo de suas análises, defendem o apoio aos atuais projetos de reforma trabalhista e da previdência, assim como apresentam propostas de saída, sobretudo considerando que temos que nos preparar, desde já, para as eleições do próximo ano, como o momento em que o povo brasileiro deverá ser ganho para escolher seletivamente os que devem comandar o país, a partir de 2019.
E, por haver também uma crise demolidora da política e dos que a praticam no território nacional, espera-se, além de uma campanha de educação dirigida a cada homem e a cada mulher, para que saibamos melhor escolher sobretudo os nossos representantes na Presidência da República, no Senado e na Câmara, que organizemos um bloco de forças partidárias de concepção e prática democráticas e republicanas para disputar este próximo pleito, com perspectiva de colaborar para as imprescindíveis mudanças que a nação, há muito, está a exigir.
Nunca é demais lembrar que o Brasil aguarda que se façam as chamadas reformas de base, a começar por uma efetiva reforma política, e não por simples remendos, ora discutidos na Câmara e no Senado, que buscam nada mais que manter as condições propícias para que muitos se mantenham em seus cargos, como forma de continuarem manipulando a máquina estatal e dela se aproveitando para usufruírem de uma vida nababesca e desflando pelos espaços de visibilidade sob a cobertura de tevês, rádios, revistas e jornais.
Outras reformas indispensáveis são a da máquina do Estado, de forma a reduzir o número excessivo e desnecessário de servidores (somos no mundo um dos primeiros países na quantidade de funcionários e no valor dos salários que pagamos); alterar radicalmente o sistema tributário brasileiro, que pune violentamente o cidadão comum e protege os que efetivamente devem pagar impostos e têm tranquilas condições de fazê-lo; dentre outras reformas.
Esta edição merece que mergulhemos nela, sem mais delongas: http://www.fundacaoastrojildo.com.br/2015/2017/08/15/politica-democratica-48/
Boa leitura!
Os Editores
Michel Zaidan Filho: Reflexões sobre a revolução russa no ano do seu centenário
Este artigo pretende discutir algumas questões relacionadas à experiência da maior revolução socialista da história da humanidade, a Revolução Russa, que completa neste ano 100 anos. Como se trata de um movimento revolucionário que inspirou, pela teoria e pela prática, milhões de ativistas e militantes sociais no mundo, escolhemos alguns pontos desse grande acontecimento histórico para analisar, em perspectiva das lições e aprendizados para a luta social do século XXI. Primeiro, a questão ocidente versus oriente. Segundo, a relação nacionalismo, luta anti-imperialista e revolução. Terceiro, o lugar da democracia liberal, no processo revolucionário. Quarto, a dialética entre o nacional e o internacional Quinto, a questão camponesa. Sexto, a relação entre democracia e socialismo. Sétimo, a questão da universalização do “modelo” da Revolução russa.
I
O primeiro ponto a se considerar sobre a Revolução Russa, numa retrospectiva de 100 anos, é se ela foi a última revolução europeia contra o capitalismo, do século XIX, ou se ela pode ser caracterizada como a primeira na periferia do mundo capitalista?
É de se lembrar de que a Revolução Francesa iniciou um ciclo revolucionário, na Europa (e no resto do mundo), que se fecha com a derrota da Comuna de Paris (1781). Até a Comuna, é possível vislumbrar um conjunto de influências revolucionárias tais como: o anarquismo, o blanquismo, o socialismo pré—marxista etc. Ou seja, onde é patente a presença de ideias europeias e de militantes sociais europeus naquele movimento, sendo a influência das ideias de Marx muito pequena ou quase nula. (Vejam-se, a propósito, as críticas de Marx aos “comunards” franceses, nos manuscritos guardados no Museu de História Social de Amsterdam, e as de Lenin, no ensaio “As duas táticas da socialdemocracia russa” à Comuna de Paris). Já a Revolução Russa trai a participação decisiva dos bolcheviques e a orientação marxista na condução do movimento revolucionário, sem desprezar o papel de anarquistas, dos camponeses, soldados e marinheiros. Sobre isso, há um longo debate entre revolucionários russos (não marxistas) e o próprio Marx sobre os caminhos disponíveis para a Revolução na Rússia, incluindo as possibilidades de uma passagem da antiga economia agrário-camponesa russa diretamente para o socialismo, muito ao contrário da ortodoxia engelesiana da necessidade de uma “revolução democrático-burguesa”. (Vejam-se as cartas de Marx a Vera Zazulitch, em comparação aos fragmentos publicados por Eric Hobsbawn, em “Formações econômicas pré-capitalistas”). Se for possível tomar a formulação leninista sobre o Imperialismo, e adotar a tese de que a Revolução se daria no “elo mais fraco” da cadeia imperialista, então temos de admitir que a Revolução Russa fosse a última grande revolução socialista europeia, já no século XX. É assim que se pode interpretar a análise de Gramsci sobre “a guerra de movimento”, em referência à revolução. E seu prognóstico de que as futuras revoluções no Ocidente seriam “guerras de posição”. (Veja-se Nota sobre Maquiavel, a Política e o Estado Moderno).
Independentemente da controvérsia sobre a ortodoxia revolucionária dos bolcheviques e a natureza de sua revolução, é indiscutível que Lenin se louvará nas obras de Marx para defender a Revolução Russa. Como se sabe, nenhuma revolução se faz de acordo com um manual; ocorre sempre dentro de circunstâncias bem determinadas. E a despeito do estatuto teórico duvidoso de muitas das posições leninistas, podemos aceitar o caráter socialista da revolução, num contexto de guerra e cerco das potencias imperialistas à Revolução de Outubro.
Nesse sentido, a Revolução Russa pode ser considerada a primeira Revolução Socialista (vitoriosa) da história contemporânea. E que teve um formidável efeito multiplicador das ideias revolucionárias no mundo inteiro: na Europa e fora dela.
II
Outro ponto importante tem a ver com a discussão sobre nacionalismo (ou luta anti-imperialista), democracia liberal e socialismo. Os que apontam na direção do “comunismo de guerra” dos primeiros anos, se dispõem a admitir que originalmente trata-se de uma revolução anti-imperialista, onde uma espécie de acumulação primitiva faz muitas concessões à propriedade agrária dos camponeses. Sendo, portanto, impossível caracterizar esse momento da luta revolucionária como uma construção socialista. É a etapa da chamada “Nova Política Econômica”, em que de fato abre-se um espaço para propriedade camponesa, a fim de que os camponeses apoiem a revolução, num momento crucial de sua existência. A defesa da Revolução é mais importante do que a socialização das terras, num contexto de uma pequena classe operária industrial e do oceano agrário que era a Rússia nesse então. Buscar uma base doutrinária em Marx, Engels, Kautsky ou Chayanov para justificar essas medidas é inútil e desnecessário. As medidas de Lenin se devem ao calor da hora e a urgência de garantir o apoio campesino á Revolução.
Poder-se-ia objetar que tais concessões levariam a um reforço à mentalidade de proprietário do pequeno camponês. E que num momento seguinte, seria necessária a expropriação da pequena propriedade. Mas a questão foi adiada e coube a Stalin resolvê-la, pela força, desorganizando até hoje a agricultura russa.
III
Mais complicado é, sem dúvida, a questão da democracia liberal. Num momento em que a Assembleia Constituinte estava funcionando e mantinha a pluralidade partidária, tanto quanto os Conselhos de Operários e Soldados, os bolcheviques decidiram fechar a ele órgão de representação política e os Conselhos, sob a alegação de conspiração ou oposição contrarrevolucionária à nova ordem instituída. O que teria levado Rosa Luxemburgo a dizer que a democracia e a liberdade de expressão só se colocam para quem diverge de nós, não para quem pensa igual à gente. Na verdade, a questão da democracia no âmbito da cultura marxista-leninista sempre foi encarada como um expediente tático. Nunca como estratégia revolucionária. Seria necessário aguardar o pensamento de Antônio Gramsci e seus intérpretes, para que fosse possível repensar “a hegemonia como contrato”, ou “rousseunizar” Gramsci, como diz o ensaísta brasileiro Carlos Nelson Coutinho. (“Marxismo e Teoria Política”). O núcleo duro da teoria política marxista vê o Estado como um instrumento político à serviço da classe dominante. Dessa forma, a democracia só pode ser vista como um expediente tático, para acumulação de forças, em direção à revolução socialista. Daí o caráter das alianças políticas da classe operária e seu partido.
IV
Outra questão relevante é a dialética entre o nacional e o internacional, que depois estaria no centro do movimento comunista internacional, envolvendo Stalin e Trotsky. A revolução socialista é mundial ou pode fazer, inicialmente, concessões a minorias nacionais? – Como se sabe, desde “o” Manifesto Comunista”, Marx admite que a emancipação do proletariado moderno não pode se dá, isoladamente, neste ou naquele país. Tem de ser um movimento internacional, sob pena da contrarrevolução triunfar. Como o próprio capitalismo ajuda a escrever uma história mundial, a revolução socialista tem ser, também, em escala mundial. Mas as circunstâncias históricas onde ocorreu a Revolução Russa (tanto internas, quanto externas) foram determinantes no recuo estratégico e a defesa da União Soviética, durante o “comunismo de guerra”. Antes mesmo de Stalin proclamar a doutrina do “socialismo em um só país”, o próprio Lenin já reconhecia que era preciso consolidar a revolução e para isso, seria necessário fazer certas concessões ora aos camponeses ora às nacionalidades ora a burocracia residual do velho regime. Rosa Luxemburgo foi a primeira a chamar a atenção do líder bolchevique de que tais concessões poderiam representar, no futuro, uma ameaça ou entrave para a constituição de uma verdadeira República Soviética. Mas naturalmente prevaleceu a opinião de Lenin, depois muito reforçada por Stalin no debate com Zinoviev e Trotsky. Difícil seria, como em outros casos, achar uma segura base doutrinária para essa tese, já que se tratava de um arranjo tático numa conjuntura política crucial para a sobrevivência da Revolução (a propósito, leia-se “Um passo adiante e dois para trás” e “Esquerdismo: doença infantil do comunismo”, ambos de Lenin)
Na verdade, quando se compara a possibilidade de uma revolução socialista na Europa com aquela que se deu na Ásia e depois, na América Latina e na África, é quanto se percebe o peso da questão nacional em relação ao internacionalismo proletário. A despeito, da Internacional Comunista ter sido pensada como “o estado maior da revolução mundial”, ela foi usada por Stalin em função das conveniências políticas (nacionais) da União Soviética. Veja-se, por exemplo, o que ocorreu com os comunistas na guerra civil espanhola.
V
Outro ponto muito discutido na experiência revolucionária russa (e fora da Rússia) é o do papel dos camponeses. É preciso dizer que Marx, diferentemente de Engels, Lenin ou Chayanov, nunca morreu de amores pelos camponeses e/ou a pequena propriedade rural. É conhecida a sua famosa expressão “um saco de batatas”, referindo-se ao campesinato francês, que sempre votava a favor dos Bonaparte. (Veja-se O Dezoito Brumário de Luiz Bonaparte). Seu companheiro Engels, e depois Lenin, é quem manifestaram uma maior acuidade política em relação à questão camponesa, na Europa e fora dela. O primeiro escreveu o conhecido artigo: “o problema camponês na França e na Alemanha”. E o segundo, sempre teve o maior cuidado de contemplar as reivindicações do pequeno campesinato no processo revolucionário, sobretudo na fase democrático-burguesa da revolução. A tendência do desenvolvimento do capitalismo no campo era a proletarização objetiva dos camponeses e sua transformação em operários. Mas, subjetivamente, as coisas não eram assim. Muitos alimentavam a ilusão da posse da terra, mesmo em condições de profundo endividamento. Não eram ideologicamente a favor da coletivização da terra. Se na Europa, ainda havia resquícios de uma mentalidade feudal ou camponesa entre os trabalhadores do campo, imagine na Rússia! Na verdade, a decisão de coletivizar (à força) a agricultura soviética foi de Stalin, numa espécie de acumulação primitiva do “socialismo em um só pais”. E essa decisão custou muito caro: desorganizou a agricultura soviética até hoje.
Agora, como transformar isso numa teoria revolucionária, contemplando a situação particular dos camponeses, esse é o problema teórico. Máxime, para os países de desenvolvimento capitalista tardio. A não ser que os pequeno-camponeses fossem encarados como “aliados táticos”, numa certa fase da revolução. Depois, seriam descartados se não aderissem ao socialismo. Pessoalmente, considero a questão agrária ou camponesa como uma espécie de “ponto dollens” da teoria revolucionária do socialismo, sobretudo quando levado para a periferia do capitalismo.
VI
Já a questão da relação entre Democracia e Socialismo divide os marxistas há muito tempo. Marx, que não morria de amores pela “democracia burguesa”, pareceu não dá muita importância a essa questão. Apesar da tese dos marxistas contemporâneos, apoiados em Gramsci, apontarem para um processo de ampliação do Estado nas sociedades ocidentais, em razão da constituição de uma sociedade civil robusta e complexa, acho difícil encontrar no pensamento de Marx abrigo para uma estratégia democrática radical para o advento do socialismo. Existe, é verdade, o testamento de Engels falando do avanço eleitoral da socialdemocracia alemã, no final do século, e da possibilidade de uma vitória eleitoral do proletariado naquele país. Entretanto, esse testamento tornou-se mais um problema – na história das disputas internas no pensamento socialista, do que uma solução. Foi preciso esperar os debates do pós-guerra, para ver a elaboração daquilo que veio a ser conhecido como “eurocomunismo” e de uma estratégia democrática (processual) para o advento do socialismo.
Nada disso havia no período anterior à duas grandes guerras. O debate entre “guerra de movimento” e “guerra de posição” ainda não tinha se colocado com tanta força para os partidos socialistas do ocidente, como depois do refluxo da onda revolucionária. A questão parecia simples: Revolução Permanente, com a transmutação da revolução democrático-burguesa em revolução socialista, sob a liderança da classe operária, ou as revoluções por etapa, respeitando-se o ritmo, o caráter específico e a direção dos processos revolucionários. Como ficou conhecido, a primeira tese foi defendida por Trotsky, em sua famosa obra “A revolução Permanente”, apoiando-se no voluntarismo de Marx no contexto da revolução de 1848-1851 na França. A segunda, por Stalin e seus seguidores, em vários escritos de ocasião.
Concordando-se ou não com o ponto de vista de Trotsky, é necessário convir que sua tese estivesse mais próxima da de Marx do que a de Stalin ou mesmo das concessões táticas do gênio de Lenin. De toda maneira, a sorte da questão democrática no interior da dialética revolucionária russa, é semelhante à da questão camponesa. Nunca se achou um fundamento estratégico sólido ora para o etapismo ora para a revolução permanente. O que há são escritos políticos de ocasião, com exceção naturalmente do livro de Trotsky. Mas isso dividiu o movimento revolucionário entre aqueles que acham ser a revolução um processo mundial, sem etapas rumo ao socialismo, e outros que defendiam uma sequência necessária entre uma etapa democrático-burguesa e a revolução socialista propriamente dita. Infelizmente, como as outras questões, esse debate produziu consequências políticas sérias para a revolução nos países onde os Partidos Comunistas tinham que atuar, incluindo o caso do Brasil, da China, do México etc. Mas essa é outra história que não cabe ser tratada aqui.
A tese veiculada no 6º Congresso da internacional Comunista falava, por exemplo, de uma revolução democrático-burguesa anti-imperialista que devia realizar tarefas expropriatórias e políticas preparatórias para a revolução socialista. Esta tese hegemônica, inspirada na Revolução Chinesa, se chocava com as elaborações nacionais de outros PCs que acentuavam a necessidade de uma revolução democrático pequeno-burguesa, bem mais limitada do que aquela. Mas prevaleceu a tese da IC e os partidos comunistas se alhearam dos processos revolucionários reais, dirigidos pela chamada “pequena-burguesia”. E os responsáveis pelas elaborações nacionais foram punidos e afastados dos PCs.
VII
Finalmente, chegamos à questão crucial: pode a revolução russa servir de modelo para a revolução socialista no mundo inteiro ou para aqueles países chamados de “coloniais” ou “neocoloniais” ou “dependentes”, como diziam as teses do 6º Congresso da IC?
Faço minhas as palavras da grande revolucionária Rosa Luxemburgo, em seu opúsculo “A Revolução Russa”: não se pode transformar a necessidade em virtude, ou seja, é impossível a universalização de um tipo de revolução, que se deu em circunstâncias históricas e políticas muito particulares, a despeito da formulação leniniana do “elo mais fraco da corrente” numa época de dominação imperialista. Eram louváveis e necessários os esforços da socialdemocracia alemã e russa de analisar a especificidade do “capital monopolista” ou do “capital financeiro”, no final do século 19. E houve várias tentativas: “O Imperialismo – Etapa superior do capitalismo”, “O capital financeiro”, “Acumulação de Capital” e outros. Mas nada disso explicaria ou anteciparia as condições dramáticas em que ocorreu a revolução. Deve-se à enorme frente de militantes (anarquistas, social-revolucionários, bolcheviques) e ao gênio político de Vladimir Lênin todas as concessões táticas e estratégicas necessárias para o triunfo da onda vermelha, da defesa da Revolução e a própria constituição da URSS. Mas a leitura atenta de toda obra de Lenin, acrescida da de Trotsky e Stalin, não nos autoriza a construir um modelo universal de Revolução Socialista calcado nas vicissitudes da experiência soviética. Tanto os problemas que se apresentaram na construção socialista russa, como os advindos da mera transposição de táticas e estratégias do movimento comunista internacional para os movimentos socialistas ou de libertação nacional nos países da periferia do capitalismo foram resultantes de uma racionalização política equivocada e que trouxe mais prejuízos à causa da revolução mundial do que benefícios. De certo modo, a “queda do muro de Berlim” – tomada como uma expressão metafórica para falar da crise do socialismo realmente existente – é produto dessas contradições, ambiguidades e problemas mal resolvidos, que foram simplesmente transformados em solução.
Cabe aos revolucionários do século XXI colher as preciosas lições de grande (e única) revolução socialista para repensar a sua prática revolucionária. A rica experiência da Revolução de outubro oferece um catálogo completo dos desafios e das possibilidades de se construir um mundo mais justo, mais humano e digno para toda a humanidade.
*Michel Zaidan Filho é professor-titular do Centro de Filosofia e Ciências Humanas-UFPE
Doação de livros para modernizar o acervo da Biblioteca Salomão Malina
Objetivo da campanha lançada pela FAP é obter exemplares para enriquecer o acervo originalmente constituído pela biblioteca do falecido Salomão Malina, último secretário-geral do PCB
Germano Martiniano
A Fundação Astrojildo Pereira está lançando uma campanha de doações de livros para ampliar o acervo da Biblioteca Salomão Malina, originalmente constituído por obras pertencentes à biblioteca pessoal do falecido Salomão Malina, o último secretário-geral do PCB. A iniciativa integra um dos objetivos da nova diretoria da FAP para o biênio 2017/18, que era a modernização do local e foi alcançado após muito trabalho, com a interveniência do Ministério Público das Fundações Partidárias: a situação do imóvel no Conic (Setor de Diversões Sul), onde funciona a Biblioteca Salomão Malina, está regularizada. Agora, espera-se que, dentro 60 dias, a modernização do local esteja concluída.
De acordo com o diretor-geral da Fundação, o jornalista Luiz Carlos Azedo, “o objetivo é somar ao acervo já existente, obras mais contemporâneas, representativas do novo reformismo, de maneira que possam servir como fonte de pesquisas para estudantes e pesquisadores do assunto”.
Doações
Espera-se, por meio das doações, reunir obras dos chamados intérpretes do Brasil: Euclides da Cunha, Gilberto Freyre, Caio Prado Junior, Sérgio Buarque, José Honório Rodrigues, Victor Nunes Leal, Celso Furtado, Ignácio Rangel e outros que compõem essa linha de intelectuais. “Também pretendemos melhorar o acervo de Literatura, com as obras completas de Machado Assis, Lima Barreto, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade e Ferreira Gullar, entre outros autores”, completou Azedo.
O primeiro passo para a doação é passar para a FAP, nos contatos abaixo, os livros que se tem interesse em doar e ver se as obras encaixam-se no perfil requerido pela FAP. Posteriormente, se aprovados, o doador deverá enviar por Sedex ou PAC os exemplares a serem doados à Fundação.
Modernização
A reforma da Biblioteca Salomão Malina tem como meta renovar o local com a instalação de novas estantes, computadores, mesas, poltronas e iluminação concebidas para proporcionar melhores condições de acesso ao acervo bibliográfico físico e virtual. Na área externa, será instalada uma estante-quiosque de livre acesso ao público, além de disponibilizar acesso ilimitado à internet em toda a área da chamada Praça Vermelha. O espaço ainda contará com auditório multiuso (Espaço Arildo Doria), para 65 pessoas, que poderá ser utilizado para palestras, conferências, cursos, reuniões, e pelo Cineclube Vladimir de Carvalho.
Contato: Fundação Astrojildo Pereira (FAP)
SEPN 509, Bloco D, Lojas 27/28, Edifício Isis – 70750-504
Fone: (61) 3011-9300 Fax: (61) 3226-9756
Email: fundacaoastrojildo@gmail.com
Política Democrática: Batalha diária da cidadania
A revista Política Democrática tem 17 anos de edições quadrimestrais ininterruptas, sempre na busca de constituir-se em instrumento de discussão e difusão de conhecimento junto à sociedade brasileira, na perspectiva dos valores democráticos e republicanos, capaz de contribuir, teórica e politicamente, para o melhor entendimento de nossa realidade nacional, local e internacional, nos seus mais diversos ângulos. Na tradição de outras publicações semelhantes, temos procurado colocar à disposição do público leitor múltiplos enfoques de análise sobre os temas mais importantes da agenda do pais e do mundo.
Contam-se, entre nossos colaboradores, intelectuais polêmicos e dedicados, com presença assinalada nos debates públicos; acadêmicos de renome, estudiosos das questões políticas, sociais, econômicas e culturais que compõem as agendas brasileira e internacional; agentes políticos e sociais, independentemente de concepção política e ideológica, assim como de filiação partidária, que expõem suas opiniões, suas ideias e propostas, com o objetivo de servir à cidadania e de colaborar para que se conheça em profundidade a complexa e delicada situação em que vivemos neste início do século 21.
Trata-se de uma ousada tentativa de envolver-se com representantes da esquerda democrática, oriundos de partidos políticos, movimentos sociais, organizações não governamentais ou mesmo da academia, procurando dar voz aos diferentes argumentos, promover seu confronto e construir, no processo, consensos que sirvam de fundamento à reconstrução da esquerda brasileira, de uma esquerda com viabilidade e eficiência, capaz de promover, no curto prazo, a ampliação e o aprofundamento da democracia, o desenvolvimento da equidade no país, tendo como uma diretriz central a oportunidade igual para todos, homens e mulheres; a superação da pobreza e da exclusão social; e o combate a toda discriminação em razão de classe, gênero, etnia, cor da pele, opção religiosa e/ou ideológica.
Além da edição impressa, Política Democrática é lançada sob a forma de e-book, há mais de cinco anos, e já possui sua edição eletrônica. É um orgulho sermos bem considerados pela Qualis, um dos mais importantes sistemas brasileiros de avaliação de periódicos, mantido pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que relaciona e classifica os veículos utilizados para a divulgação da produção intelectual dos programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), quanto ao âmbito da circulação e à qualidade. Sem falar que nossa revista está inserida no SciELO (Scientific Electronic Library Online), coleção de revistas e artigos científicos de amplitude mundial.
Abertos a colaborações, sob a forma de elaboração de artigos e ensaios, ou de criticas ao nosso trabalho, estamos orgulhosos do que já alcançamos e pretendemos ir adiante, sempre procurando produzir o melhor para fazer cabeças e estimular ações na batalha diária da cidadania por uma sociedade democrática, justa e fraterna.
Vamos em frente!
Francisco Inácio de Almeida, editor da Revista Política Democrática
Refundar a Esquerda Democrática
Depois de fundada pelo Partidão na década de 20, aprofundada pelo Partido dos Trabalhadores na década de 80, infundada pela clonagem de legendas com o mesmo DNA petista nas décadas de 90 e 2000, e finalmente afundada pelos chamados governos de coalizão (feat corrupção) de Lula e Dilma, parece ter chegado a hora de refundar a esquerda brasileira com os sobreviventes deste período paleolítico e potenciais agregados, como jovens ativistas, sustentabilistas, sociais-democratas e hackers da nova política.
Não que seja tarefa simples, a começar pela definição do que é ser de esquerda ou de direita hoje. Diante da complexidade do mundo atual, o binarismo idelológico se torna cada vez mais obsoleto, extemporâneo e inconclusivo. Isto se já não bastasse, além do fracasso do socialismo no mundo, o PT ter enxovalhado esse conceito teórico sem nunca ter executado minimamente um programa de esquerda - vide os exemplos petistas em administrações municipais, estaduais e no governo federal.
As experiências mais próximas vivenciadas pelo Brasil com o que se convencionou chamar de esquerda não passaram de discursos oposicionistas e, no governo, de flertes esporádicos: com o trabalhismo populista de Getúlio Vargas, a brevidade de Jango entre o parlamentarismo oportunista e o golpe de 64, e posteriormente com os acenos à social-democracia de FHC e Lula, sendo o tucano - que surfava na onda do Real - prejudicado pelo casamento arranjado com o PFL e por episódios como a compra de votos para a reeleição; e o petista, apesar do sucesso de políticas compensatórias e ações de combate à miséria, por ter se rendido a tudo aquilo que o PT prometia enfrentar desde a sua criação.
Fato é que chegamos a esta crise sem precedentes - o que leva a população a condenar genericamente, não sem razão, a política e os políticos, mas sobretudo a esquerda, cujas ideias jamais foram implementadas por aqui. Eis o desafio de quem ainda busca vida inteligente na terra arrasada da democracia representativa brasileira, com algum viés esquerdista: a opção pela redução das desigualdades, pela justiça social, pela cidadania plena, pela distribuição de renda, pela promoção da cultura da paz, pelo papel regulador do Estado e até pela manutenção da utopia - características que em geral a direita despreza.
É neste contexto, por exemplo, que o filósofo Ruy Fausto apresenta o livro "Caminhos da Esquerda" - que a grande imprensa tem debatido - e que outros grupos vem se reunindo para tentar ir além do debate político partidarizado, polarizado, raivoso e estéril, dispostos a encontrar alguma luz no fim do túnel para transportar os ideólogos da esquerda democrática da atual arena visceral para um campo vicejante.
Se é desalentador um cenário em que as primeiras sondagens para 2018 apontem a força crescente de um Bolsonaro à direita ou a teimosa e renitente popularidade de Lula quase como um novo Macunaíma, o herói sem caráter da esquerda preguiçosa, também é verdade que chegou o momento de agir com firmeza e efetividade para construir uma alternativa melhor.
A luz que o eleitorado busca não pode ser, à esquerda, o fogo-fátuo da decomposição petista, nem o farol da direita bolsonarista que se apresenta como trem-bala mas não passa de maria fumaça. Para repor a esquerda nos trilhos, também parece pouco adequado depositar esperanças nos maquinistas de trem-fantasma Guilherme Boulos e Ciro Gomes, que se lançam com ações e pensamentos descarrilados.
Exercícios de futurologia à parte, o mais provável é que o próximo eleito seja um nome do atual sistema - até porque a necessária reforma político-partidária não deve avançar muito além dos limites protecionistas e do instinto de sobrevivência dos atuais congressistas. Alguém tarimbado e de perfil mais próximo do centro, evitando as saídas mais extremistas, é o que se busca na maioria dos partidos.
A centro-direita busca uma peça confiável na plataforma mais tradicional (Geraldo Alckmin, Rodrigo Maia ou Henrique Meirelles, por exemplo) ou reconfigurada (João Doria). A centro-esquerda não descarta um movimento de código aberto (lança balões de ensaio como Joaquim Barbosa e busca outras figuras do meio jurídico para a vaga de vice), mas deve mesmo optar por algum relançamento: Marina Silva, Eduardo Jorge, Fernando Gabeira, Cristovam Buarque e até Fernando Haddad são nomes sempre bem cotados.
Outra opção seriam os outsiders da política, salvadores da pátria que surgem como astros com luz própria e acabam quase sempre com o brilho efêmero de um vaga-lume. Historicamente podem se dar bem com um banho de marketing "collorido", como ocorreu em 1989 com o fictício caçador de marajás que se tornou presidente do Brasil. Mas o fim dos aventureiros costuma ser trágico e a eleição presidencial não pode servir como startup de malucos. Por isso é hora de reinstalar o sistema da esquerda democrática, eliminando os bugs da velha política.