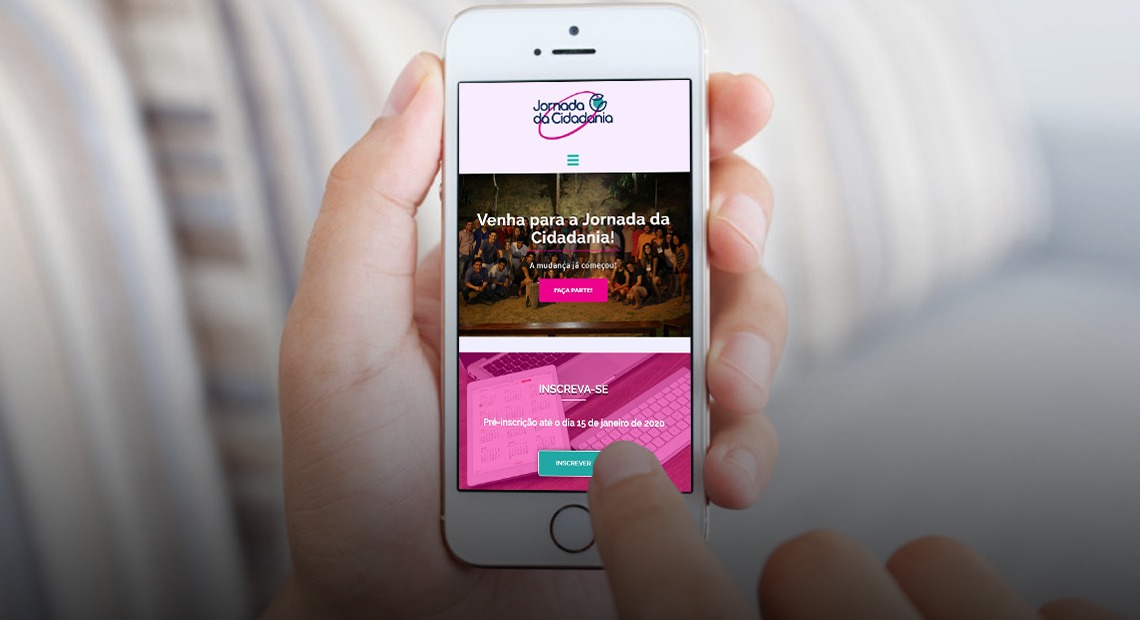fap
Ivan Alves Filho: Giocondo Dias, ilustre clandestino, no 52º Festival de Cinema de Brasília
Giocondo Gerbasi Alves Dias nasceu em Salvador, em 18 de novembro de 1913. Em 1920, como mais velho de 5 irmãos, perde o pai. Começa a trabalhar em 1925 no comércio da cidade para ajudar no sustento da família. Pouco depois entra em contato com Alberto Passos, poeta, membro do PCB e candidato a deputado federal pelo Bloco Operário Camponês. Através desse contato passa a vender o jornal legal e diário “A Nação”, publicado no Rio de Janeiro, e adere as idéias marxistas.
Desempregado em conseqüência de profunda recessão que atingiu o país no bojo da crise de 1929, alista-se como voluntário no Recife, engajando-se no 21o. Batalhão de Caçadores, em março de 1932. Em seguida, participa das tropas legais que enfrentaram a “Revolução Constitucionalista” de julho, em São Paulo.
Com o término desta, é deslocado, juntamente com seu batalhão, para o Rio de Janeiro, depois para o Mato Grosso, em seguida volta para Recife. Vai para o Amazonas, fronteira com a Colômbia, algum tempo depois é mandado para Natal. Nesta cidade em 1935, é convidado para participar da Aliança Nacional Libertadora, passando a recrutar cabos e sargentos para o movimento.
Nessa época entra para o Partido Comunista Brasileiro, e quem dirigia o trabalho do Partido no Batalhão era Quintino Clementino de Barros, único dirigente que tinha contato com a direção nacional.
Em julho de 35, a ANL é colocada na ilegalidade pelo Governo Vargas, com base na Lei de Segurança Nacional. No levante de novembro, Giocondo foi ferido, e com o fracasso do movimento foi preso, fugiu, foi ferido e novamente é preso.
Foi solto em julho de 37 com a “macedada” (medida tomada pelo Ministro J. C. Macedo Soares), juntamente com outros presos políticos acusados de envolvimento no levante de 35.
Libertado da prisão, é condenado à revelia pelo Tribunal de Segurança a 8 anos e seis meses de reclusão. Clandestino, alista como voluntário para combater ao lado das forças republicanas contra o fascismo na Guerra Civil Espanhola. Pôr motivos de saúde é impedido de viajar.
Participa da reorganização do PCB e do movimento patriótico de apoio à Força Expedicionária Brasileira. Anistiado, é eleito para compor o Comitê do PCB na Bahia. Em
1946 elege-se deputado à Assembléia Constituinte baiana e membro do Comitê Central do Partido. Com a cassação do registro do PCB e a perda de seu mandato parlamentar, sai de Salvador e fixa residência na cidade do Rio de Janeiro.
De 1949 a 1957 - entre outras atividades - torna-se responsável pela segurança pessoal do então Secretário Geral do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes. Em 1957 é eleito para compor o Secretariado e a Comissão Executiva do CC do PCB. Em 1958 participa do movimento renovador que dá origem à “Declaração de Março”, documento decisivo na reversão das tendências dogmáticas e mecanicistas reveladas no “Manifesto de Agosto” e nas resoluções do IV Congresso.
Com a eclosão do golpe de 1964, vai para a clandestinidade é condenado - novamente à revelia - a 7 anos de prisão pela 1a. Auditoria Militar de São Paulo, no famoso processo das “cadernetas de Prestes”. Com a dura repressão imposta pela ditadura aos comunistas, é chamado em 1976 a compor o C/C do PCB no exterior, fato que ocorre pela primeira vez na história do Partido.
Anistiado, retorna ao país em 1979. Nesse período as divergências no interior do Partido se aprofundam e Prestes, em minoria na direção, defendendo uma frente de esquerda e contra a luta pela legalidade, afastou-se do PCB. Em maio de 1980, no auge das divergências, a direção nacional elegeu Giocondo, Secretário Geral, depois de declarar vago o cargo.
Giocondo Dias faleceu em 07 de setembro de 1987, aos 73, como Presidente de Honra do PCB.

Fonte: Documentos existentes na Coleção
Descrição/Organização dos documentos:
A Coleção GIOCONDO DIAS é composta de documentos textuais (manuscritos e/ou datilografados), documentos impressos (livros, folhetos, panfletos, títulos de revistas e jornais) e documentos audio-visuais (fotografias).
Os documentos estão dispostos em caixas de transferência e os livros e revistas em estantes apropriadas para sua acomodação. Retratam um pouco da militância de Giocondo Dias no Partido Comunista Brasileiro.
O arranjo da Coleção tem como base duas séries principais: 1. Documentos Pessoais; 2. Documentos de Participação Político Partidária - PCB. Estas séries estão subdivididas internamente, permitindo uma compreensão melhor do conjunto dos documentos existentes. Além de documentos do PCB, encontra-se material substantivo de Partidos Comunista/ Socialistas de outros países e a coleção quase completa da Revista “Problemas”. Destaca-se ainda um dossiê sobre a questão do fascismo, organizado por Giocondo.
Série 1 DOCUMENTOS PESSOAIS
SUMÁRIO
1.1.Biografias/Entrevistas 1.2.Inquéritos Políticos 1.3.Produção Intelectual 1.4.Fotografias
1.5.Diversos
Série2. DOCUMENTOS DA ATIVIDADE POLÍTICO PARTIDÁRIA -PCB
2.1. PCB - Nacional
2.1.1.Comité CentraUDlreção Nacional
2.1.2.Dossiê. Política Agrícola/Reforma Agrária
2.1.3.Dossiê. Resoluções Políticas/Textos Sobre a Questão do Fascismo 2.1.4.Da Política Internacional - PC's Outros Países
2.1.5.Textos Teóricos
2.1.6.Periódicos
2.1.7.Livros
1. DOCUMENTOS PESSOAIS 1.1. Biografias/Entrevistas
DOCUMENTOS
GIOCONDO GERBASI ALVES DIAS. BIOGRAFIA RESUMIDA. Reproduzida do Livro "Os Objetivos dos Comunistas ".
GIOCONDO DIAS, UM HERÓI DA LIBERDADE. Texto de Ivan Alves Filho - 1 a Versão. Documento elaborado a partir de depoimento de Giocondo Dias em Paris, ainda no exílio, em 1978, e de informações prestadas por seu irmão Gerson Dias (março de 1988), e por sua filha Ana Maria Dias (abril de 1988), de bibliografia e depoimentos de militantes do PCB.
1.2. Inquéritos Políticos
GIOCONDO GERBASI ALVES DIAS. Documento incompleto contendo dados pessoais e informações sobre a atuação política de Giocondo Dias no PCB até 1957.
OFÍCIO NR 957 - SAD L Ministério do Exército. Rio de Janeiro, 23 de abril de J 993. Oficio encaminhando documento: "Certidão de Inteiro Teor - Giocondo Dias, soldado n. 633. Em anexo manuscrito.
1.3. Produção Intelectual
"As Prisões e a Desarticulação do Partido tem como causa ...". Manuscrito, sem data, traz relato de Giocondo sobre prisões de militantes do PCB até 1974, e informações sobre a desestruturação das instâncias de poder.
1.4. Fotografias
5 Fotos, sendo 4 sem identificação e l identificada: Giocondo na Hungria com Janos Kadar.
1.5, Diversos
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB. Documento datilografado, anexo manuscrito, elaborado por Giocondo mostrando cronologicamente a história do PCB, desde sua fundação até 1986.
VOZ DA UNIDADE, n. 362. São Paulo, 10 a 17 de setembro de 1987. Periódico trata, quase que exclusivamente, do falecimento de Giocondo Dias, ocorrido em 07 de setembro. Reproduz nota oficial do Diretório Nacional do PCB, intitulada "Giocondo Dias".
2. DOCUMENTOS DA ATIVIADE POLÍTICO PARTIDÁRIA – PCB 2.1. PCB-Nacional
2.1.1. Direção Nacional/Comité Central
TESES. Comité Central do Partido Comunista Brasileiro. Voz Operária n. 19 (Suplemento Especial), 20 de julho de 1966.
RESOLUÇÃO POLÍTICA. Comité Central do Partido Comunista Brasileiro, 1966.
DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LINHA POLÍTICA. Comité Central do Partido Comunista Brasileiro, setembro de 1971. Documento discute a necessidade de fortalecer a luta dos operários, camponeses, camadas médias urbanas e dos estudantes. Trata ainda da questão da organização interna do partido.
INFORAÍE SECUNDARISTA. Comissão Executiva do CC do Partido. Comunista Brasileiro, s/d.
2.1.2. Dossiê - Política Agrícola/Reforma Agrária
ANAIS DO II CONGRESSO FLUMINENSE DE LAVRADORES. Niterói, agosto de 1960. Constam os relatórios das Comissões de Política Agrícola, de Associativismo Rural, de Crédito Rural, de Mecanização da Lavoura, de Educação e Ensino, de Endemias Rurais, de Recreativismo Rural de Cooperativismo, de Assistência Social.
A POLÍTICA AGRÍCOLA E A REFORMA AGRÁRIA DA DITADURA (1972, data provável). Documento analisa a estrutura fundiária do pais entre os anos 1940 - 1970, as relações de trabalho no campo e as propostas do governo militar.
O PROTERRA (1979, data provável). Documento analisa o decreto que instituiu o PROTERRA e faz uma avaliação da legislação relativa ao campo no pós 64.
ESTRUTURA AGRÁRIA BRASILEIRA (1969, data provável). Documento analisa a estrutura fundiários do país, levando em consideração as relações de trabalho no meio rural.
2.1.3. Dossiê - Resoluções PotíticasfTextos Sobre a Questão do Fascismo
POR UMA FRENTE PATRIÓTICA CONTRA O FASCISMO. Resoluções Políticas do Comité Central do Partido Comunista Brasileiro, Edições SAP, novembro de 1973. Documento analisa a conjuntura nacional, denunciando as atrocidades cometidas pelo governo militar de Garrastazzu Médice.
A LUTA PELA UNIDADE DA CLASSE OPERÁRIA CONTRA O FASCISMO. J. Dimitrov, 1935. Reprodução do documento apresentado ao Vil Congresso Mundial da Internacional Comunista, realizado em 02 de agosto de 1935.
OS CARACTERES FUNDAMENTAIS DA DITADURA FASCISTA. Ia. LIÇÃO SOBRE O FASCISMO. Palmiro Togliatti, 1935. Documento analisando a questão do fascismo a partir das definições/deliberações formuladas pelo XIII Pleno da Internacional Comunista.
O "PARTIDO DE NOVO TIPO" DA BURGUESIA. 2a. LIÇÃO. Palmiro Togliatti, 1935. Documento analisando a questão do fascismo a partir das definições/deliberações formuladas pelo XIII Pleno da Internacional Comunista.
UNIDADE Nacional. Palmiro Togliatti. Rinascita, n. 3, 1944. Documento analisa a questão da unidade nacional como forma de barrar o avanço do fascismo.
PELA UNIDADE DA CLASSE OPERÁRIA CONTRA O FASCISMO (Discurso de Encerramento do VII Congresso da Internacional Comunista, pronunciado por Dimitrov, em 13 de agosto de 1935). Esse discurso "foi publicado com pequenas supressões", emJ. Dimitrov "Obras Completas", tomoX.pp. 132-175, Editora do PCB, 1954.
ENSINAMENTOS DO VII CONGRESSO DA IC (Relendo Dimitrov). Giorgio Amendola. Crítica Marxista, n. 4, julho/agosto de 1965. Documento faia sobre o 30o. aniversário do VII Congresso da Internacional Comunista, realizado em agosto de 1935).
NOSSO PARTIDO. Palmiro Togliatti. México, 1971. Texto reproduzido dos "Escritos Políticos de Palmiro Togliatti", analisando a questão ao fascismo.
A OFENSIVA DO FASCISMO E AS TAREFAS DA INTERNACIONAL NA LUTA PELA UNIDADE DA CLASSE OPERÁRIA CONTRA O FASCISMO, 1972. Trechos escolhidos e seleção de trabalhos de J. Dimitrov analisando a questão do fascismo.
DECLARAÇÃO AO POVO ESPANHOL DA JUNTA DEMOCRÁTICA DA ESPANHA. Mundo Obrero, ano XLIV - n. 14. Espanha, 31 de julho de 1974. Documento analisando o fim do franquismo e a importância da unidade popular na luta pela democracia.
TRECHO CLÁSSICO DA INTERVENÇÃO DE J. DIMITROV, NA REUNIÃO DE 2 DE JULHO DE 1934, NA COMISSÃO PREPARATÓRIA DO INFORME DO 2o. PONTO DA ORDEM DO DIA "O A VANÇO DO FASCISMO E AS TAREFAS DA IC NA LUTA PELA FRENTE ÚNICA OPERÁRIA CONTRA O FASCISMO", Do VII CONGRESSO DA IC. Documento de uma página, sem data, contendo alguns questionamentos sobre a social-democracia.
O FASCISMO CONTEMPORÂNEO EA REALIDADE DE SUA AMEAÇA, Documento sem data analisando o Simpósio Internacional sobre "As novas formas do perigo fascista, do reforçamento da reação e a luta pela democracia", realizado em Essen (RFA). O evento foi organizado pela redação da Revista Problemas da Paz e do Socialismo, com a colaboração do Partido Comunista Alemão, e contou com representantes dos partidos comunistas de 21 países, entre eles, o Brasil.
A SOCIEDADE CAPITALISTA E O FASCISMO. Alexander Galkin. Revista Ciências Sociais - URSS. Documento, sem data, analisa a questão do fascismo como consequência da crise do capitalismo, apontando a luta pela democracia como saída para o problema.
"APRESENTAÇÃO". Texto sem título escrito por Jean Rony. Trata dos cursos sobre o fascismo, ministrados por Palmiro Togliatti, entre os meses de janeiro e abril de J 935.
MAQUIÁVEL-A POLÍTICA E O ESTADO MODERNO (trechos). António Gramsci, s/d. Texto trata da crise orgânica dos partidos políticos.
BIBLIOGRAFIA MÍNIMA. S/l., s/d. Bibliografia sobre a questão do fascismo.
2.1.4. Da Política Internacional - PC's Outros Países
LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UNION SOVIÉTICA (Informe dei Camarada V. Molotov, Presidente dei Consejo de Comisarios dei Pueblo de Ia URSS y Comisario dei Pueblo de Negócios Extranjeros, en Ia VII Sesion dei Soviet Supremo de Ia URSS (J de agosto de 1940). Moscú, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1940.
21 DIAS INOLVIDABLES EN LA UNION SOVIÉTICA ... Discripcion de una visita hecha por una delegacion de Ia Union Internacional de Estudiantes - UIE, 1950.
DECLARACION DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPANA. El Comité Ejecutivo dei Partido Comunista de Espaha, julio de 1960.
ESPANHA. Janeiro de 1963. Manoel Azcarete. Documento contém um histórico sobre a política espanhola a partir de 1931, e a inserção do PC no processo de luta pela democracia.
UNION DE LÃS FUERZAS REVOL UCIONARIAS Y ANTIIMPERIALISTAS DE AMERICANA LATINA. Luiz Corvalan L. (Secretario General dei Partido Comunista de Chile). Santiago, 1967.
COMO DETENER LOS AVANCES DE LA REACCION INTERNACIONAL Y NACIONAL (informe rendido ante el Comité Central Ampliado dei Partido Comunista realizado durante los dias 26 y 26 de febrero de 1966). Victorio Codovilla. Buenos Aires, 1966.
"MESA-REDONDA SOBRE UM TEMA DECISIVO PARA O FUTURO DA HUMANIDADE...", 1966. Documento sem título.
2 - 1967. "ÍNDICE -1. A REVOLUÇÃO EGÍPSIA - DESENVOLVIMENTO E PERSPECTIVA ". Ass. HaledMahi El-Din. Documento sem título.
N. l de 1967. "ÍNDICE - A EXPERIÊNCIA DA GUINÉS E O DESENVOLVIMENTO PROGRESSISTA NA ÁFRICA". Ass. Sikhe Camará. Documento sem título.
GRÉCIA: A DITADURA DA JUNTA E A LUTA CONTRA ELA. Zisis Zografos. Grécia, 1967. Consta análise sobre o golpe de 1967. Texto foi publicado na "Revista Internacional", dezembro de 1967.
PROVÁVEL EVOLUÇÃO POLÍTICA DOS ESTADOS UNIDOS NA AMÉRICA LATINA. Dezembro de 1969. Documento analisa a mudança do comportamento dos EUA frente aos países da América Latina, tendo em vista as derrotas sucessivas do governo americano na guerra do Vietnam.
"POR UM PARTIDO DE MASSAS NAS CONDIÇÕES DA DITADURA MILITAR. Athos Fava (membro da CE, Secretário do CC do PC da Argentina). Argentina, 1972, Documento analisa o golpe militar de 1966, relatando as torturas e mortes praticadas, mas ressalta a onda de manifestações contra o regime que começaram a eclodir a partir de 1971.
DECLARAÇÃO DO PC DO CHILE. EM QUALQUER CASO, O REVOLUCIONÁRIO DEVE PARTIR DA LUTA REAL DAS MASSAS -NÃO SE PODE EXCLUIR NEM A GUERRA CIVIL Chile, Partido Comunista do Chile, 1973.
COMUNICADO DO CC DO P.CE. Espanha, Partido Comunista Espanhol, 1974.
O "MOVIMENTO, AS FORÇAS ARMADAS E A NAÇÃO - MANIFESTO. Portugal, 1974. Documento do PC português analisando a conjuntura política em Portugal e mostrando os reflexos da crise política sobre as forças armadas.
(Caixa 1)
2.1.5. Textos Teóricos
TAVARES, Maria da Financeiro Recente,
"Mercados de Capitais
Brasileiro de Mercado de Capitais).
Conceição. Natureza e Contradições do Desenvolvimento setembro de 1971. Texto apresentado no Seminário Sobre
e Desenvolvimento Económico", promovido pelo IBMEC (Instituto
CARDOSO, Fernando Henrique. O Modelo Político Brasileiro, 1971. Texto apresentado em Seminário na Universidade de Yale, realizado em 23 de abril de 1971.
OLIVEIRA, Francisco de. A Economia Brasileira: Notas para uma revisão teórica, s/d.
2.1.6. Periódicos
BOLETIM DO DEPARTAMENTO NACIONAL DA CRIANÇA, RIO DE JANEIRO, Ministério de Educação e Saúde, 1951.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN, 20 (84). Documentos de los Partidos Comunistas y Obreros. Artículos e Intervenciones. Praga, 1966.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN, 4 (92). Documentos de los Partidos Comunistas y Obreros. Artículos e Intervenciones. Praga, 1967.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN, 4 (92). Documentos de los Partidos Comunistas y Obreros. Aticulos e Intervenciones. Praga, 1967.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN, 5 (93). Documentos de los Partidos Comunistas y Obreros. Artículos e Intervenciones. Praga, 1967.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN, 6 (94). Documentos de los Partidos Comunistas y Obreros. Artículos e Intervenciones. Praga, 1967.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN, 7 (95). Documentos de los Partidos Comunistas y Obreros. Artículos e Intervenciones. Praga, 1967.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN, 18 (106). Documentos de los Partidos Comunistas y Obreros. Artículos e Intervenciones. Praga, 1967.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN, 2 (114). Documentos de los Partidos Comunistas y Obreros. Artículos e Intervenciones. Praga, 1968.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN, 3 (115). Documentos de los Partidos Comunistas y Obreros. Artículos e Intervenciones. Praga, 1968.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN, 16-17 (128-129). Documentos de los Partidos Comunistas y Obreros. Artículos e Intervenciones. Praga, 1968.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN, 18 (130). Documentos de los Partidos Comunistas y Obreros. Artículos e Intervenciones. Praga, 1968.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN, l (137). Documentos de los Partidos Comunistas y Obreros. Artículos e Intervenciones. Praga, 1969.
BOLETIN DE INFORMACIÓN, 4 (140). Documentos de los Partidos Comunistas y Obreros. Artículos e Intervenciones. Praga, 1969.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN, 1-2 (161-162). Documentos de los Partidos Comunistas y Obreros. Artículos e Intervenciones. Praga, 1970.
CONJUNTURA ECONÓMICA. Ano XXII - n. L Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, janeiro de 1968.
CUESTIONES ACTUALES DEL SOCIALISMO, n. 4. Revista Trimestral. Jugoslávia/Belgrado, abril-jitnio 1967.
DADOS 213. Publicação Semestral o Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1967.
ESTUDOS, Ano I-n. 2. Edições SAP, março de 1971. ESTUDOS, Ano I-n. 3. Edições SAP, dezembro de 1971.
ESTUDOS SOCIAIS. Ano I - n. L Publicação Bimestral Rio de Janeiro, maio/junho de 1958. Diretor Astrogildo Pereira.
ESTUDOS SOCIAIS. Ano IV-n. 13. Publicação Bimestral Rio de Janeiro, junho de 1962. Diretor Astrogildo Pereira.
ESTUDOS SOCIAIS. Ano IV- n. 14. Publicação Bimestral. Rio de Janeiro, setembro de 1962. Diretor Astrogildo Pereira.
HORA CERO, n. 4. Testimonios de Ia Revolución Latinoamericana. México, abril de 1968.
NUEVA POLÍTICA, Ano l - n. 1. Publicación de IDEA - Instituto de Estúdios Argentinos. Buenos Aires, diciember 1965.
O HOMEM LIVRE. Anno I - Número 27. Rio de Janeiro, 02 de dezembrode 1933, Direção e Propriedade Hamilton Barata.
O HOMEM LIVRE. Anno I - Número 28. Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 1933.O HOMEM LIVRE. Anno II - Número 38. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1934.
O HOMEM LIVRE. Anno II - Números 45 e 46. Rio de Janeiro, 14 de abril de 1934.
O HOMEM LIVRE. Anno II - Número 54. Rio de Janeiro, 19 de junho de 1934. O HOMEM LIVRE. Anno II - Número 55. Rio de Janeiro, 04 de julho de 1934.
O HOMEM LIVRE. Anno II - Número 56. Rio de Janeiro, 21 de abril de 1934.
O HOMEM UVRE. Anno II - S/Número. Rio de Janeiro, 28 de abril de 1934.
O HOMEM LIVRE. Anno II - Número 58. Rio de Janeiro, 04 de agosto de 1934.
O HOMEM UVRE. Anno II - Número 61. Rio de Janeiro, 01 de setembro de 1934. O HOMEM LIl/RE. Anno II - Número 62. Rio de Janeiro, 08 de setembrode 1934. O HOMEM LIVRE. Anno II - Número 66. Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1934.
O HOMEM LIVRE. Anno III - Número 78. Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1935.
O HOMEM LIVRE. Anno III - Número 81. Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1935. O HOMEM LIVRE. Anno III - Número 82. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1935. O HOMEM LIVRE. Anno III - Número 86. Rio de Janeiro, 30 de março de 1935.
O MUNDO EM REVISTA, n. 6, 1967.
O MUNDO EM REVISTA, n. 2, 1968.
O MUNDO EM REVISTA, n. 4, 1968.
O MUNDO EM REVISTA, n. 5 e 6, 1968
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano I.Rio de Janeiro. Agosto de 1947. Diretor Carlos Marighella.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano l - 2. Rio de Janeiro, de 1947. Diretor Carlos Marighella.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano l - 5, Rio de Janeiro, 1947. Diretor Carlos Marighella.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano I - 4. Rio de Janeiro, de 1947. Diretor Carlos Marighella.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano l - 5. Rio de Janeiro, de 1947. Diretor Carlos Marighella.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 2 - 6. Rio de Janeiro, 1948. Diretor Carlos Marighella.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 2 - 7, Rio de Janeiro, de 1948. Diretor Carlos Marighella.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 2 - 8. Rio de Janeiro, 1948. Diretor Carlos Marighella.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 2 - 9. Rio de Janeiro, 1948. Diretor Carlos Marighella.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 2 - 10. Rio de Janeiro, 1948. Diretor Carlos Marighella.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 2 - 11. Rio de Janeiro, 1948. Diretor Carlos Marighella.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 2 - 12. Rio de Janeiro, 1948. Diretor Carlos Marighella.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, Ano 2 - 13. Rio de Janeiro, agosto/setembro de 1948. Diretor Carlos Marighella.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 2 - 14. Rio de Janeiro, 1948. Diretor Carlos Marighella.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 2 - 15. Rio de Janeiro, novembro/dezembro de 1948. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 3 - 16. Rio de Janeiro, 1949. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 3-17. Rio de Janeiro, fevereiro/março de 1949. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 3 - 18. Rio de Janeiro, de 1949. Diretor Diógenes de Arruda.
setembro outubro de
novembro dezembro janeiro fevereiro março de abril de
maio de junho de julho de
outubro de
janeiro de
abril/maio
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 3 - 19. Rio de Janeiro, junho/julho de 1949. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 3 - 20. Rio de Janeiro, agosto/setembro de 1949. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 3 - 21. Rio de Janeiro, outubro de 1949. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 3 - 23. Rio de Janeiro, dezembro de 1949. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 3 - 24. Rio de Janeiro, janeiro/fevereiro de 1950. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 3 - 25. Rio de Janeiro, março/abril de 1950. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 3 - 26. Rio de Janeiro, maio de 1950. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 3 - 27. Rio de Janeiro, junho de 1950. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 3 - 28. Rio de Janeiro, julho de 1950. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 4 - 29. Rio de Janeiro, agosto/setembro de 1950. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 4 - 31. Rio de Janeiro, novembro/dezembro de 1950. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 4 - 32. Rio de Janeiro, janeiro/fevereiro de 1951. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 4 - 33. Rio de Janeiro, março/abril de 1951. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 4 - 34. Rio de Janeiro, maio/junho de 1951. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 5 - 36. Rio de Janeiro, setembro/outubro de 1951. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 5 - 37. Rio de Janeiro, novembro/dezembro de 1951. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 5 - 41. Rio de Janeiro, julho/agosto de 1952. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA. Ano 5 - 42. Rio de Janeiro, setembro/outubro de 1952. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS, REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 43. Rio de Janeiro, novembro/dezembro de 1952. Diretor Diógenes de Arruda,
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 44. Rio de Janeiro, janeiro/fevereiro de 1953. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 45. Rio de Janeiro, março/abril de 1953. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 46. Rio de Janeiro, maio/junho de 1953. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 47. Rio de Janeiro, julho de 1953. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 48. Rio de Janeiro, agosto de 1953. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 50. Rio de Janeiro, outubro de 1953. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 51. Rio de Janeiro, novembro de 1953. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 52. Rio de Janeiro, dezembro de 1953. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 53. Rio de Janeiro, janeiro de 1954. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 54. Rio de Janeiro, fevereiro de 1954. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 55. Rio de Janeiro, março de 1954. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 56. Rio de Janeiro, abril de 1954. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 57. Rio de Janeiro, maio de 1954. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 58. Rio de Janeiro, junho de 1954. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 59. Rio de Janeiro, julho de 1954. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 60. Rio de Janeiro, agosto de 1954. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 61. Rio de Janeiro, setembro de 1954. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 62. Rio de Janeiro, outubro de 1954. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 63. Rio de Janeiro, novembro de 1954. Diretor Diógenes de Arruda
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 65. Rio de Janeiro, março de 1955. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 66. Rio de Janeiro, abril de 1955. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 67. Rio de Janeiro, maio/junho de 1955. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 68. Rio de Janeiro, junho de 1955. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS. REVISTA MENSAL DE CULTURA POLÍTICA, n. 69. Rio de Janeiro, agosto de 1955. Diretor Diógenes de Arruda.
PROBLEMAS DA PAZ E DO SOCIALISMO. Revista Teórica e de Informação Internacional n. 10. Rio de Janeiro, dezembro de 1959.
PROBLEMAS DA PAZ E DO SOCIALISMO. Revista Teórica e de Informação Internacional,n. 6. Rio de Janeiro, junho de 1960.
PROBLEMAS DA PAZ E DO SOCIALISMO. Revista Teórica e de Informação Internacional n. 7. Rio de Janeiro, julho de 1960.
PROBLEMAS DA PAZ E DO SOCIALISMO. Revista Teórica e de Informação Internacional
Ano V- n. 3. Rio de Janeiro, março de 1963.
PROBLEMAS DE ACTUALIDAD, N. 8. El Marxismo Acerca de Ia Personalidad, 1968.
PROBLEMAS DE LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO COMUNISTA MUNDIAL (Artículos y Discursos). Suplemento de Revista Internacional, 1968.
PROBLEMAS INTERNACIONAIS - 5, 1966.
(Os periódicos estão distribuídos pelos revisteiros, obedecendo ordem alfabética/cronológica).
2.1.7. Livros
AZEVEDO, Agliberto Vieira. Minha Vida de Revolucionário. S/l., s/e., 1967.
BUKHARIN, N. O Imperialismo e a Economia Mundial. Análise Económica. Rio de Janeiro/Guanabara, Editora Laemmert, 1969
CONTRIM, John R. Um Engenheiro Brasileiro na Rússia Rio de Janeiro, Editora Letras e Artes, 1967.
DEWEY, John. O Pensamento Vivo de Jefferson. São Paulo, Martins Editora, 1952.
FlNAMOUR, Jurema Yary. China Sem Muralhas. Rio de Janeiro, Editora Prado, 1956.
GARA UDY, Roger. Perspectivas do Homem. Existencialismo, Pensamento Católico, Marxismo. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1965
GOMES, Pereira. Esteiros. Série "Romances". Lisboa, Edições "Sirius", 1942.
IANNI, Otávio. Estado e Capitalismo. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1965.
JEAN, Yvonne. Visitando Escolas. Ministério de Educação e Saúde -Serviço de Documentação. Rio de Janeiro, 1948
JOSAPHAT, Carlos (Frei). Evangelho e Revolução Social. São Paulo, Duas Cidades, 1963
LENIN, V. L Que Fazer? Problemas Candentes de Nosso Movimento, Rio de Janeiro, Editorial Vitória, 1946.
LENIN, V. I. El Movimiento Contemporâneo de Liberacion y Ia Burguesia Nacional. Praga, Editorial Paz y Socialismo, 1961.
LENIN, V. L Acerca dei Estado (Conferencia Pronunciada en Ia Universidad Sverdlov el 11 de julio de 1919). Moscú, Editorial Progreso, 1967.
LENIN, V. 1. Informe en el 11 Congreso de Toda Rusia de Ias Organizaciones Comunistas de los Pueblos dei Oriente (22 de noviembre de 1919). Moscú, Ediciones en Lenguas Extranjeras, s/d.
LENIN, V. L La Bancarrota de Ia U Internacional. Moscú, Ediciones en Lenguas Extranjeras, s/d
LENIN, V. L Lãs Terefas de los Socialdemocratas Rusos. Moscú, Ediciones en Lenguas Extranjeras, s/d.
LENIN, V. I. Notas Críticas Sobre Ia Cuestion Nacional. Moscú, Ediciones en Lenguas Extranjeras, s/d.
LENIN, V. L Se Sostendran los Bolcheviques en el Poder? Moscú, Ediciones en Lenguas Extranjeras, s/d
LIMA, Alceu Amoroso. O Trabalho no Mundo Moderno. Rio de Janeiro, Agir Editora, 1959.
MARX, Karl y ENGELS, Frederico. La Guerra Civil en los Estados Unidos. Buenos Aires, Lautaro, 1946.
MARX, Karl. A Miséria da Filosofia. Editora Leitura, 1965.
NlKlTlN, P. Fundamentos de Economia Política. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1967.
OSSOWSKJ, Stanislaw. Estrutura de Classe na Consciência Social. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1964.
PEREIRA, Astrogildo. Formação do PCB - 1922/1928. Rio de Janeiro, São José, 1960.
RATTNER, Henrique. Industrialização e Concentração Económica em São Paulo. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1972
TOGLIATTI, P. Engels - Líderes ao Proletariado e do Povo. Rio de Janeiro, Editorial Vitória, 1947.
‘Óleo nas praias brasileiras mostra incapacidade do governo’, diz Anivaldo Miranda à Política Democrática
Jornalista aponta, em artigo à revista da FAP, falta de sincronia de esforços diante de catástrofes
Cleomar Almeida, da Ascom/FAP
Das praias do Maranhão às do Espírito Santo, a tragédia causada pelas manchas de petróleo assusta pela quantidade de óleo vazado, os impactos à vida marinha e os prejuízos que afetarão a saúde humana, os produtos do mar e a economia do país. A avaliação é do jornalista Anivaldo Miranda, em artigo que ele publicou na 13ª edição da revista Política Democrática online, produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), em Brasília.
» Acesse, aqui, a 13ª edição da revista Política Democrática online
A revista pode ser acessada de graça no site da fundação, que é vinculada ao Cidadania. Miranda, que também é mestre em meio ambiente e desenvolvimento sustentável pela Ufal (Universidade Federal de Alagoas), diz que o caso serve para destacar “a recorrência não só da demora da resposta, mas também da incapacidade de sincronia de esforços diante das ocorrências catastróficas que se estão multiplicando no Brasil, resultantes tanto de fenômenos naturais, como da ação ou inação humanas”.
Conforme ele escreve no artigo publicado na revista Política Democrática online, o poder público tardou em perceber a gravidade e a abrangência do evento, e as providências deram-se de forma tardia, apesar dos instrumentos legais e operacionais que já estão disponíveis para enfrentar contextos de tal criticidade. “Tal atraso é sempre nocivo, tendo em vista que a larga experiência internacional ensina que tempo e agilidade podem minimizar significativamente os danos relativos a quaisquer acidentes”, alerta.
O autor afirma, ainda, que fontes do governo federal insistem em dizer que, desde a primeira notícia do aparecimento do óleo nas praias da Paraíba, em 30 de agosto último, teve início a mobilização oficial para avaliar e enfrentar o problema. No entanto, segundo ele, é diferente da versão do Ministério Público Federal no Nordeste, que acionou a União e acusou o Ministério do Meio Ambiente por não ter reconhecido formalmente a “significância nacional do desastre ambiental”.
Em razão isso, segundo Miranda, o governo não acionou em sua integridade o PNC (Plano Nacional de Contingência). Na sua opinião, a omissão que gerou luta de liminares bastante ilustrativa das complicações de ordem burocrática que atravancam a operacionalidade da ação estatal, até mesmo em situações de emergência.
Leia mais:
» ‘Tinha escravos nos Palmares’, diz Antonio Risério à revista Política Democrática online
» Nova edição da Política Democrática online analisa desastre do petróleo no litoral brasileiro
Revista Política Democrática || Sérgio C. Buarque: Os sinais e as incertezas
Economia do país reage e apresenta sinais alentadores, com ambiente macroeconômico favorável, com inflação de 3,4% ao ano e a mais baixa taxa Selic da história recente do Brasil (5% ao ano, menos de 2% em termos reais). É só o presidente não atrapalhar e as tensões externas arrefecerem
Os sinais da economia brasileira são alentadores. Apesar do tímido crescimento esperado para este ano e dos níveis alarmantes de desemprego, a combinação de inflação em patamares civilizados (3,4% ao ano) com a mais baixa taxa de juros de referência (Selic) da história recente do Brasil (5% ao ano, que representa menos de 2% em termos reais) cria ambiente macroeconômico muito favorável. Se o presidente da República não atrapalhar e as tensões comerciais externas arrefecerem, é provável que a economia brasileira retome ciclo de crescimento nos próximos anos. Nada espetacular e rápido, contudo, como seria desejável para a geração de renda e emprego e para ampliação da receita pública. Mesmo com a reforma da Previdência, a crise fiscal ainda vai se arrastar por alguns anos, as famílias e as empresas continuam endividadas e a economia internacional caminha a passos de tartaruga.
A queda da taxa de juros de referência deve gerar três efeitos positivos e complementares na economia. De imediato, reduz o custo da dívida pública, contendo a tendência de expansão do endividamento, que gera insegurança e instabilidade, e diminuindo o tamanho do superávit primário necessário para pagamento dos juros. Ao mesmo tempo, a redução da Selic já está empurrando para baixo os juros do crédito comercial, mesmo com a persistência de oligopólio bancário e da elevada inadimplência.
Além disso, a redução da Selic deve levar a uma redução da atratividade das aplicações financeiras em títulos da dívida pública, grande parte dos quais são remunerados pela taxa de referência. Como consequência, pode haver migração das aplicações da poupança nacional para produtos mais rentáveis, incluindo ações, e mesmo para o consumo ou o investimento. O desestimulo da “economia rentista” anima os empreendedores à procura de negócios com maior remuneração e risco mais elevado. Como a economia está operando com alto índice de ociosidade, a ampliação da utilização da capacidade instalada, acompanhada da contratação de mão de obra desocupada, complementa o ciclo virtuoso de recuperação do crescimento econômico.
Entretanto, esta conjuntura favorável convive com muitas incertezas, que assustam os agentes econômicos e podem comprometer o crescimento da economia. O primeiro fator de insegurança reside no próprio governo, na incompetência e no desequilíbrio emocional e ideológico do presidente da República, sua incontinência verbal alimentada pela paranoia reacionária, provocando quase cotidianamente o conflito e a instabilidade. A isto se agrega a recente libertação de Luís Inácio Lula da Silva com um discurso de radicalização política que deve acentuar a polarização entre lulistas e bolsonaristas, elevando a temperatura política, o que pode desfocar o debate das reformas estruturais.
É surpreendente, em todo caso, a consistência da política econômica de um governo completamente desorientado, parecendo indicar que o presidente delegou, efetivamente, ao ministro Paulo Guedes e a outros ministros da área econômica a condução das reformas que podem destravar a economia e estimular novos investimentos privados. Além das iniciativas para privatização de várias estatais e concessão de serviços públicos, o governo vem avançando em algumas reformas do Estado para flexibilizar, regular e reduzir as despesas públicas. O Ministério da Economia falha, lamentavelmente, quando se omite das negociações que levam à reforma tributária (com duas propostas tramitando no Congresso), fundamental para melhoria do ambiente de negócios, que estimula os investimentos.
Não bastassem as incertezas internas, a situação internacional emite ondas de instabilidade que podem atrapalhar muito o desempenho da economia brasileira. A disputa comercial dos Estados Unidos com a China, amenizada transitoriamente, pode gerar retração da economia global e, de imediato, atingir os dois maiores parceiros comerciais do Brasil. A União Europeia, às voltas com um nacionalismo retrógrado e com a confusão do Brexit, mostra sinais de estagnação econômica que contraem também o comércio internacional. Mais perto do Brasil, o renascimento do peronismo kirchnerista na Argentina, nosso terceiro parceiro comercial, ameaça a existência do Mercosul, base para negociação de acordos comerciais com grandes centros econômicos, especialmente o entendimento com a União Europeia, já muito abalado pelas barbaridades do presidente Jair Bolsonaro.
Mesmo com toda a reserva em relação a um presidente autoritário e reacionário em áreas importantes da vida brasileira, há motivos para otimismo quanto a uma possível retomada do crescimento da economia brasileira. Os sinais são positivos, embora as incertezas ainda sejam muito grandes.
Constituição deve nortear reformas no Brasil, diz Gilvan Cavalcanti de Melo à Política Democrática online
Em nova edição da revista da FAP, editor de blog indica caminhos fundamentais para se pensar compromisso com o país
Cleomar Almeida, da Ascom/FAP
A Constituição de 1988 é o porto seguro para pensar-se quaisquer reformas econômicas e políticas em nosso país. Esse entendimento é a base para os caminhos do futuro, avalia o editor do blog Democracia Política e Novo Reformismo, Gilvan Cavalcanti de Melo. Em artigo que produziu para a 13ª edição da revista Política Democrática online, ele diz que “O rumo mais real é debruçar-se sobre a conjuntura”. Todos os conteúdos da publicação, produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), em Brasília, podem ser acessados de graça no site da instituição.
» Acesse aqui a 13ª edição da revista Política Democrática online
A FAP é vinculada ao Cidadania. De acordo com o autor do artigo publicado na revista Política Democrática online, a missão dos democratas é defender os compromissos constitucionais de distribuição de riqueza, que poderão obter forte apoio social, plural e crítico; atuar para construir uma nova opinião pública e vontade política democrática para transformar a atual realidade; e agregar estas forças democrática, superar as polarizações.
Melo sugere que é importante seguir dois caminhos fundamentais para se pensar o que ele chama de “compromisso com o país”. “Em primeiro lugar, investigar uma relação de forças sociais conectada à estrutura. Isto pode ser avaliada com os métodos das estatísticas”, afirma. Segundo ele, à base do nível de desenvolvimento das forças materiais de produção, organizam-se os agrupamentos sociais, cada um dos quais representando uma função e ocupando uma determinada posição na produção.
Na avaliação do autor, que escreveu a análise exclusiva para a revista Política Democrática online, a organização dos grupos sociais é uma relação real, concreta, independe do observador e factual. “São elementos que permitem avaliar se, em determinadas situações, existem as condições suficientes para as mudanças. Possibilita monitorar o grau de realismo e de visibilidade das diferentes ideias que o processo gerou”, assevera Melo.
Em segundo lugar, conforme escreve o editor do blog, existe a crítica a esta realidade. “O pensar a desigualdade social, seus dramas: milhões de desempregados, subempregados, os pobres e os chamados abaixo da pobreza, os miseráveis. A violência, o tráfico de drogas, as milícias, a exploração de crianças, os moradores de rua”, pondera.
Leia mais:
» ‘Tinha escravos nos Palmares’, diz Antonio Risério à revista Política Democrática online
» Nova edição da Política Democrática online analisa desastre do petróleo no litoral brasileiro
Curso gratuito de formação política Jornada da Cidadania registra 833 inscrições em 5 dias
Em novo projeto da FAP, interessados terão aulas em plataforma multimídia de educação a distância
Cleomar Almeida, da Ascom/FAP
A Jornada da Cidadania, um novo curso online e gratuito de formação política, registrou 833 pré-inscrições até o início da tarde desta quarta-feira (27). O levantamento foi divulgado pelo Setor de Tecnologia da Informação da FAP (Fundação Astrojildo Pereira), sediada em Brasília e realizadora do curso de educação a distância. O início das aulas está previsto para o dia 23 de janeiro. Pessoas da Região Sudeste, do sexo masculino e sem mandato eletivo lideram o ranking de inscritos.
O número de inscrições foi alcançado em apenas cinco dias de lançamento do curso, que foi autorizado, no último sábado (23), em reunião do Conselho Curador da FAP. De acordo com a programação, o curso deve ser oferecido até o mês de abril, totalizando 36 horas de aula, e se baseia em cinco pilares: estratégia e liderança, comunicação política eficaz, ética e integridade na ação política, fundamentos de teoria política e democracia e casos de sucesso.
O ranking de pré-inscrições, conforme mostra o relatório de monitoramento da FAP, é liderado por São Paulo (133), Pará (102) e Rio de Janeiro (83). A lista dos dez Estados com maior número de pessoas inscritas segue com Sergipe (75), Minas Gerais (63), Paraná (60), Rio Grande do Sul (46), Santa Catarina (34), Pernambuco (32) e Alagoas (29).







No total, de acordo com o levantamento da FAP, homens correspondem a 61,2% das inscrições, enquanto mulheres totalizam 38,2%. Além disso, 0,6% preferiu não divulgar ou disse ter outro gênero.
O relatório também mostra que 80,55% (669) pessoas disseram ser filiadas a algum partido político, enquanto 19,5% afirmaram o contrário. O levantamento aponta que 58,3 declararam ter pretensão de se candidatas em 2020. Outros 41,7% afirmaram que não. A maioria dos inscritos afirmou que soube do curso pelo partido Cidadania 23, ao qual é vinculada a FAP; 20,9% disseram que conheceram a jornada por meio das redes sociais e 4,6% declararam que a informação chegou por outro caminho.
Coordenador da Jornada da Cidadania, o professor Marco Marrafon disse que os números comprovam “um resultado fantástico”. “O curso tem mostrado que, efetivamente, veio para fazer diferença. Estamos quase chegando à casa de mil inscritos, que é um patamar para fazer um curso que traga resultados para todo o Brasil”, destacou.
Marrafon ressalta que o conteúdo será apresentado de forma inovadora, com muita interação a partir de plataforma de educação a distância multimídia, com conhecimento integrado, videoaula, podcasts, textos e debates online.
Leia mais:
» FAP lança edital para contratação de plataforma digital do curso Jornada da Cidadania
» Conselho Curador da FAP aprova realização de curso online de formação política
‘Sinais da economia brasileira são alentadores’, afirma Sérgio C. Buarque na nova edição da Política Democrática online
Economista diz que país pode voltar a crescer nos próximos anos; queda de juros deve gerar efeitos positivos
Cleomar Almeida, da Ascom/FAP
Os sinais da economia brasileira são alentadores, na avaliação do economista Sérgio Cavalcanti Buarque. Em artigo publicado na 13ª edição da revista Política Democrática online, o consultor em planejamento estratégico disse que a combinação de inflação em patamares civilizados (3,4% ao ano) com a mais baixa taxa de juros de referência (Selic) da história recente do Brasil (5% ao ano que representa menos de 2% em termos reais) cria ambiente macroeconômico muito favorável.
» Acesse aqui a 13ª edição da revista Política Democrática online
Todos os conteúdos da revista podem ser acessados, de graça, no site da FAP (Fundação Astrojildo Pereira), que produz a edita a publicação. A entidade é sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania. Na avaliação do economista, é possível que o Brasil volte a crescer nos próximos anos, se o presidente Jair Bolsonaro não atrapalhar e as tensões comerciais externas diminuírem. “Nada espetacular e rápido, contudo, como seria desejável para a geração de renda e emprego e para ampliação da receita pública”, afirma o autor, em artigo produzido para a revista Política Democrática online.
Mesmo com a reforma da Previdência, na avaliação de Buarque, a crise fiscal ainda vai se arrastar por alguns anos. Segundo ele, as famílias e as empresas continuam endividadas, e a economia internacional caminha a passos de tartaruga. “A queda da taxa de juros de referência deve gerar três efeitos positivos e complementares na economia”, pondera.
De imediato, conforme escreve o consultor, reduz o custo da dívida pública, contendo a tendência de expansão do endividamento, que gera insegurança e instabilidade, e diminuindo o tamanho do superávit primário necessário para pagamento dos juros. “Ao mesmo tempo, a redução da Selic já está empurrando para baixo os juros do crédito comercial, mesmo com a persistência de oligopólio bancário e a elevada inadimplência”, acentua.
Leia mais:
» ‘Tinha escravos nos Palmares’, diz Antonio Risério à revista Política Democrática online
FAP lança edital para contratação de plataforma digital do curso Jornada da Cidadania
Fundação oferecerá curso de formação política online e gratuito; propostas podem ser enviadas até 10 de janeiro
Cleomar Almeida, das Ascom/FAP
A FAP (Fundação Astrojildo Pereira) lançou, nesta segunda-feira (25), edital para contratação de empresa destinada à prestação de serviços técnicos relativos ao fornecimento de plataforma digital para gestão do programa de educação a distância. A contratação visa à realização do curso de formação política desenvolvido pela instituição, por meio da Jornada da Cidadania, cujas inscrições já estão abertas. As propostas podem ser enviadas até as 10 horas do dia 3 de janeiro de 2020. O prazo para a prestação dos serviços é de 12 meses, após a assinatura do contrato.
» Acesse, aqui, a íntegra do edital de cotação de preços.
A plataforma deverá estar plenamente adequada à LGPDP (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e deve ser acessível por meio de um navegador web padrão (Microsoft Internet Explorer/Edge, Opera, Mozila Firefox e Google Chrome). O serviço de hospedagem da solução terceirizada deverá garantir a eficiência de conectividade necessária ao ambiente LMS com, no mínimo, 98% de disponibilidade da solução em pleno funcionamento, mantendo um canal de suporte 24/7 para os usuários do sistema, em caso de indisponibilidade da solução.
O edital prevê, entre outros pontos, que o acesso ao ambiente deverá ser realizado mediante autenticação de usuários por meio de criação de conta de acesso (e-mail/senha) ou por login social (oauth) por meio da conta do aluno no Facebook, Twitter ou Google. Além disso, a solução deverá permitir que os cursos possam ser acompanhados por meio de dispositivos móveis, seja por meio de solução responsiva do ambiente LMS seja por aplicativo para smartphones em padrão IOS (para dispositivos Apple) ou android (para outros dispositivos).
Habilitação
Para ser habilitado para a cotação, é indispensável que os interessados apresentem carta de credenciamento, assim como o contrato social e possíveis alterações ou o estatuto e ata de alterações, devidamente registrados na junta comercial; e, no caso de sociedade anônima, as respectivas publicações. Além disso, deve ser apresentada proba de regularidade perante a Fazenda Federal e Distrital ou Estadual do domicílio ou sede do licitante.
De acordo com o edital, os interessados também devem apresentar certificado de regularidade do FGTS – CRF; prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) ou da CPDT (Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas) com os mesmos efeitos da anterior.
A empresa interessada também deverá entregar a declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, nos termos do Decreto Federal nº 4.358. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, exceto fax, autenticada por cartório competente ou por servidor da administração pública ou publicação em órgão da imprensa oficial.
As propostas devem ser entregues pessoalmente pelo representante credenciado ou via Sedex e obedecer às seguintes condições: apresentadas em uma via digitada, em impresso próprio da firma, sem rasuras, assinada e em envelope fechado; e indicando o preço proposto em reais e o prazo de validade de no mínimo 30 dias.
A empresa vencedora do certame, segundo o edital, deverá encaminhar as faturas para o e-mail da Fundação Astrojildo Pereira (fundacaoastrojildo@gmail.com). Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após o aceite dos serviços. Sempre que ocorrer atrasos nos pagamentos, a FAP ficará sujeita a pagar 1% ao mês, pró-rata dia, limitada ao total de 10%.
Leia mais:
» Conselho Curador da FAP aprova realização de curso online de formação política
» Líderes do Cidadania discutem proposta de curso de formação política
‘Tinha escravos nos Palmares’, diz Antonio Risério à revista Política Democrática online
Em entrevista concedida à publicação da FAP, antropólogo diz saber de história de mulheres da classe dirigente
Cleomar Almeida, da Ascom/FAP
“A história brasileira é muito mal conhecida no Brasil. Às vezes, as pessoas se surpreendem quando você fala que tinha escravos nos Palmares e se surpreendem quando você fala que os Tupinambás eram escravistas”. A afirmação é do antropólogo, poeta, ensaísta e historiador brasileiro Antonio Risério, em entrevista exclusiva concedida à 13ª edição da revista Política Democrática online. Todos os conteúdos da publicação podem ser acessados, de graça, no site da FAP (Fundação Astrojildo Pereira), que produz e edita a publicação.
» Acesse aqui a 13ª edição da revista Política Democrática online
A FAP é vinculada ao partido político Cidadania, que tem fortalecido a sua identidade como esquerda democrática. Na entrevista, concedida à revista Política Democrática online, Risério diz que conhece uma história de mulheres da classe dirigente, o que, segundo ele, é completamente diferente das histórias das mulheres da classe dominada. A entrevista foi concedida ao diretor da fundação e consultor político Caetano Araújo com colaboração de Ivan Alves Filho.
“Porque as mulheres da classe dominada têm primazia, dominando, inclusive, o pequeno comércio no Brasil, nas vendas, porque eram mulheres da vida e da rua, ao passo que as sinhás e sinhazinhas ficavam enclausuradas em sobrados na casa grande”, afirma ele à revista Política Democrática online. “A gente tem de pegar cada ponto disso e discutir com conhecimento. Conhecimento acima de tudo, não adianta ficar só ideologizando; ideologizando a gente não vai para lugar nenhum”, acrescenta.
O historiador compara, ainda, que, as histórias dos Estados Unidos e da França, por exemplo, são muito bem conhecidas pelas suas respectivas populações, ao contrário do que ele diz ocorrer no Brasil. “Uma frase de que eu gosto muito que Freud estudava do Leonardo da Vinci: você não pode amar nem odiar nada se primeiro você não souber o que aquilo é, o que aquilo foi, como aconteceu e o que aquilo significa”, pondera, em outro trecho da entrevista publicada pela revista da Fundação Astrojildo Pereira.
De acordo com Antonio Risério, entre os principais líderes do movimento abolicionista, havia três eram negros: André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. “Deram-se as mãos e acabaram com a escravidão”, afirma ele, na entrevista publicada na revista Política Democrática online.
Leia mais:
» Nova edição da Política Democrática online analisa desastre do petróleo no litoral brasileiro
Vídeo destaca curso de formação política Jornada da Cidadania
https://youtu.be/VOeUe3gYZiQ
Jornada da Cidadania: Um curso de formação política online e totalmente gratuito! Garanta a sua vaga em http://jornadadacidadania.com.br/inscricao/
Conselho Curador da FAP aprova realização de curso online de formação política
Aulas serão ministradas por meio da plataforma de educação a distância Jornada da Cidadania; organização quer atrair 5 mil inscritos
Cleomar Almeida, da Ascom/FAP
O Conselho Curador da FAP (Fundação Astrojildo Pereira) realizou, nesta sexta-feira (22), a segunda e última reunião ordinária e extraordinária deste ano, em Brasília. O colegiado aprovou a proposta de realizar, a partir de janeiro de 2020, um curso online de formação política, por meio da plataforma de educação a distância Jornada da Cidadania. O objetivo é contribuir para o aprimoramento da democracia brasileira e ser uma alternativa de boa política diante da polarização e radicalização partidárias que tomam conta do país.
O coordenador pedagógico do curso é o professor Marco Marrafon, que também é mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com estudos doutorais (sanduíche) na Università degli Studi di ROMA TRE – Itália. A coordenação também é composta pelos diretores da FAP Ciro Gondim Leichsenring e Caetano Araújo. Durante a reunião, o colegiado parabenizou a iniciativa e sugeriu caminhos para que o curso tenha alto nível de excelência, com temas sobre democracia e sustentabilidade, por exemplo.
https://youtu.be/VOeUe3gYZiQ
A FAP é vinculada ao Cidadania. “A proposta busca que a fundação vá além dos muros partidários”, disse Marrafon. “A fundação desempenha um importante papel. Entendemos que o público-alvo merece receber formação fundamental para que possa fazer escolhas democráticas”, afirmou ele. As inscrições devem ser abertas em breve e seguir até o dia 15 de janeiro, em uma página específica da Jornada da Cidadania na internet. A previsão inicial para o início das aulas é o dia 23 de janeiro. O curso terá 36 horas, ao longo de três meses.
O presidente do conselho curador, Cristovam Buarque, ressaltou a importância da iniciativa de formação política da fundação. “Estou encantado com as ações da FAP”, disse ele, que compôs a mesa de reunião junto aos demais conselheiros. Cristovam destacou, ainda, a importância do engajamento de jovens na política e da garantia de direitos para toda a sociedade.
Caetano Araújo, que também é consultor político, afirma que a oferta do curso é uma demanda do Cidadania e uma tradição do partido. Segundo ele, em várias eleições passadas a legenda garantiu a oportunidade para que os seus candidatos fizessem a capacitação de formação política. "Neste ano, estamos fazendo algo maior ainda. Queremos atrair possíveis candidatos com esse curso. Além de ser uma peça de formação, o curso pretende qualificar os possíveis candidatos e candidatas", destaca.
A proposta do curso, segundo Caetano, é atrair pessoas para uma perspectiva de oposição consequente ao governo Bolsonaro. "O curso vai ofertar conteúdos em várias áreas, dando informação e posição políticas em cada um delas. Vai ser radicalmente democrático, a favor dos ideais da República e da sustentabilidade. Essas posições são opostas ao que o governo Bolsonaro tem defendido", adianta Araújo.
Diretor da FAP, historiador e professor titular da Unesp (Universidade Estadual Paulista), Alberto Aggio ressalta que a fundação é partidária, mas tem se notabilizado por realizar atividades político-culturais para um público muito mais amplo, não necessariamente vinculado ao partido, com temas contemporâneos, para debater a crise da política e da democracia, no mundo, na América Latina e no Brasil, por exemplo. "É uma fundação partidária muito mais aberta na sua composição porque tem pessoas que não são do partido Cidadania, antes PPS, e também porque sempre projeta iniciativas voltadas para o público mais amplo", destaca ele.
Aggio diz, ainda, que a inciativa do curso online de formação política a distância mostra que a FAP busca abrir um espaço de interlocução com milhares de pessoas. "O curso vai tentar promover essa interlocução com muito mais pessoas no âmbito da relação entre política e sociedade", assevera o historiados. Ele lembra que a FAP desenvolve outras ações relevantes, como a publicação da revista Política Democrática online e de livros, que, segundo ele, são "excelentes".
"Agora, temos o desafio enorme de ampliar a relação entre os partidos políticos, no caso o Cidadania, com pessoas vinculadas e não vinculadas para participarem da Jornada da cidadania. Será um curso online com temas importantes sobre a realidade da política atual e a necessidade de comprensão dos sistemas políticos", exemplifica o professor da Unesp.
Eventos e publicações
O colegiado reconheceu a importância de eventos realizados pela FAP para o fortalecimento da democracia brasileira, como o 3° Encontro de Jovens e os seminários Desafios da Democracia e Cidades Inteligentes. Os conselheiros ressaltaram a relevância das publicações da FAP, como a revista Política Democrática online, que, neste mês de novembro, chegou à sua 13ª edição como um instrumento de intervenção política.
As atividades da Biblioteca Salomão Malina também foram apresentadas aos conselheiros, com destaque para a batalha de poesias do Slam-DF, realizada no auditório do Espaço Arildo Dória, que é mantido pela FAP, na parte superior da biblioteca. Por ano, a competição reúne cerca de 300 jovens da periferia de Brasília e de cidades-satélites no local, abrindo espaço para que usem as palavras como forma de protesto.
Os conselheiros conheceram, ainda, os detalhes do clube de poesias, que reúne cerca de 260 pessoas ao ano na biblioteca, assim como receberam informações sobre o clube de leitura e dos cursos de idiomas (inglês, espanhol e japonês) oferecidos, gratuitamente, ao público, no local.
Planejamento
Araújo disse ao conselho que o planejamento da fundação prevê, para o ano de 2020, a publicação de 12 livros, um por mês. Além disso, segundo ele, devem ser mantidas as edições mensais da revista Política Democrática online, devido à grande adesão que ela tem recebido do público, sempre com análises e entrevistas exclusivas, além de uma grande reportagem sobre assunto relevante, atual e de interesse da sociedade.
De acordo com Caetano, o objetivo de lançar um livro por mês é estimular a reflexão sobre os temas abordados em cada obra para o público em geral. Ele explicou, ainda, que as linhas temáticas devem envolver a história do PCB e das lutas sociais no Brasil, os dilemas da democracia, as reformas do Estado e políticas de equidade, além de sustentabilidade e desenvolvimento. Também devem ser considerados temas relacionados à governança mundial e a diretriz de contemplar a perspectiva de igualdade de raças.
Leia também:
» Líderes do Cidadania discutem proposta de curso de formação política
» Estudantes lotam auditório da FAP em lançamento do livro Caminhos Invertidos
» Confira os vídeos do seminário Cidades Inteligentes
Nova edição da Política Democrática online analisa desastre do petróleo no litoral brasileiro
Produzida e editada pela FAP, 13ª edição da revista tem acesso gratuito pelo site da fundação
Cleomar Almeida, da Ascom/FAP
O impacto ambiental causado pelas manchas de petróleo que chegaram ao litoral brasileiro é o destaque da nova edição da revista Política Democrática online, produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), em Brasília. A publicação, que pode ser acessada gratuitamente no site da instituição, tem ainda uma entrevista exclusiva com o antropólogo Antonio Risério, uma série de análises sobre o contexto brasileiro e internacional, como a presença negra no país e a crise no Chile, a última reportagem da série sobre Serra Pelada e um artigo sobre o filme Coringa.
» Acesse aqui a 13ª edição da revista Política Democrática online
A revista produzida pela FAP, que é vinculada ao Cidadania, traz em seu editorial uma análise sobre a nova rodada de reformas no Brasil. “Encerrado o processo de deliberação sobre as regras da Previdência, o governo dá início à nova rodada de reformas”, diz um trecho. “Tramitam no Congresso Nacional três propostas de emendas à Constituição da lavra do Governo Federal, conhecidas respectivamente como pacto federativo, emergencial e dos fundos. Espera-se para breve uma proposta de reforma administrativa, que completaria a etapa presente da agenda reformista do Executivo”, continua.
O editorial alerta que sobre a oposição democrática e progressista recai uma tarefa adicional nesse processo: construir uma articulação parlamentar ampla, capaz de assegurar os ganhos pretendidos em termos de equilíbrio das contas públicas; inserir o viés da equidade, ou seja, das políticas de inclusão social e redução das desigualdades, e garantir a prevalência de soluções que preservem a autonomia dos entes federativos. “Executivo e Legislativo, a coalizão governista e a oposição na sua diversidade, todos os atores relevantes da política serão redimensionados ao fim do processo que se inicia”, destaca.
Na entrevista, concedida ao diretor da FAP Caetano Araújo com colaboração de Ivan Alves Filho, Risério diz acreditar que muita gente do campo democrático anda preocupada em superar a atual polarização brasileira e encontrar um rumo para o País. “Eu me coloco claramente no campo da esquerda democrática e não tenho nenhum problema com isso. O que acho houve no país foi o seguinte. Ao se tornar independente e conquistar autonomia nacional, o Brasil teve de construir a imagem do que somos”, diz o entrevistado, que também é ensaísta, poeta e historiador.
Um dos maiores crimes ambientais que chegaram ao país, o caso das manchas de petróleo no litoral brasileiro é analisado pelo Anivaldo Miranda, que é mestre em meio ambiente e desenvolvimento sustentável pela UFAL (Universidade Federal de Alagoas). “O Brasil do pós-Mariana, Barcarena (Pará), Brumadinho, dos mega incêndios florestais e atualmente do óleo no mar precisa refletir de maneira abrangente sobre isso e fazer conexões mentais importantes no contexto de sua inteligência coletiva, para enfrentar os dilemas do século atual com boas possibilidades de acerto que, ao final, conduza seu povo a um nível razoável de bem-estar e mantenha seu território e biodiversidade num plano seguro de preservação e capacidade de reprodução”, observa.
O professor e diretor da FAP Alberto Aggio é o autor da análise sobre o Chile. Segundo ele, os chilenos colocaram para fora toda a raiva frente ao mal-estar resultante do “modelo econômico”, que ordena o país desde os tempos da ditadura do Pinochet, durante as manifestações de outubro. “Em outubro, o Chile explodiu. Por vários dias, milhares de pessoas saíram às ruas em marchas de protesto que invariavelmente se tornaram violentas”, escreve ele.
A revista também traz outros artigos de opinião, com análises sobre democracia, cultura e economia. Integram o conselho editorial da Política Democrática online Alberto Aggio, Caetano Araújo, Francisco Almeida, Luiz Sérgio Henriques e Maria Alice Resende de Carvalho.
Leia mais:
» Pesquisa e inovação são destaques da nova edição de Política Democrática online