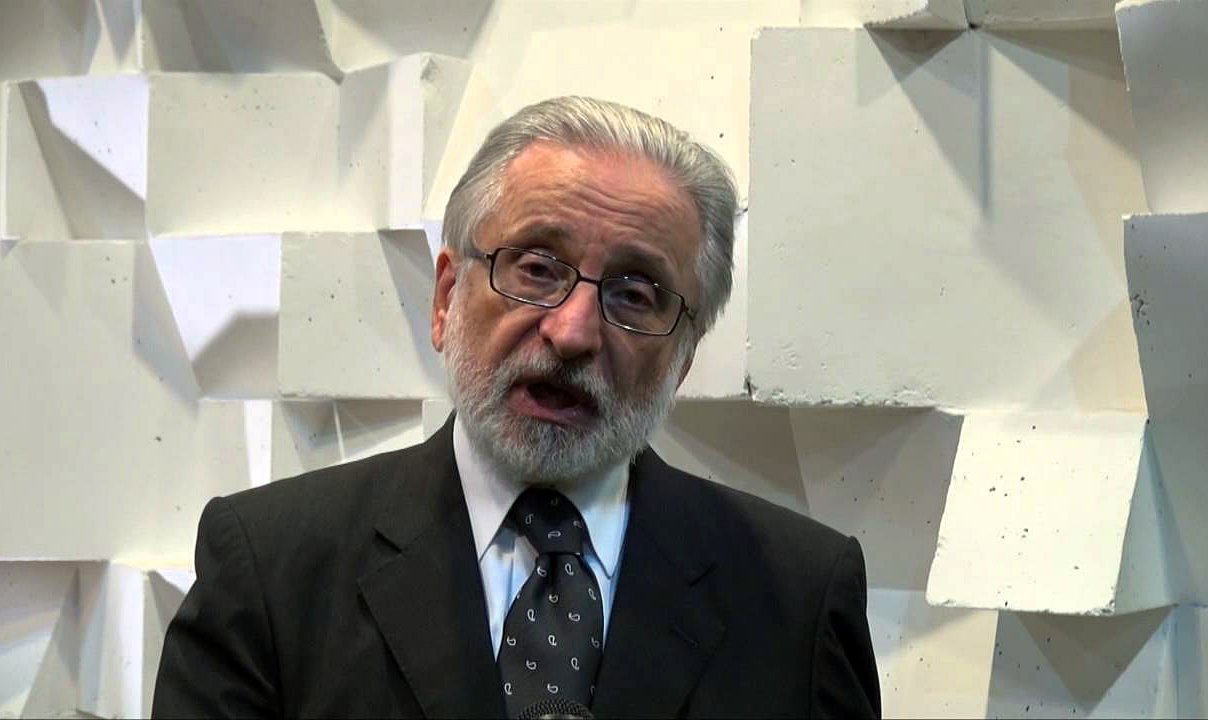EUA
Hélio Schwartsman: Com Bolsonaro e Araújo, Brasil corre risco de ficar sem aliados
Nas relações internacionais, vige o estado de natureza hobbesiano
Há uma diferença importante entre o policial e o diplomata. Diante de crimes mais sérios, policiais não têm opção que não a de indiciar os suspeitos, independentemente do que achem da lei ou das circunstâncias que levaram ao delito.
Nas relações internacionais, as coisas são um pouco mais complicadas. Mesmo quando a diplomacia está diante de um crime gravíssimo e muito bem documentado, pode ver-se compelida a pegar leve com o autor. É o que acaba de fazer o presidente dos EUA, Joe Biden, ao deixar de responsabilizar o príncipe saudita Mohammed bin Salman pelo assassinato e esquartejamento do jornalista Jamal Khashoggi em 2018.
O problema de base é que, nas relações internacionais, vige o estado de natureza hobbesiano. Sem uma autoridade central forte que a todos submeta, cada Estado é mais ou menos livre para agir como quiser. As principais limitações são a força de outros países, seguida de acordos e tratados internacionais, cuja imposição, entretanto, é fraca, e, no caso de democracias, da repercussão política que as ações possam ter para o público interno.
A resultante desses vetores em nível nacional costuma ser uma política externa pragmática, com algum tempero moral. Os EUA não podem dar-se ao luxo de romper com os sauditas, um de seus principais aliados na região, então Biden optou por pegar leve com o príncipe, mas sem deixar de sinalizar que reprova o homicídio e que poderá reagir de modo mais duro se violações desse tipo se repetirem.
Uma diplomacia totalmente pragmática, pautada exclusivamente por interesses, até pode funcionar para países autocráticos, onde o líder não deve satisfações a ninguém. Já uma diplomacia que se guie apenas por princípios acabaria rapidamente isolada, sem nenhum aliado.
O Brasil, com Bolsonaro e Ernesto Araújo no comando da política externa, corre o risco de terminar sem aliados e defendendo posições imorais.
Cristina Serra: A profecia do imigrante haitiano
Há um ano ele enunciou a nossa desgraça
Um ano. Faz um ano que um imigrante haitiano enunciou a nossa desgraça: "Bolsonaro acabou (...) Você não é presidente mais. Precisa desistir. Você está espalhando o vírus e vai matar os brasileiros!". Um ano. Mas parece que um século nos separa dessa profecia, tão apavorante ela soou e tão terrivelmente se confirmou. Bolsonaro está matando os brasileiros e não conseguimos detê-lo.
Os 260 mil mortos até agora e os muitos que ainda virão, os sobreviventes com sequelas, os trabalhadores da saúde esgotados, uma geração de órfãos do vírus, os alertas de cientistas, os apelos de autoridades, os desempregados, os desesperados"... Nada abala a calculada estratégia assassina de Bolsonaro, demonstrada nas medidas que tomou ou que deixou de tomar na pandemia.
Bolsonaro tem a morte como projeto. Ele comanda o exército da peste, sustentado por um consórcio macabro de interesses. Cerram fileiras o centrão, militares, empresários adoradores de Paulo Guedes e setores necrosados do Judiciário. Com essa retaguarda, Bolsonaro continuará zombando de nós, mentindo, rindo de suicídios, regozijando-se enquanto empilha cadáveres.
O mundo já nos considera uma ameaça, porque demos ao vírus as condições ideais para ele se tornar mais agressivo. Os investimentos estrangeiros vão demorar anos para retornar. A economia quebrou. Bolsonaro tem a maior parcela de responsabilidade nessa hecatombe, mas outros também têm deveres e obrigações. Governadores e prefeitos, tenham a coragem de adotar confinamento mais rigoroso !
Não se conhece a identidade do haitiano que confrontou o contaminador-geral da República, nem se sabe se está vivo. Mas sua voz não para de ressoar na minha cabeça. Eleição e voto não dão a ninguém licença para matar. Bolsonaro e seu comparsa Eduardo Pazuello têm que ser interditados, processados e julgados. A pior escolha que podemos fazer como sociedade é a resignação, a apatia.
Demétrio Magnoli: Biopolítica da pandemia
Narrativa de que o totalitarismo é mais eficiente na contenção do contágio está errada
A eclosão da Covid-19 em Wuhan, em dezembro de 2019, foi muito mais ampla do que se imaginava. Naquele mês, circulavam ao menos 13 variantes da cepa A do novo coronavírus na cidade chinesa, uma indicação de que a doença já se difundia, silenciosamente, havia tempo. A descoberta da missão da OMS na China lança luz sobre a transformação de uma epidemia localizada na mais dramática pandemia desde a gripe espanhola.
O percurso derivou de uma conjugação de fatores políticos e biológicos. Sob o peso de um lockdown aplicado com a força implacável de um Estado totalitário, Wuhan emergiu da onda de contágios com poucos milhares de mortos. As cifras modestas desarmaram os espíritos no resto do mundo, semeando a complacência inicial. Daí, em março de 2020, uma avalanche de óbitos atingiu a Lombardia, deflagrando o lockdown italiano, logo replicado em diversos países europeus.Hoje sabemos que o desastre não seria tão trágico sem a mutação D614G, sofrida pelo vírus na Europa, fonte das variantes dominantes no resto do mundo. O coronavírus da cepa “original” (A) era menos transmissível que o B.1, difundido fora da China. Não é preciso ser um Estado totalitário para impor um lockdown decisivo. A diferença entre a China e a Itália situou-se na esfera da biologia. Mas o fenômeno desvenda a escala das responsabilidades políticas da China.
A árvore de mutações virais não tinha sido desenhada em meados de 2019. Naquele ponto, diante do chocante contraste entre a taxa de óbitos em Wuhan e na Lombardia, analistas suspeitaram que a China escondia pilhas de cadáveres. Sabe-se, agora, que isso não ocorreu.
Obcecado pelo segredo, hipnotizado por cálculos de prestígio, o regime chinês suprimiu a notícia dos primeiros casos detectados e ocultou a extensão dos contágios. O tempo perdido propiciou a disseminação subterrânea do vírus fora da China e a eclosão das variantes que vergaram o mundo inteiro.Vírus mudam sem parar, mas só prevalecem as mutações que aumentam suas oportunidades de reprodução. Normalmente, essa regra evolucionária reduz a letalidade, pois matar o hospedeiro contribui negativamente na velocidade de transmissão. A regra, porém, parece não valer para o novo coronavírus porque a fase de contágio intenso se dá nos dias iniciais da doença, quando a carga viral concentra-se na garganta. Assim, do ponto de vista do vírus, uma letalidade maior não traz desvantagens.
Desse modo, explica-se o surgimento recente de variantes não só mais transmissíveis como, também, mais letais no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil. As novas ondas pandêmicas resultam, ao menos em parte, da trajetória evolutiva de um vírus que se espalhou por toda a humanidade, expandindo suas oportunidades de mutação.
A história da pandemia, que começa a ser contada, impugna o elogio da China. A narrativa de que o totalitarismo é mais eficiente na contenção do contágio está errada. A verdade é que o regime chinês lidou com um vírus menos eficiente. Inversamente, é falsa a afirmação de que o Ocidente fracassou no combate à pandemia. A verdade é que, por culpa da China, reagiu tardiamente, quando a Covid já se disseminara nas sociedades, e enfrentou variantes mais transmissíveis do vírus.
2021, Ano 2 da pandemia, abre a etapa da imunização. A China, triunfante no Ano 1, vacina em ritmo lento, enquanto EUA, Reino Unido e, logo, União Europeia, protegerão antes suas populações.
A balança geopolítica tende a se inclinar para o lado das sociedades imunizadas, que poderão reabrir com segurança suas economias e suas fronteiras. Mas, no fim das contas, tudo depende de uma escolha política crucial de Joe Biden. Se os EUA se fecharem no nacionalismo vacinal, perderão sua vantagem potencial. Se, pelo contrário, liderarem o esforço de vacinação dos países em desenvolvimento, virarão o jogo.
Vinicius Torres Freire: Entenda a recaída do Brasil e por que os EUA afetam dólar e juros por aqui
Bolsonaro e seu desgoverno são o ruído de fundo do desastre, mas convém olhar para os EUA e na reação dos donos do dinheiro à inflação no Brasil
Em um país distante do Norte da Terra, que baniu o Ogro Laranja e vai distribuir poções medicinais para seu povo inteiro até maio, há um negócio em que os mercadores de dinheiro do mundo prestam a maior atenção. É a taxa de juros dos títulos de 10 anos do governo dos Estados Unidos.
Grosso modo, é o custo de o governo americano tomar empréstimos por dez anos. Define o custo do crédito para outros negócios, desde comprar casa no Texas a emprestar para o governo do Brasil. Pelo menos desde 25 de fevereiro, a alta dos juros de longo prazo americanos tumultua a finança mundial, em particular nos países “emergentes”.
O Brasil, um país submergente nas profundas dos infernos, padece em especial do remelexo americano. A gente precisa prestar atenção nisso. “Estruturalmente, a questão americana é a mais relevante, é central”, como diz em termos sóbrios Armando Castelar, pesquisador do IBRE/FGV, professor de economia da UFRJ.
A alta da taxa de juros nos EUA é motivo da alta do dólar pelo mundo. A economia americana se recupera com rapidez. Vai receber US$ 1,9 trilhão de impulso de gasto do governo (35% mais que o PIB brasileiro anual). Conta ainda com o estímulo do Banco Central deles, o Fed, que continua comprando mais de US$ 100 bilhões por mês em títulos públicos e privados. Para resumir uma conversa enrolada, na prática isso significa que o Fed reduz as taxas de juros pagas por governo, empresas e mesmo indivíduos: o Fed subsidia, banca, parte da conta dos juros. Até maio, a população americana deve estar vacinada. Parte da dinheirama do mundo corre, pois, para os EUA.
Considerada ainda a volta a alguma normalidade sanitária no segundo semestre, a economia americana tende a acelerar. Haveria perspectiva de volta da inflação e, assim, de alta das taxas de juros de curto prazo, se diz.
Jerome Powell, o presidente do Fed, disse nesta quinta-feira que não, sem convencer “o mercado”. Não seria neste ano que estariam satisfeitas condições para alta de juros: mercado de trabalho recuperado, inflação a 2% e expectativas de inflação que fiquem por aí, ou algo mais, por alguns anos.
O efeito mais imediato dos EUA por aqui é a alta do dólar e dos juros brasileiros de prazo mais longo. Mas dólar mais caro por mais tempo sedimenta expectativas de inflação mais alta. Além do mais, houve aumento grande do preço de commodities (petróleo, grãos) e pressão em preços de bens de consumo por causa dos auxílios emergenciais. O IPCA deve ficar na casa dos 6% entre abril e setembro. A renda do trabalho está sendo carcomida.
A fim de deter essa inflação, o BC brasileiro deve elevar a taxa de juros básica (Selic), ora em 2%, a partir de 17 de março, embora ainda exista controvérsia sobre a persistência dessa carestia. Para Castelar, a Selic tem de ir a 5,5% no final do ano. Para os economistas do Itaú, a 5%. Pela opinião visível no custo do dinheiro na praça financeira brasileira, para algo entre 5,5% e 6%.
Seria uma paulada. Um aperto na atividade econômica. Um aumento no custo de financiamento da dívida pública já enorme, custo extra que ficará notável em 2022. Vai para o vinagre a ideia de que poderíamos ficar com juros reais perto de zero até bem entrado o ano que vem.
O morticínio crescente e o semiparadão também não estavam nas contas econômicas. As restrições oficiais e voluntárias a movimento e comércios não serão tão grandes como no início de 2020. Mas devem ter efeito por pelo menos até abril. É menos crescimento, se algum, até meados do ano. O PIB paulista caiu em janeiro, primeira baixa ante mês anterior desde abril de 2020 (no indicador PIB+30 do Seade). O indicador Cielo de vendas no varejo se recuperou bem até outubro, quando estava em queda de 7,7% ante igual mês do ano anterior. Em janeiro, estava em baixa de 12,6%.
O mundo de novembro de 2020, que deu um alento ao PIB do final do ano, se esfumaçou. Fevereiro foi fraco, março será pior. Sim, Jair Bolsonaro e seu desgoverno são o ruído de fundo do desastre. Mas convém prestar atenção nos EUA e na reação dos donos do dinheiro à inflação no Brasil.
Caetano Araújo: Duas Américas
Com exceção dos enclaves francófonos e holandeses, nosso continente é culturalmente bipartido e as metades ibérica e anglófona se encontram na fronteira entre México e Estados Unidos. Daí a importância simbólica do primeiro encontro entre os presidentes Biden e Lopez Obrador, por meio de videoconferência, em primeiro de março passado.
Ficou claro, de início, a diferença da posição americana em relação ao governo anterior. A retórica agressiva, bem como a abordagem do problema migratório como caso de polícia, foi descartada pelo governo democrata que se inicia e substituída pela intenção declarada de construir e acumular consensos em todos os pontos de divergência e conflito da agenda bilateral.
Mas as mudanças percebidas foram além do tom e da linguagem empregada no diálogo. O conteúdo da agenda é novo também. Três foram os grandes temas assinalados: mudança climática, ou seja, proteção ao meio ambiente e transição para fontes de energia limpa; o combate à pandemia; e a cooperação no trabalho de regularizar o movimento de migrantes em direção ao norte, com a prevenção consequente da migração ilegal.
Claro que essa agenda não se restringe, na perspectiva americana, às relações com o México, mas devem ser replicados no diálogo a ser travado com todos os países da região, contempladas as especificidades de cada caso. Ou seja, é possível antever o tamanho das dificuldades que se avizinham para países descuidados com a questão ambiental e omissos no combate à pandemia.
Importa também tentar discernir os desdobramentos possíveis dessa agenda, no caso de um diálogo continuado e produtivo em torno dessas questões. No caso da mudança climática, ações coordenadas de contenção e, num enfoque otimista, reversão do processo, demandarão a construção de um conjunto de regras e objetivos comuns, a valer no âmbito do continente.
O mesmo ocorre no caso do combate à pandemia. Parece claro que a fábrica de doenças, por mudanças ambientais e da sociabilidade humana, está funcionando a pleno vapor, de modo que o simples controle da ameaça atual não é bastante. Precisamos transitar para uma política de segurança sanitária continental, na qual a Organização Panamericana de Saúde deve ganhar novas atribuições.
Finalmente, a questão da migração exige o equacionamento comum de questões espinhosas como uma nova estratégia de controle e prevenção do consumo de narcóticos; a restrição progressiva da produção e circulação de armas de fogo; o combate ao crime organizado; e a reconstrução econômica dos países da América Central, origem hoje das principais caravanas de migrantes em direção ao norte.
Jamil Chade: Sem controle, Brasil caminha para superar EUA e gera preocupação mundial
O crescimento no número de casos no Brasil, a incapacidade de o governo de implementar medidas para frear o vírus e os temores de que a variante brasileira comece a se espalhar acendem um alerta global.
Em reuniões fechadas da OMS (Organização Mundial da Saúde), a situação brasileira é tida como "preocupante" e projeções já apontam que, se não houver uma mudança profunda na forma de o Brasil lidar com a crise, o mês de março poderá terminar com o país superando os EUA em número de novas infecções e, eventualmente, em termos de mortes diárias.
No que se refere aos números totais desde o início da crise há um ano, o território americano continua sendo o mais atingido, com 28,2 milhões de casos de pessoas infectadas, seguido por 11,1 milhões na Índia e 10,5 milhões no Brasil.
Depois de seis semanas de queda no número de novos casos globais, a OMS indicou que a semana passada viu um novo aumento nas infecções em quatro das seis regiões do mundo. Mas a curva começa a sofrer uma transformação e o Brasil surge como um dos focos de maior alerta, não apenas pelo comportamento do vírus, mas também pela insistência das autoridades em negar a necessidade romper as cadeias de transmissão.
Em meados de dezembro, os americanos registravam 1,6 milhão de novos casos por semana, contra 326 mil no Brasil. Nos últimos sete dias, de acordo com as contas da OMS, foram 471 mil novos casos nos EUA, contra 378 mil no Brasil. Nesse ritmo, as cidades brasileiras poderão ocupar o primeiro lugar em poucas semanas. Hoje, a população americana supera a marca de 331 milhões de pessoas, contra 211 milhões no Brasil.
Em termos de mortes, os americanos superavam a média de 18 mil novos mortes por semana em dezembro de 2020, contra 5.200 no Brasil. Nos últimos sete dias, os dados mostraram uma tendência inversa. Nos EUA, foram 14 mil novos óbitos, contra 8.200 no Brasil.
As disparidades em termos de vacinação também contribuem para uma virada nesses números. Nos EUA, já são mais de 50 milhões de pessoas que se beneficiaram da campanha de imunização, contra menos de 7 milhões no Brasil. Para as próximas semanas, o acesso a novas vacinas também é delicado.
Em negociações, farmacêuticas têm alertado que o governo que fizer um pedido de fornecimento neste momento receberá doses apenas no segundo semestre do ano, na melhor das hipóteses. Quanto às vacinas da Covax, a aliança mundial, o Brasil receberá 9,1 milhões de doses até junho, bem abaixo dos 14 milhões que o Ministério da Saúde havia anunciado em fevereiro.
Na última sexta-feira, o chefe de operações da OMS, Mike Ryan, abandonou sua tradicional diplomacia para alertar que o Brasil vivia uma "tragédia" e que a situação deveria servir de lição ao mundo de que não há como relaxar medidas de controle.
Mas sua fala também evidenciou uma crítica velada ao governo federal. Ao destacar os esforços feitos no Brasil, ele aplaudiu os cientistas do país e os governadores de estados, sem qualquer referência ao Ministério da Saúde ou ao Palácio do Planalto.
Os comentários geraram um mal-estar entre membros do governo brasileiro. No passado, falas da OMS levaram as autoridades nacionais a disparar cartas ao organismo para se defender.
Diplomacia esgotada?
Por meses, a ordem interna na OMS era a de evitar qualquer crítica contra o governo brasileiro, já que o objetivo principal era ajudar o país a superar a crise, oferecendo auxílio técnico, orientação e mesmo materiais.
A coluna apurou que, no auge das críticas de Bolsonaro contra a OMS no primeiro semestre de 2020, a agência mantinha um trabalho no país, sem fazer qualquer tipo de declarações ou alarde. Em troca de um acesso às cidades brasileiras, a opção da agência era a de manter silêncio e não rebater os ataques do presidente.
Bolsonaro, o louco
Dentro das agências internacionais, porém, uma parcela dos técnicos começa a alertar que a estratégia não tem dado resultados. Bolsonaro passou a ser tratado como "louco", enquanto se multiplicam cartas e denúncias da sociedade civil, parlamentares, indígenas, religioso e ex-ministros pedindo uma reação internacional.
A resposta brasileira também está sendo alvo de uma investigação por parte de um grupo independente, montado pela OMS para avaliar como diferentes governos e ela mesmo deram resposta para a crise. O resultado do inquérito deve ser publicado em maio.
O Ministério da Saúde recebeu um questionário sobre a estratégia adotada no Brasil e tudo o que foi feito, desde janeiro de 2020. Todos os governos membros da OMS foram consultados. Mas, segundo a coluna apurou, as respostas dos países como o maior número de casos vão servir para que o comitê avalie por qual motivo alguns governos conseguiram frear a crise, enquanto outros não tiveram o mesmo sucesso.
Variante brasileira preocupa
Enquanto os resultados da enquete não são publicados, em reuniões técnicas com cientistas e pesquisadores de diferentes partes do mundo, a situação brasileira passou a ser incontornável, principalmente quando o assunto é o fortalecimento da circulação de variantes do vírus no país.</p><p>A constatação é de que existe um "apagão" de dados do Brasil sobre a circulação de novas variantes pelo território nacional e uma forte suspeita de que não há controle sobre quem sai do país infectado ou não.
A situação gerou um temor ainda maior depois que estudos indicaram que a variante predominante em Manaus mantinha uma carga viral várias vezes superior à cepa original.
Denominada oficialmente como variante P1, a mutação foi primeiro identificada no Japão, em viajantes brasileiros. Hoje, ela já está presente em quase 30 países e o número cresce a cada semana.
Em seu último informe semanal, a OMS deixou claro que o vírus é predominante em Manaus e em parte da região norte do brasileiro. "Podemos estar no início do caos", afirmou uma delas, na condição de anonimato.
Na Europa, a situação brasileira também é alvo de uma atenção total, com autoridades em capitais como Paris e Madri instruídas a reforçar o controle sobre qualquer passageiro que tenha passado pelo Brasil.
Neste fim de semana, o governo britânico confirmou a existência da variante brasileira em pelo menos seis pessoas diferentes. Mas a crise para a imagem do país ficou ainda mais aguda depois que as autoridades sanitárias em Londres lançaram uma "caçada" para localizar o indivíduo que não preencheu um formulário de registro de teste ou que não recebeu seu resultado.
Uma das suspeitas pode ser uma pessoa que estava no voo LX318, da companhia Swiss e que deixou São Paulo para Zurique, no dia 10 de fevereiro. Depois de passar pela Suíça, a pessoa embarcou em um segundo voo para Londres.
Se a falta de informação sobre o passageiro levou a oposição britânica a criticar o governo em Londres, ela também despertou um segundo aspecto: a incapacidade do Brasil de saber onde está o vírus e quem está embarcando em seus aeroportos em direção a outras partes do mundo.
"Isso pode significar que a desconfiança em relação ao Brasil vai se aprofundar", alertou um representante britânico, que pediu para não ser identificado.
RPD || Dawisson Belém Lopes: A política externa brasileira num labirinto borgiano
Pária mundial “por opção”, nas palavras do chanceler Ernesto Araújo, o governo Bolsonaro é responsável por um dos piores momentos da política externa brasileira, deixando de perseguir interesses concretos do país
Não faz muito tempo, o Brasil jactava-se de seu universalismo. Era o país que não conhecia inimigos. Alcançava praticamente todo recanto do planeta com sua rede diplomática. Chefiava organismos prestigiosos, como a OMC e a FAO, e cedia seus nacionais para tribunais e cortes internacionais. Orgulhava-se de sua chancelaria. Tinha no Ministro das Relações Exteriores um signo da melhor tradição intelectual. Liderava agendas centrais, como a do meio ambiente, e era consultado em assuntos de direitos humanos, governança da internet, paz e segurança. Nossa República Federativa fazia boa figura no teatro global.
Esse tempo de bem-aventurança, contudo, ficou para trás. O Brasil, hoje, é “pária por opção” – invocando aqui palavras do chanceler Ernesto Araújo. Num contexto de desafios, em que despontam a rivalidade sino-americana e o arrasamento pandêmico, o governo federal vê diminuir a margem para manobrar. Opções estratégicas sobre a mesa vão minguando, à medida que nos indispomos com potências e abdicamos de pretensões de liderança no entorno geográfico, deixando de perseguir interesses concretos do país.
Responsável por mais de 30% do comércio externo brasileiro, a China é quem ajuda a manter as contas no azul. A despeito disso, Jair Bolsonaro e asseclas hostilizam Pequim sem cessar, desde a campanha eleitoral, em 2018, até o presente. Xi Jinping já emite, por meio de seus representantes empresariais e diplomáticos, ameaças de represália. Segundo lugar entre parceiros comerciais, além de maiores investidores no Brasil durante a década de 2010, os Estados Unidos também são fundamentais no grande esquema das coisas. Porém, como o incumbente do Planalto amarrou os destinos da nossa nação a Donald Trump, não se deve esperar atitude benevolente de Joe Biden no porvir.
Entre europeus, nada muito distinto. Terceira parceira comercial, a Holanda rejeitou, pela via parlamentar, o acordo UE-Mercosul, sob argumento de defesa da Amazônia. A Espanha, quinta no ranking do comércio externo, é governada pela esquerda, o que dificulta interlocução mais profícua. A Alemanha vive às turras com o maior país da América do Sul; além do desgaste da imagem, negócios permanecerão parados enquanto as práticas ambientais não forem revistas. A França, outra investidora no Brasil, faz objeção vocal à política ambiental e, como os chineses, planeja deixar de comprar os grãos que movem o agronegócio pátrio.
Na América Latina, a configuração não é menos dramática. Por quase um ano, os chefes de Estado de Brasil e Argentina (esta, a nossa quarta maior parceira comercial) não trocaram uma palavra sequer. O silêncio foi rompido recentemente, por iniciativa de Buenos Aires, mas os canais seguem obstruídos. Já o oitavo lugar no ranking de parceiros comerciais, o México, também é liderado pela esquerda, o que inviabiliza o diálogo – segundo a lógica sectária bolsonarista. México e Argentina coordenam entre si as iniciativas regionais, na ausência do Brasil. Jorge Castañeda, ex-chanceler mexicano, resume o imbróglio: “o Brasil ficará isolado em seu autoritarismo.”
Uma nota sobre a pandemia. O enfrentamento brasileiro ao novo coronavírus foi considerado, numa amostra de 98 países, o pior de todos, segundo think tank australiano. Parte dessa desastrosa condução deveu-se à incompetência nas mediações com o restante do mundo. Com uma indústria farmacêutica que importa 90% de seus insumos e diante da opção por não investir na fabricação de imunizante nacional para controlar o espalhamento da covid-19, o Brasil tornou-se refém de suprimento externo. Em tempos de escassez, porém, cada estado favorece primeiramente a população local. De exemplo em políticas públicas para vacinação em massa, passamos a figurar entre os que, pela incapacidade de lidar com a doença, sabotam o esforço de contenção do vírus.
Diante de fracassos retumbantes na política externa, como reagem o presidente da República e seu chanceler? Em gestos que exemplificam um descolamento de fatos e estatísticas, Bolsonaro e Araújo reúnem a fina flor da direita populista – de Andorra à Ucrânia, passando por Hungria e Índia – para clamar por “liberdade” e “família”, ao mesmo tempo em que flertam com monarquias teocráticas do Oriente Médio. Talvez seja o que lhes tenha restado no tabuleiro geopolítico. Como num conto de Borges, fica para o observador a incômoda sensação de que, quanto mais avançamos por estas sendas, mais se bifurcam os caminhos do labirinto.
*Dawisson Belém Lopes é Professor Associado de Política Internacional e Comparada na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais e, desde março de 2018, Diretor-adjunto de Relações Internacionais da UFMG.
Luiz Augusto de Castro Neves: ‘Papel do Itamaraty se tornou secundário’
Pragmático, governo da China busca outras vias de negociação, como os governadores, diz Luiz Augusto de Castro Neves
Francisco Carlos de Assis, O Estado de S.Paulo
Para o embaixador do Brasil em Pequim, de 2004 a 2008, e hoje presidente do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), Luiz Augusto de Castro Neves, o governo chinês optou pelo pragmatismo e não tem levado em consideração os ataques recebidos de alguns membros do governo brasileiro. “O governo brasileiro, nas suas manifestações públicas, tem apresentado algumas disfuncionalidades”. A seguir, os principais trechos da entrevista ao Estadão.
Apesar do discurso ‘antichina’ do governo, a exposição das exportações brasileiras à China saltou de 28%, em 2019, para 32%, em 2020. Teremos uma repetição deste aumento este ano?
Sim. A China, embora tenha crescido 2% no ano passado, sofreu uma desaceleração muito grande, o que gerou uma capacidade ociosa que deverá ser preenchida este ano. E o Brasil se mantém ainda em recessão e tem aumentado as exportações para o mercado chinês e reduzindo suas importações. O aumento das exportações para a China se dá por sua economia estar crescendo mais que a economia mundial.
Mesmo com as compras de insumos para vacinas as importações de produtos chineses não devem ter destaque este ano?
A compra de produtos chineses, de modo geral, tende a se estabilizar ou até diminuir. As importações dos insumos necessários para a fabricação de vacinas contra a covid-19, quantitativamente, não serão decisivas, no agregado, para gerar um aumento nas importações. Nossas importações da China são basicamente de bens intermediários essenciais para a indústria.
Os ataques feitos à China por membros do governo não causam ruídos nas negociações comerciais entre os dois países?
O governo brasileiro, nas suas manifestações públicas, tem apresentado algumas disfuncionalidades. São manifestações vinculadas ao governo e que exprimem posições pessoais. Mas o que tem prevalecido é o pragmatismo e, bem ou mal, a China ainda é o nosso maior parceiro comercial.
Recentemente, os chineses andaram negociando com governadores e com o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia. É uma forma de reduzir o papel do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores?
A China vai sempre negociar com interlocutores eficazes. O ex-presidente Michel Temer negociou com eles com a anuência do governo federal, mas é fato que o papel do Ministério de Relações Exteriores se tornou secundário. Mas esta tem sido uma tendência mundial. Se antes as negociações comerciais eram de exclusividade do Ministério de Relações Exteriores, hoje Estados e empresas privadas têm seus próprios canais de conexão com o mundo.
Roberto Abdenur: ‘Houve uma destruição da política externa brasileira’
Comércio com os EUA também foi afetado, apesar das concessões feitas por Bolsonaro, em uma postura de 'subserviência', avalia ex-diplomata
Douglas Gavras , O Estado de S. Paulo
O saldo dos dois primeiros anos de governo Bolsonaro nas relações exteriores é destrutivo, avalia o ex-embaixador na China Roberto Abdenur. Na entrevista a seguir, o ex-diplomata, que também já representou o Brasil em Washington, ressalta que a postura de “subserviência” do governo brasileiro em relação ao ex-presidente americano Donald Trump foi ruim para o País sob diferentes aspectos.
É possível classificar a relação atual do Brasil com a China como uma dependência comercial?
A China despontou como parceiro comercial brasileiro, graças à imensa demanda por commodities, mas não creio que o Brasil seja dependente deles, no sentido de que eles não têm poder para ditar rumos ao governo brasileiro, assim como não éramos dependentes dos Estados Unidos, quando o peso deles era maior na balança brasileira.
O que temos é uma parceria?
Temos uma parceria estratégica, que ajudei a lançar quando era embaixador em Pequim, até o início da década de 1990. De lá para cá, isso floresceu, graças ao extraordinário crescimento da China. Na época, já via o avanço chinês com otimismo, mas não imaginei que eles fossem sustentar esse crescimento por quase 30 anos, e que o país se transformaria em uma potência econômica, comercial, militar e tecnológica.
Como definir a política externa brasileira no atual governo?
O que houve nos dois anos de Bolsonaro é que o Brasil não teve, a rigor, uma política externa. Houve uma destruição da diplomacia. As coisas de que falam o chanceler, Ernesto Araújo, e os assessores da ala ideológica são devaneios, uma nuvem de teorias da conspiração. Chegamos a considerar as próprias Nações Unidas algo indesejável. Nos tornamos o único país do mundo que ataca o multilateralismo.
O saldo da relação muito próxima entre Bolsonaro e Trump é negativo para o Brasil, portanto?
No ano passado, houve um forte encolhimento do comércio com os EUA, muito por conta da pandemia, mas também por protecionismo. O ex-presidente Donald Trump impôs tarifas abusivas sobre aço, alumínio e etanol brasileiros. O comércio foi afetado, apesar de todas as concessões feitas por Bolsonaro, em uma postura inacreditável de subserviência.
A afinidade entre os dois governos feriu o interesse nacional?
Na primeira metade de seu mandato, Bolsonaro se pendurou em Trump. Também já fui embaixador em Washington e as relações com os EUA eram conduzidas de outra forma. Havia diferença de tom, mas também uma linha de continuidade que atravessou governos tão diferentes entre si, como o de Sarney, Collor, FHC e Lula.
NOTÍCIAS RELACIONADAS
- Efeitos da covid-19 fazem custo de frete para a China disparar
- Brasil perde R$ 4,6 bi em exportações com barreiras comerciais, estima CNI
- Balança comercial registra déficit de US$ 1,125 bilhão em janeiro
DW Brasil: Biden diz que Trump não deve ter acesso a relatórios de inteligência
Presidente menciona "comportamento errático" do republicano para justificar por que ele não deve continuar sendo informado sobre questões confidenciais de segurança nacional, como é tradição para ex-presidentes
Enquanto presidente, Trump rivalizou com os serviços de inteligência e foi acusado de vazar informações confidenciais
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que seu antecessor, Donald Trump, não deverá ter acesso a relatórios de inteligência sigilosos devido a seu "comportamento errático".
Os EUA têm a tradição de permitir que ex-presidentes continuem sendo informados sobre questões de segurança nacional, como cortesia concedida pelo atual ocupante do cargo. Mas questionado pela emissora CBS se Trump também teria essa regalia, Biden respondeu: "Acho que não."
O presidente não detalhou quais seriam seus maiores temores caso o republicano tivesse acesso aos relatórios sigilosos, mas sugeriu que não se pode confiar em Trump para manter em segredo informações confidenciais.
"Só acho que não há necessidade de ele ter os briefings de inteligência. De que vale dar a ele um briefing de inteligência? Que impacto ele teria, a não ser o fato de que pode cometer um deslize e contar alguma coisa?", disse o presidente na sexta-feira (05/02), em sua primeira entrevista desde que assumiu a Casa Branca, em 20 de janeiro.
Segundo o jornal New York Times, a recusa da cortesia a Trump seria a primeira vez em que um ex-presidente americano é excluído da tradição de ter acesso contínuo aos informes.
Na entrevista, Biden mencionou como justificativa o "comportamento errático de Trump não relacionado à insurreição", referindo-se à invasão do Capitólio, em Washington, em 6 de janeiro. À época, o então presidente insuflou seus apoiadores a marcharem até o Congresso para impedir que parlamentares confirmassem a vitória de Biden nas eleições presidenciais de novembro.
Trump insistiu que houve fraudes eleitorais e que ele venceu o pleito, apesar de nunca ter apresentado evidências disso e de perder dezenas de contestações na Justiça.
O ataque violento ao Capitólio, que deixou cinco mortos, rendeu a abertura de um segundo processo de impeachment contra Trump pela Câmara dos Representantes. A ação agora tramita no Senado.
Questionado pela CBS sobre as acusações de que o ex-presidente teve papel no motim, Biden afirmou que "correu como louco para derrotar" Trump na eleição "porque o achava impróprio para ser presidente", mas disse que deixará para o Senado decidir se o republicano deve ou não ser impedido de ocupar cargos públicos novamente.
Trump e os serviços de inteligência
Durante seus quatro anos na Casa Branca, Trump repetidamente gerou preocupações sobre seu uso dos serviços de inteligência ou mesmo por rivalizar com a comunidade de inteligência nacional, que ao todo contou seis diretores ao longo de seu mandato.
Ele questionou, por exemplo, relatórios de agências americanas que apontaram que a Rússia interferiu nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, e também atacou chefes de inteligência por serem "extremamente passivos e ingênuos" em relação ao Irã.
Em maio de 2017, Trump teria compartilhado informações altamente confidenciais em uma reunião com o ministro do Exterior da Rússia e o embaixador russo sobre uma operação ligada ao grupo extremista "Estado Islâmico" (EI), algo que foi visto como uma quebra de confiança por muitos da comunidade de inteligência americana.
- QUE PODERES TEM O PRESIDENTE AMERICANO?
O que diz a Constituição
- O presidente dos EUA é eleito por quatro anos, com direito a uma reeleição. Ele é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e de governo. Cerca de quatro milhões de pessoas trabalham no Executivo americano, incluindo as Forças Armadas. É tarefa do presidente implementar as leis aprovadas pelo Congresso. Como o mais alto diplomata, ele pode receber embaixadores − e assim reconhecer outros Estados.
Dorrit Harazim: Pente finíssimo
Esta foi a semana inaugural da vice-presidente pinçada por Joe Biden para estar a seu lado — ou no seu lugar — no comando do país até 2025. Foi de Kamala Harris o voto de minerva no Senado que permitiu a tramitação do pacote emergencial de estratosféricos US$ 1,9 trilhão (R$ 99,5 trilhões) destinado a reparar a devastação nacional causada pela Covid-19. A votação durou 15 horas, terminou às 5h30m da madrugada de anteontem, e sua tramitação recheada de 40 emendas volta agora para a Câmara dos Representantes. Um marco e tanto.
A partir de terça-feira, quando o segundo pedido de impeachment de Donald Trump aportar no mesmo Senado rachado em 50-50, a inquisitiva ex-senadora Harris fará falta nas arguições — se arguição houver. É mais provável que nem sequer haja condenação, pois, para ser aprovada, são necessários dois terços dos votos. Na improvável hipótese de que seja aceita uma votação extra, por maioria simples, sobre Trump ser proibido de exercer qualquer cargo público futuro, Kamala estará a postos em caso de empate na votação. Ao longo da história, o voto de minerva que compõe as atribuições da Vice-Presidência já foi exercido 268 vezes.
A equipe de Biden que garimpou Kamala Harris trabalhou em duplas por três meses durante a campanha. Da primeira seleta de 23 sabatinadas, e da avaliação das montanhas de documentos por elas fornecidos, haviam sobrado 11. Várias chegaram a classificar o questionário de mais de 120 perguntas como “invasivo” e “extenuante”. Ao final de 120 horas de entrevistas, sobraram Kamala e Susan Rice, a assertiva ex-assessora de Segurança Nacional de Barack Obama, também negra. Biden só foi chamado a tomar sua decisão histórica na reta final. E, sendo quem é, telefonou pessoalmente às 11 descartadas para atenuar o desapontamento e agradecer a dedicação.
A cortesia e civilidade do 46º ocupante da Casa Branca são inerentes a sua índole. Mas o rigor na seleção de quem deve ou não se juntar à equipe, Joe Biden aprendeu com Barack Obama, seu chefe e parceiro inseparável por oito anos. O presidente americano de número 44 entrará para a história com uma marca invejável: permaneceu no cargo por dois mandatos sem um só grande escândalo financeiro, ético ou moral por parte de sua equipe. Obama traçara essa linha vermelha por saber que o grande teste de liderança para qualquer presidente começa na escolha dos que ocuparão cargos críticos no governo. O Brasil e Jair Bolsonaro que o digam.
O método Obama foi impiedoso com os postulantes. Tinha como pedra fundamental um questionário de 63 itens que não deixavam nada insepulto. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um presidente submetia a crivo tão invasivo candidatos aos 15 cargos do primeiro escalão e aos 800 postos executivos que dependem de aprovação pelo Senado. No total, o questionário contemplou todos os cerca de 7 mil postos do governo federal sujeitos à indicação do presidente. Vários postulantes de renome acabaram desistindo no meio do caminho. Outros recorreram a advogados próprios para se aconselhar sobre os riscos de omitir algum pecadilho por e-mail, alguma distração financeira, alguma referência acadêmica imprecisa.
E aquela contratação de doméstica sem registro, dez anos antes? Sim, porque o tal questionário esquadrinhava retroativos a uma década. Qualquer presente de mais de US$ 50 recebido de pessoa fora do círculo familiar ou amical precisava ser listado. O propósito do questionário não era montar um governo reservado a virgens de qualquer pecado. Para Obama, tratava-se de conhecer os riscos da contratação. Não era necessariamente um veto, serviria de norte. E funcionou.
À época, o advogado E. Pendleton , sabatineiro de candidatos na era Ronald Reagan, indignou-se: “Não entendo como alguém com um mínimo de autoestima possa se sujeitar a tudo isso... É apavorante, qualquer candidato que preencha o questionário fica em pânico de ter cometido algum engano”. Os sabatineiros da era Obama trabalhavam seguindo o mantra do “se nós achamos algo, alguém mais também vai acabar achando”.
Biden conhece como poucos as armadilhas do poder, em particular as do Legislativo, onde atuou por mais de 30 anos. Estava atento quando Trump, a poucas horas de partir da Casa Branca, deu uma última carteirada braba: aboliu a quarentena de cinco anos que impedia ex-funcionários federais de exercer a profissão de lobista. Uma das primeiras ordens executivas de Biden ao se sentar no Salão Oval foi restabelecer a proibição por pelo menos dois anos. Também vetou a difundida prática conhecida como “paraquedas dourados”, que permitia aos novos nomeados receber mimos de ex-patrões do setor privado.
Fred Dombo é especialista em legislação de lobby e ética de compliance num grande escritório de advocacia de Washington. Sua avaliação da questão é de veterano. Acha louvável a retificação de curso acenada por Biden, mas conclui que, no final das contas, o decisivo acaba sendo sempre o indivíduo — picareta não se torna honesto por implementação de normas. Nem quem é honesto vira picareta diante de oportunidades.
Em tempo: o link para o Questionário Obama é https://cutt.ly/kkxCcUO
Vale dar uma espiada e imaginar sua aplicação no Brasil.
Demétrio Magnoli: Biden tem oportunidade de converter vacina em bem público global
Presidente dos EUA tem oportunidade de converter vacina em bem público global
George W. Bush será sempre lembrado pelo desastre humano e geopolítico que provocou com a guerra no Iraque. Contudo, uma iniciativa singular do ex-presidente salvou algo como 17 milhões de vidas: o Pepfar (Plano Presidencial Emergencial para Assistência à Aids). Joe Biden tem a oportunidade de se inspirar no plano de Bush para liderar a imunização global contra a Covid-19.
O Pepfar nasceu em maio de 2003, à sombra da invasão do Iraque, que começara dois meses antes. Sob a coordenação do Departamento de Estado, o programa direcionou, de lá para cá, mais de US$ 85 bilhões para os países foco e para o Fundo Global de Combate à Aids. A lúgubre curva de mortes por Aids na África Subsaariana começou a ser achatada graças aos recursos e à assistência técnica providenciados pelos EUA. O modelo do Pepfar oferece a melhor resposta americana à "geopolítica vacinal" chinesa.
Segundo estimativas do Duke Global Health Institute, os países ricos, que abrigam 16% da população mundial, contrataram 60% das vacinas prometidas até agora. A iniciativa Covax, da OMS, destinada a prover imunização global, prevê a entrega, até junho, de apenas 140 milhões de doses para a África, onde vive 1,3 bilhão de pessoas. A célere vacinação da população mundial é um imperativo moral. Mas é, igualmente, a única ferramenta capaz de domar a pandemia, reduzindo as probabilidades de surgimento de incontáveis mutações do vírus pela persistência prolongada dos contágios. "Ninguém está a salvo até que todos estejam a salvo", explica o slogan da Covax.
O triunfo do nacionalismo vacinal teria efeito bumerangue, castigando tanto os países pobres quanto os ricos. A União Europeia, apesar da insistência na retórica da solidariedade global, não parece preocupada com isso. A Comissão Europeia tenta ocultar seu atraso na imunização com ataques despropositados à AstraZeneca, única farmacêutica que distribui vacinas a preço de custo, e com a ameaça de bloquear a exportação de doses produzidas no seu território. Sob Trump, os EUA agiram ainda pior, abandonando a OMS e negando-se a contribuir com o financiamento da Covax.
A China opera no vácuo gerado pelo nacionalismo hipócrita de americanos e europeus. O governo chinês definiu suas vacinas como bens públicos globais e lançou-se a uma diplomacia da imunização, estratégia seguida também pela Índia. Contudo, os discursos humanitários chineses e indianos mal escondem a cuidadosa seleção dos países beneficiários, que obedece a nítidas prioridades de política externa.
Biden promete patrocinar, ainda em 2021, uma "cúpula das democracias". O conceito, em estágio inicial de formulação, inscreve-se na moldura da rivalidade global entre EUA e China. Seria uma articulação diplomática destinada a contrapor os valores das democracias representativas ao sistema de poder totalitário. A ideia enfrenta uma coleção de dificuldades práticas. Mas, para além delas, como superar a percepção de que o conclave de democracias ricas forma o mapa completo das nações privilegiadas pelo acesso preferencial às vacinas?
Os EUA só podem triunfar na "guerra de valores" se conseguirem provar que a democracia funciona melhor que a tirania, especialmente quando o mundo enfrenta uma dramática emergência sanitária. A superpotência injeta nos seus cidadãos vacinas de alta tecnologia, baseadas em mRNA, que tem elevada eficácia e cuja fabricação é mais simples e rápida. Estima-se que, com meros US$ 4 bilhões e uma rede de parcerias público-privadas, o governo americano poderia instalar capacidades produtivas suficientes para imunizar a população mundial no horizonte de um ano.
Os chineses dizem que a vacina deve ser um bem público global. Biden tem a oportunidade de converter essa visão em realidade. É bem melhor que reunir os acumuladores de vacinas numa redoma sanitizada.