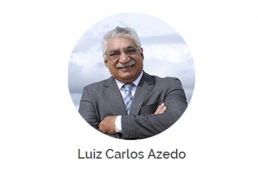Eleições
Luiz Carlos Azedo: A herança maldita
Um dos fatores de instabilidade do processo político, muito maior do que a impopularidade do presidente Temer, é a morosidade da Justiça
O governo Temer herdou de Dilma Rousseff uma herança pesada, a começar pelo desgaste político dele próprio, que não goza de popularidade e enfrenta uma oposição encarniçada, que não prima pela honestidade no discurso e, em alguns casos, pela propriamente dita. É uma herança maldita, para usar uma expressão cunhada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para maldizer seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso.
Primeiramente, como diria o Odorico Paraguaçu — o impagável personagem criado por Dias Gomes e personificado por Paulo Gracindo —, Temer herdou a Operação Lava-Jato, que pode levar o ex-presidente Lula para a cadeia, como outros petistas e seus aliados, mas agora ronda o miolo do atual governo e ameaça boa parte da elite política do país. Essa é a variável mais imponderável.
Segundo (vamos deixar o Odorico de lado), enfrenta a maior recessão da história do país, resultado, de um lado, da roubalheira na Petrobras e seu “capitalismo de laços”; de outro, do experimentalismo irresponsável da “nova matriz econômica” (eufemismo de um projeto de capitalismo de estado nacional-desenvolvimentista) da ex-presidente Dilma Rousseff. Estamos com uma brutal taxa de desemprego e somente agora a inflação cedeu. A curto prazo não teremos reversão desse quadro.
Terceiro, uma base política muito heterogênea, da qual fazem parte as forças de centro-direita que apoiavam o governo anterior, a começar pelo PMDB, e as de centro-esquerda que protagonizaram o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Essa base é ampla para garantir a estabilidade do governo, mas rasa demais para aprovar reformas profundas. Além disso, em parte, padece dos velhos males do fisiologismo e do patrimonialismo que caracterizam a política tradicional brasileira, o que dificulta o ajuste fiscal.
Resumidamente, essa é a herança maldita com a qual teremos que conviver até 2018, quando haverá eleições gerais, conforme o calendário estabelecido pela Constituição brasileira. O tempo é curto para enfrentar os desafios do presente, e o futuro, incerto, principalmente por causa do julgamento das contas de campanha da chapa Dilma-Temer.
A tutela
Um dos fatores de instabilidade do processo político, muito maior do que a impopularidade do presidente Temer, é a morosidade da Justiça. Tudo bem que decorre do acúmulo de processos, mas é um problema político grave. O devagar-quase-parando do Supremo Tribunal Federal (STF), que julga parlamentares e ministros; do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os governadores; e do TSE, que aprecia as contas de campanha, na medida em que aumenta o estoque de políticos enrolados na Justiça, tutela os demais Poderes e desequilibra as relações entre Executivo, Legislativo e Judiciário.
Essa questão tende a agravar a instabilidade política no decorrer do ano, no qual os desdobramentos das delações premiadas de Emílio e Marcelo Odebrecht prometem fortes emoções políticas. Os tribunais não julgam, não separam o joio do trigo, não põem na cadeia quem merece, não livram a cara de quem não tem culpa no cartório. Com isso, o bloco dos que querem mudar as regras do jogo para garantir a impunidade no Congresso só aumenta. É inevitável, a não ser que os julgamentos ocorram.
Deixemos de lado a Lava-Jato. Vejamos o caso das contas de campanha de Dilma Rousseff. Até o flanelinha do estacionamento que separa a Câmara do STF sabe que já estão comprovados o uso de caixa dois da Odebrecht e a lavagem de dinheiro na campanha da petista. O que não sabe é se Michel Temer será condenado também ou se suas contas serão apartadas e aprovadas.
Caso o julgamento tivesse ocorrido, Temer estaria menos vulnerável ou já estaríamos com um novo presidente eleito pelo voto direto. Como não ocorreu (é a tal história, se vovó tivesse barba, era vovô), caso seja condenado como Dilma, teremos uma inédita eleição indireta no Congresso e muita “balbúrdia”, como diria o sociólogo Luiz Werneck Vianna. Quem tira partido dessa situação? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já é réu em cinco processos, a maioria em Curitiba. Jararaca criada, o petista agora prega abertamente a antecipação das eleições gerais, com o argumento de que Temer não tem legitimidade para governar nem o Congresso para fazer reformas. Lula finge que a herança maldita não é sua também, só de Dilma. Quer ser absolvido da Lava-Jato pelas urnas.
Fonte: blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/
Luiz Carlos Azedo: Política fora da lei
Como punir os políticos que comandavam o esquema e não punir os que dele se beneficiaram sem o saber?
A Procuradoria-Geral da República (PGR) protocolou ontem 800 depoimentos de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht que negociaram suas delações premiadas no âmbito da Operação Lava-Jato. Eles serão ouvidos, novamente, por juízes designados pelo ministro Teori Zavascki, relator do caso no Supremo Tribunal Federal(STF), para que as citadas delações sejam aceitas. Até lá, tudo está em segredo de Justiça. Pelo teor dos vazamentos, porém, quase toda a elite política do país está enrolada na Lava-Jato, como naquele samba famoso do Bezerra da Silva: “Se gritar pega ladrão…”
Desde o julgamento do mensalão, sabia-se que o sistema de financiamento da política e dos políticos no Brasil estava em aberta contradição com a Constituição de 1988. Seguia uma tradição na qual o que distinguia um político honesto de um desonesto era a formação de patrimônio e o enriquecimento ilícito com recursos públicos, e não a utilização de caixa dois, prática mais ou menos generalizada. O dinheiro do caixa dois, porém, na maioria dos casos, tinha origem ilícita, principalmente no desvio de recursos públicos mediante o superfaturamento ou a não execução de obras e serviços públicos.
Esse padrão de financiamento não tinha sustentabilidade legal, mas isso não foi levado em conta, porque havia um pacto corrupto entre o mundo político e o mundo empresarial, beneficiado por contratos e privilégios governamentais. Ocorre que os órgãos de controle da União, responsáveis por zelar pela legitimidade dos meios empregados na política, pouco a pouco foram desvendando os vasos comunicantes do sistema, o que culminou na Operação Lava-Jato. Nesse particular, a autonomia concedida à Polícia Federal, à Receita Federal e ao Ministério Público pela Constituição de 1988 revelou-se um instrumento muito eficaz. Os órgãos de controle do Estado passaram a ter um papel decisivo para que o problema fosse enfrentado. As delações premiadas da Odebrecht são desdobramentos das investigações que tiveram início com a simples suspeita de lavagem de dinheiro em um posto de gasolina de Brasília.
Desnudou-se não somente o maior esquema de corrupção do mundo, mas também um modelo de financiamento político e de acumulação de capital incompatíveis com o Estado de direito democrático. Quase todo o establishment político, a rigor, operava fora da lei. Aí está o maior problema da crise ética, pois isso revela um frágil equilíbrio entre a manutenção da ordem democrática e o funcionamento de suas instituições, a começar pelo Congresso. Como desfazer esse nó? Como punir os políticos que comandavam o esquema e não punir os que dele se beneficiaram sem o saber? Para a opinião pública, o juízo está feito. É só cantar o refrão do Bezerra: “não fica um, meu irmão!”. Para o devido processo legal, porém, é preciso provar a existência de caixa dois e o dolo. É aí que entra o Supremo Tribunal Federal (STF) como o desatador de nós.
Campanha
Por exemplo, o depoimento de Marcelo Odebrecht descreveria uma doação ilegal de cerca de R$ 30 milhões para a coligação “Com a Força do Povo”, que reelegeu Dilma Rousseff e Michel Temer. O valor representa cerca de 10% do total arrecadado oficialmente pela campanha. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já haveria provas de que o marqueteiro de Dilma, João Santana, teria recebido R$ 21,5 milhões do caixa dois da Odebrecht. A reprovação de suas contas pode levar à cassação do mandato do presidente Temer, a não ser que a contabilidade de campanha do então vice-presidente seja desmembrada.
Ontem, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava-Jato na primeira instância, aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e mais oito pessoas na Operação Lava-Jato. A denúncia envolve a compra de um terreno para a construção da nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do ex-presidente, em São Bernardo do Campo. Lula é réu em mais três processos relacionados à mesma operação e está sendo investigado em outros quatro. Não é à toa que se queixa de perseguições políticas.
Fonte: blogs.correiobraziliense.com.br
Luiz Carlos Azedo: O que fazer?
O país andará na corda bamba (a pinguela já era) até as eleições de 2018, com todos os grandes partidos sangrando, inclusive o PSDB
O país vive a maior crise política de sua história republicana, com a diferença de que ainda não ocorreu uma revolução, como a de 1930, ou um golpe de Estado, como em 1964. Estamos enfrentando a situação num ambiente democrático, embora uma parcela dos protagonistas da crise insistam na narrativa do golpe parlamentar para fugir à própria responsabilidade sobre o que está acontecendo. Não foi de uma hora para outra, mas a delação premiada do executivo da Odebrecht Cláudio Mello Filho, cujo teor vazou no fim de semana, desnudou um modelo de acumulação de capital e reprodução política que atenta contra o Estado de direito democrático. Esse é o xis da questão.
Uma só das delações — de 77 que serão feitas, as mais importantes de Emílio e Marcelo Odebrecht, os donos da maior empreiteira do país, não vieram à luz — sistematizou o funcionamento do nosso “capitalismo de laços”, com apoio da elite política do país, para promover a maior transferência de renda possível do Estado para empresas que atuavam nos setores mais dinâmicos da nossa economia urbana — complexo petroquímico, energia, indústria automotiva e construção pesada. Deixa claro também o mecanismo utilizado para emendar a Constituição e modificar as leis com objetivo de favorecer e garantir privilégios a essas empresas: a propina para os políticos, que garantiria a reprodução dos mandatos e o enriquecimento pessoal. Outro mecanismo de transferência de renda do Estado para os interesses privados, no caso os representantes de velhas e novas oligarquias. Segundo o relato de Cláudio Mello, 52 políticos receberam cerca de R$ 90 milhões em pagamentos de propinas, caixa dois e doações legais entre 2006 e 2014. É muita grana.
No vértice desse sistema de poder estava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que governou o país de 2003 a 2010, cujo partido foi protagonista de uma espécie de divisão de trabalho entre as empreiteiras e os políticos, estabelecendo as regras do jogo. R$ 17 milhões daquele montante foram pagos a parlamentares em troca da aprovação de matérias que favoreceram a Odebrecht, mas há que se considerar as outras empreiteiras, montadoras de automóveis e empresas periféricas que atuavam no processo, inclusive do agronegócio. Seria má-fé ou ingenuidade acreditar que tudo começou no governo Lula, mas com certeza foi nele que o esquema atingiu a quase “perfeição”, acabando com o cada um por si e Deus por todos no Congresso. Um grupo restrito de políticos aliados, com controle da pauta de votações e das maiores bancadas, comandava a farra.
Também somente a ingenuidade ou a má-fé exclui a ex-presidente Dilma Rousseff, com sua caneta cheia de tinta, do processo. O modus operandi político após a saída de Lula não funcionaria sem sua omissão; além disso, foi desse esquema que veio o dinheiro de suas campanhas milionárias de 2010 e 2014. Dilma não foi citada na delação do executivo, mas nas investigações sobre sua campanha eleitoral já há elementos que comprovam a vinculação do esquema com seu projeto político, haja vista as investigações sobre a atuação de João Santana e da mulher, Mônica Moura, nas eleições. As denúncias contra o presidente Michel Temer e integrantes de seu estado-maior, de parte de Cláudio Mello Filho, apenas corroboram que o esquema supostamente continuou funcionando, mesmo depois do governo Lula.
A propósito, vale destacar que a narrativa nacionalista da defesa do petróleo e da engenharia nacional, utilizada para tentar barrar a Operação Lava-Jato, era parte integrante de um projeto político que, ideologicamente, apostou no “capitalismo de Estado” como via de desenvolvimento e projeção política mundial. Um ambiente internacional favorável, do ponto de vista econômico, e as relações políticas do PT no plano internacional serviram para azeitar negócios no exterior, de onde parte da propina também saiu, graças a financiamentos do BNDES e relações políticas com regimes autoritários ou corruptos. Entre 2003 e 2015, Lula realizou 150 viagens pela América Latina, quase sempre acompanhado um diretor da Odebrecht, hoje um dos delatores do esquema: Alexandrino Alencar. Mantinha relações incestuosas com a Odebrecht e outras empreiteiras.
O colapso
O que fazer diante de tudo isso? Esse é o dilema que o país vive. A cassação do mandato de Dilma Rousseff pelo Congresso não arrefeceu a crise econômica, muito menos zerou a crise ética. Foi a saída encontrada pelo establishment e a oposição para salvar o país da completa bancarrota. As novas denúncias e as manobras para encerrar a Operação Lava-Jato, que fracassaram, desgastaram muito o Palácio do Planalto. Além disso, a crise econômica não arrefeceu, porque se trata do colapso de um modelo de acumulação perverso, tecido ao longo de décadas, sob o olhar cúmplice de uma alta burocracia federal acomodada em seus privilégios. Temer não está livre de ter o mandato cassado no julgamento da campanha de Dilma, mas isso não resolveria a crise, pois haveria uma eleição indireta por um Congresso desmoralizado.
A Constituição não permite a antecipação das eleições nem a convocação de uma Constituinte. A fleuma de Temer e sua base política é que garantem a sobrevivência do governo, tão impopular quanto o de Dilma. O país andará na corda bamba (a pinguela já era) até as eleições de 2018, com todos os grandes partidos sangrando, inclusive o PSDB. Que o seja, para garantir a democracia.
*Luiz Carlos Azedo: Jornalista, colunista do Correio Braziliense e Diretor Geral FAP.
Fonte: blogs.correiobraziliense.com.br
Roberto Freire: Por um Brasil parlamentarista
Com a recente instalação de uma comissão especial na Câmara dos Deputados, a reforma política voltou à pauta do Congresso Nacional. Após o desfecho do grave impasse político enfrentado pelo país, com o processo democrático e constitucional do impeachment que levou ao fim do governo de Dilma Rousseff, este é um bom momento para que os parlamentares se debrucem sobre mudanças necessárias que tornem o sistema político-eleitoral brasileiro mais avançado e dinâmico. A principal delas é justamente aquela que permite a superação de crises agudas sem traumas institucionais: o parlamentarismo.
No ano passado, participei de algumas sessões e audiências públicas em uma outra comissão especial da Câmara que analisava propostas para a reforma política. Lamentavelmente, na ocasião, houve pouquíssimos avanços e quase nenhuma alteração substancial – apenas algumas modificações pontuais ou propostas descabidas que configuravam uma verdadeira “contrarreforma”.
Em minhas intervenções, defendi que fosse enviada ao plenário a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 20/1995, de autoria do então deputado Eduardo Jorge, que institui o parlamentarismo no Brasil. O texto está pronto para ser votado desde 2001 e, caso aprovado, poderia entrar em vigor talvez já para 2018, após o encerramento do mandato do presidente Michel Temer. No regime parlamentarista, quanto maior a crise, mais radical é a solução.
Mesmo no processo deflagrado contra a ex-presidente da República, o impedimento votado pela maioria acachapante dos deputados e senadores ganhou contornos do “voto de confiança” característico do parlamentarismo. Só que, neste sistema, a queda do gabinete se dá sem que haja turbulência política ou institucional. Quando não é possível formar uma nova maioria, o Congresso é dissolvido e novas eleições são convocadas, o que proporciona uma participação maior da cidadania.
Outro ponto fundamental que a comissão deveria tratar é o acesso das legendas aos recursos do Fundo Partidário e ao tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. O maior problema da democracia brasileira não é a quantidade de partidos em funcionamento. Partido político é direito da cidadania e não deve ser tutelado, regulamentado ou restringido pelo Estado. Impedir a criação de novas agremiações, além de antidemocrático e inconstitucional, não passa de uma solução fácil e equivocada para um problema complexo.
O que se deve fazer para corrigir graves distorções é limitar o acesso indiscriminado aos recursos do Fundo e ao tempo de TV. Diante da enorme facilidade para que os partidos tenham acesso a esse montante, forma-se um amplo mercado de negociações espúrias à custa do dinheiro do contribuinte. De certa forma, é algo semelhante ao que ocorre no sindicalismo, dependente dos recursos provenientes das contribuições sindicais compulsórias, e também com as igrejas e templos religiosos, que muitas vezes se transformam em um negócio promíscuo em função da imunidade tributária garantida pela legislação.
Ao invés de restringir a criação de novos partidos, nossa proposta é de que apenas as legendas que alcançarem uma representação mínima na Câmara dos Deputados tenham acesso aos recursos do Fundo e à TV. Seria criada, então, uma espécie de cláusula de barreira, mas não aos mandatos. Os partidos que não obtivessem o índice mínimo funcionariam normalmente, assim como o parlamentar eleito exerceria o seu mandato, mas essas legendas ficariam sem a verba partidária e o tempo de propaganda televisiva.
A reforma política de que o Brasil precisa não será feita a partir de propostas paliativas ou remendos inócuos que nada resolvem. A essência do atual modelo precisa ser modificada, e a principal mudança será a instituição de um regime mais dinâmico, flexível e democrático, com partidos fortes, não tutelados, e uma sociedade mais atuante e participativa. O parlamentarismo é o primeiro passo, e também o mais importante, de uma longa caminhada. (Diário do Poder – 17/11/2016)
Roberto Freire é deputado federal por São Paulo e presidente nacional do PPS
Fonte: pps.org.br
Luiz Carlos Azedo: Rio, 40 graus
Agora, a Operação Calicute investiga a conexão entre o escândalo da Petrobras e a política do Rio de Janeiro
Com dois ex-governadores na cadeia, Anthony Garotinho (PR) e Sérgio Cabral Filho (PMDB), em menos de 48 horas, e um governador que ninguém sabe como terminará seu mandato, Luiz Fernando Pezão (PMDB), seja em decorrência da Operação Lava-Jato (ele também é investigado, mas tem foro privilegiado), seja em razão do colapso financeiro, o Rio de Janeiro chegou ao fundo do poço. É o fim melancólico de um projeto concebido para ser a sede do capitalismo de Estado no Brasil, no auge do sonho de Brasil potência do governo Geisel. E da tentativa de revivê-lo, durante os governos Lula e Dilma, para se contrapor e neutralizar o peso econômico e político de São Paulo.
Sim, porque esse foi o objetivo da fusão da antiga Guanabara, o centro nervoso da política nacional, após a inauguração de Brasília, com o antigo Estado do Rio de Janeiro, cuja política gravitava de Niterói a Campos, enquanto a economia girava no eixo Duque de Caxias-Volta Redonda. De um lado, o mandachuva era o governador Chagas Freitas, do MDB, aliado do regime disfarçado de oposição; do outro lado da baía, Raimundo Padilha, da Arena, remanescente do Integralismo. A decisão foi autocrática, com a nomeação de um interventor para comandar a fusão, o brigadeiro Faria Lima, mas o desenho da estrutura do novo estado foi traçado por uma Constituinte eleita em 1974.
A memória política dos dois estados cultuava dois governadores: o udenista Carlos Lacerda (1914-1977), na capital, que fora cassado mas ainda estava vivo, e o petebista Roberto da Silveira (1923-1961), no antigo Estado do Rio, que morrera num desastre de helicóptero. O projeto de transformação do novo estado numa potência econômica, a partir do setor produtivo estatal, era ancorado nas sedes das principais empresas estatais: a Petrobras e a Vale do Rio Doce, bem como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco Nacional de Habitação (BNH), na capital, além da Refinaria Duque de Caxias, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Brasileira de Álcalis e a Companhia Siderúrgica Nacional, no interior.
O primeiro sinal de que isso daria errado foi até prosaico. A larga Avenida Norte-Sul, dos Arcos da Lapa à Rua da Carioca, fora projetada para fazer a ligação rápida entre as sedes das estatais, tanto na Avenida Chile como na Presidente Vargas, e a Avenida Perimetral. Nada que não pudesse ser feito, se o tradicional Bar Luiz não estivesse no caminho. Artistas e intelectuais boêmios do Rio de Janeiro resolveram fazer uma campanha para salvar o Bar Luiz e tombar a Rua da Carioca. A nova avenida morreu ali.
Como Plano Nacional de Desenvolvimento de Geisel, a fusão também foi um tremendo desastre na política. Vitorioso em 1974, o MDB também fez bigode, cabelo e barba nas eleições de 1978, o que levou Faria Lima a uma composição com os políticos mais adesistas e fisiológicos dos dois estados. Resultado: na Constituinte, as antigas estruturas dos estados foram superpostas e ampliadas: a administração da antiga Guanabara foi servir à Prefeitura do Rio; a do antigo estado do Rio, ampliada para atender as necessidades do novo estado. O novo estado já nasceu inchado: de um lado, pelos apadrinhados de Chagas; de outro, por apaniguados de Padilha; e, finalmente, pela turma que chegou com Faria Lima. Todos efetivados pela Constituinte. Depois, vieram os governos de Leonel Brizola (PDT), em 1982, e de Moreira Franco (PMDB), em 1986, aos quais se seguiu a Constituinte de 1988. Mais uma leva de funcionários foi efetivada.
Calicute
Seguiram-se o segundo governo de Brizola, que renunciou ao mandato, e os governos Nilo Batista, Marcelo Alencar, Anthony Garotinho, Benedita da Silva e Rosinha Garotinho, um nascendo praticamente dentro do outro, até a eleição de Sérgio Cabral, em 2006. Seu governo foi dos mais exitosos, por causa da economia do petróleo e da política de segurança pública. Carioca da gema, Cabral parecia redimir seus conterrâneos da frustração com a fusão, até que entrou no oba-oba do petróleo da camada pré-sal e aceitou a mudança do regime de concessão para o de partilha. Também embarcou nos delírios de Eike Batista e apostou as fichas no novo Maracanã da Copa do Mundo e nas obras das Olimpíadas. Além disso, não se contentou com o apoio da velha elite carioca – resolveu fazer parte dela.
A mudança do regime de concessão para regime de partilha seria mais do que suficiente para uma ruptura entre Cabral e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como fora a ruptura de Moreira Franco com José Sarney por causa do polo petroquímico, cuja planta foi transferida do Rio para Camaçari (BA). Por que não houve a ruptura? Ora, porque essa aliança – que possibilitou a reeleição de Lula e Cabral e, depois, a eleição e reeleição de Dilma Rousseff e Pezão – estava muito bem azeitada pelas empreiteiras, e contou com apoio maciço da massa de servidores federais e estaduais e funcionários das estatais que hoje pagam essa conta. Agora, a Operação Calicute, desfechada ontem pelos juízes federais Marcelo Bretas, do Rio, e Sérgio Moro, de Curitiba, investiga a conexão entre o escândalo da Petrobras e a política do Rio de Janeiro.
https://youtu.be/AhuJ3dUVQvc
Fonte: blogs.correiobraziliense.com.br
‘Trumpeconomics’, um salto no vazio
Programa econômico de Trump coloca em perigo o comércio mundial
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um programa econômico contraditório, mal-alinhavado e construído fundamentalmente sobre as ideias, claramente nocivas para o crescimento econômico norte-americano e mundial, do protecionismo mais arcaico e da negação do multilateralismo. Não surpreende, pois, que hoje muitos economistas — e também mercados e investidores — queiram se proteger por trás do argumento, fraco mas plausível, de que as declarações incendiárias de campanha e as propostas desatinadas tropeçarão em breve no realismo que qualquer ação de governo impõe. A pergunta pertinente é se o isolacionismo hostil defendido pelo candidato Trump é compatível com uma economia globalizada onde o presidente Trump teria que operar.
Existem razões para um otimismo moderado. O protecionismo proposto pelo candidato, suas investidas contra a globalização e suas ameaças de tarifas e barreiras são ideias de difícil execução. Não é possível desvencilhar-se dos acordos econômicos e ambientais firmados pelos EUA, e dentro do Partido Republicano tampouco existe um acordo monolítico sobre essa neurose protecionista que afeta o presidente eleito. Isso embora seja evidente que o instrumento comercial decisivo para a Europa, o Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP), sofrerá importantes atrasos ou um congelamento quase definitivo.
O protecionismo é um grave risco para os EUA, a zona do euro e os países emergentes
A concepção protecionista de Trump multiplica o risco de uma recessão global justamente porque cerceia a raiz de qualquer possibilidade de crescimento do comércio internacional; sem o TTIP, a zona do euro perde um instrumento básico para recuperar taxas de crescimento, emprego e renda do euro. Para os países emergentes, as expectativas são ainda piores: dependendo de cada caso, o protecionismo planejado atrasará suas respectivas recuperações durante trimestres ou até mesmo anos.
Como os interesses das empresas norte-americanas no mundo vão além do fundamentalismo isolacionista do novo presidente, é provável que os lobbies intercedam para mitigar as arestas mais radicais do discurso. Convém contrastar a violenta antiglobalização de Trump com a experiência dos que tomariam as decisões econômicas reais no novo Governo. Os temores fatalistas gerados por programas incendiários talvez sejam mitigados depois, quando se leva em conta que a nova equipe econômica tende mais ao realismo. Ainda que as ameaças lançadas contra Janet Yellen, a presidente do Federal Reserve (o banco central norte-americano), não sinalizem nada positivo.
Washington não pode nem deve romper seus compromissos econômicos internacionais
Os mercados mundiais, no momento, optaram por esperar e ver o que acontece. Após uma reação inicial de temor, os investidores ponderam que as propostas do presidente eleito não são disparatadas quando se leva em conta o crescimento econômico interno, mas são contraditórias. Trump propõe ao mesmo tempo reduzir os impostos — algo que Reagan fez com maus resultados, embora a economia vudutenha atraído seguidores na Europa e, sobretudo, na Espanha — e desenvolver um ambicioso plano de investimento em infraestrutura. Gastar mais dinheiro contando com menos receita implica, de forma imediata, elevar o déficit e o endividamento do país; é muito elevada a probabilidade de que sejam necessárias novos aumentos de impostos no médio prazo. O plano estratégico carece de nuances. Uma aposta no petróleo e no carvão é simplesmente regressiva, pois solapa a criação de postos de trabalho com maior valor agregado nas novas energias.
Há outra consequência previsível: as taxas de juros terão que subir (nova pressão sobre a Fed) e também terá de haver uma apreciação do dólar. Para a Europa, o efeito pode ser uma melhora na competitividade — num mercado mundial não protecionista — e, se a expansão fiscal e monetária consolidar o crescimento americano, um incentivo poderoso para que Bruxelas, Berlim e Frankfurt aceitem finalmente a expansão fiscal.
A trumpconomics parece hoje um perigoso salto no vazio. Rompe a fraca relação do comércio mundial, cujo fortalecimento era uma das esperanças para uma recuperação mais pujante; materializa a ameaça de uma guerra comercial entre as áreas monetárias; quebra o ajuste gradual das taxas de juros dos EUA, tendência que era — e já é — um reconhecimento dos compromissos de Washington com a economia global; expõe o mundo a uma nova recessão e propõe o agravamento da desigualdade nos EUA. Washington não pode nem deve se retirar dos compromissos com o equilíbrio econômico geral e com a arquitetura das instituições multilaterais. Essa é a ameaça iminente que Trump representa.
Fonte: brasil.elpais.com
Cai um muro, ergue-se outro
Há 27 anos os alemães derrubaram o muro de Berlim com as próprias mãos. Nesta quarta, os EUA ergueram outro
Neste dia 9 se completam 27 anos que milhares de alemães derrubaram, com as próprias mãos, o muro que por mais de duas décadas dividiu Berlim entre oriental e ocidental. A marca visível de uma guerra fria que incentivou ditaduras e repressão política pelo mundo. E nesta quarta, justamente quando se comemora o aniversário da queda do muro de Berlim, é eleito nos Estados Unidos um presidente que propõe construir uma nova muralha de mais de 3 mil quilômetros de extensão na fronteira entre os Estados Unidos e o México. O objetivo de Donald Trump é conter a imigração ilegal de latino-americanos. A obra, orçada em cerca de 8 bilhões de dólares, seria paga pelo governo mexicano. Para isso, Trump planeja bloquear a transferência de dinheiro de imigrantes ilegais dos EUA para o México até que o governo do país vizinho concorde em arcar com o custo da obra.
O discurso contra os imigrantes hispânicos ocorre num momento de crise econômica e falta de empregos e rendeu muitos votos da classe média branca ao bilionário norte-americano. Mas entre o discurso radical de campanha e a realidade existe um fosso enorme. Uma distância que, se não for respeitada, colocará o mundo de volta ao seu pior passado. Um confronto não ideológico, como foi o da extinta União Soviética contra os Estados Unidos, mas da perseguição das minorias como fez Hitler com os judeus na Alemanha nazista. É bom lembrar que Trump também defendeu a proibição da entrada de muçulmanos no país, a vigilância das mesquitas pelo serviço de inteligência e o uso da tortura em suspeitos de terrorismo para arrancar confissões de supostos atentados.
Mas até onde Donald Trump está realmente disposto a investir nessa verdadeira guerra interna contra os imigrantes? Até que ponto, por exemplo, ele irá avançar na radicalização contra a colônia latina que hoje representa mais de 55 milhões de pessoas? Convenhamos: não seria prudente para um governo em início de mandato e cercado de desconfiança internacional enfiar a mão nessa cumbuca. Principalmente depois que ele obteve parte dos votos de hispânicos em estados como a Flórida, que acabaram por garantir sua vitória no país. Trata-se de um eleitorado latino conservador e religioso, que não raro é machista, homofóbico e contra o aborto. E, portanto, alinhado com o pensamento do novo presidente.
Por tudo isso, não acredito que Trump irá cumprir a promessa bizarra da construção física de um muro. Mas acho bem plausível que ele, com suas políticas públicas, amplie ainda mais o muro invisível de preconceitos e de exclusão contra os latinos na sociedade norte-americana. Daqui para frente vai ser bem mais difícil para os hispânicos tentarem a vida nos Estados Unidos. E mais difícil ainda para os ilegais permanecerem no país. Mas quem sabe essa não seja a janela que se abre para os latino-americanos começarem um novo sonho em seus próprios países. Agora, gostem ou não, o futuro é aqui nestas outras Américas, Central e do Sul.
Roberto Freire: Sem onda conservadora
Após verem sepultada a narrativa de que Dilma Rousseff foi apeada do Planalto por meio de um “golpe”, o PT e seus satélites tentam justificar a acachapante derrota nas eleições municipais com uma outra tese igualmente desprovida de qualquer sentido. A palavra de ordem entoada pelo núcleo duro do lulopetismo é de que o Brasil teria sido tomado, nas urnas, por uma “onda conservadora”.
Na realidade, o eleitorado rejeitou o projeto de poder representado pelo PT e pelos governos de Lula e Dilma, que nos levaram a uma das maiores crises econômicas de nossa história. Os maiores vitoriosos nas disputas municipais foram os partidos que votaram pelo impeachment e hoje compõem a base de sustentação do presidente Michel Temer — e aqui cabe ressaltar o êxito das legendas que integram o campo da social-democracia e dos partidos da esquerda democrática brasileira, como o PSB, o PPS e o PV.
A exceção talvez seja o PDT, partido de esquerda e aliado dos governos petistas, que também experimentou um crescimento eleitoral. Mais uma prova de que a “onda conservadora” é uma narrativa enganosa. A avaliação precipitada sobre os resultados eleitorais levou um jornalista a cometer a estultice de dizer que o PSDB é um partido de “ultradireita”.
Trata-se de um raciocínio equivocado, segundo o qual todos aqueles que se opõem ao PT são direitistas e, alguns, até traidores. Além de interditar o debate, tal postura é de uma desonestidade intelectual atroz. O PSDB, afinal, tem uma visão predominantemente social-democrata – e assim seria rotulado em qualquer país do mundo democrático. No Rio, alguns apregoam que a vitória de Marcelo Crivella seria um indicativo de que a “onda conservadora” veio para ficar.
É evidente que não se pode tomar um caso isolado como um retrato do que ocorreu por todo o Brasil. A cidade sentiu falta de alternativas políticas mais amplas e teve de escolher entre duas candidaturas fundamentalistas, uma de cunho religioso e outra politicamente dogmática. Uma de viés mais conservador e outra também sectária, de uma extrema- esquerda que muitas vezes serviu como linha auxiliar do lulopetismo.
Basta ver o comportamento do candidato do PSOL que, quando confirmado no segundo turno, excluiu a possibilidade de diálogo com as correntes políticas que considerava “golpistas”. Outra falácia é de que a “não política” teria sido a marca dessas eleições. É certo que houve uma forte rejeição aos políticos tradicionais, mas não à política em si.
Em São Paulo, João Doria se apresentou como um empresário, mas em nenhum momento deixou de destacar que é filho de um político cassado pelo golpe militar de 1964. Assim como a tese do “golpe” havia sido enterrada, a narrativa da “onda conservadora” foi desmentida pelo resultado das eleições.
Basta analisar o desempenho das forças políticas vitoriosas. Mesmo que algumas tenham contradições internas, nenhuma delas se confunde com a direita nacional. Todas estão no campo democrático e, em especial, honrando a esquerda democrática brasileira. (O Globo – 10/11/2016)
Roberto Freire é presidente nacional do PPS
Fonte: pps.org.br
Werneck Vianna: Um pouco de quixotismo não faz mal a ninguém
Afinal, em todos os quadrantes, hoje não se cultua o Cavaleiro da Triste Figura?
Não dá para recusar: por mais desalentadora que tenha sido essa eleição com tantas abstenções, votos em branco ou nulos, ela estabeleceu um marco divisório na política brasileira. Não certamente pelo advento de novas narrativas que trouxessem alento para uma sociedade incerta dos seus caminhos quanto a seu futuro, menos ainda pelo surgimento de novas identidades coletivas ou de personagens que semeassem palavras de esperança, que nos faltaram. Mas, se ela não nos traz o novo, enterra um passado que nos tem pesado como chumbo, nesse longo ciclo errático que vai de Vargas a Lula-Dilma, em que temos sido prisioneiros do processo de modernização por cima que nos trouxe ao mundo com seu culto à estatolatria – do Império de um visconde do Uruguai à República com a linhagem que se inicia com Oliveira Vianna.
Se agora tateamos com o olhar perdido na longínqua sucessão presidencial de 2018, não foi por falta de avisos. Tanto os pequenos abalos que passaram a agitar a superfície da cena política quanto o grande movimento sísmico das jornadas de junho de 2013 não nos serviram para uma incontornável mudança de rumos. Fizeram-se ouvidos moucos a eles, com a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição no ano seguinte àquelas jornadas de multidões em protesto contra a política tal qual a praticamos, sustentando em campanha eleitoral – em que prometera “fazer o diabo” para vencer – os mesmos rumos malsinados do seu primeiro governo.
Perdidos em agitações estéreis, não reparamos no movimento da Terra que traz consigo a mudança das estações, metáfora famosa de Joaquim Nabuco em Minha Formação. Agora não adianta chorar o leite derramado. Está aí uma sociedade desencontrada da política, uma juventude que começa a descobrir o caminho das ruas pelo mapa de ideias de antanho, sem guias provados, os partidos em frangalhos, com as grandes corporações de Estado atuando sem freios, chegando a ameaçar o espaço do que deve ser reserva da soberania popular, às vezes mal escondendo o interesse próprio.
Essa é uma hora dos partidos e dos políticos, com o que ainda nos sobra deles, de iniciar um processo autocrítico, que para ser verdadeiro reclama a urgência da reforma das nossas instituições políticas, com a adoção de uma cláusula de barreira à representação parlamentar e o fim das coligações eleitorais nas eleições proporcionais, protegendo-se as minorias com os recursos de uma engenharia institucional adequada. Pois é da experiência consagrada que as democracias não tenham ainda encontrado solução melhor que a da representação política, sem prejuízo de que prosperem as formas de democracia direta, presença embrionária na Carta de 1988 que cumpre desenvolver. Sem ela não há salvadores da pátria que nos salvem.
Também é hora dos intelectuais, cuja intervenção em outros momentos difíceis foi seminal para o descortino de possibilidades que viessem a animar a imaginação dos brasileiros na construção do País, bastando lembrar, em rol sumaríssimo, o papel antes desempenhado por Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Mário de Andrade, cujas obras exemplares inovaram o repertório de nossas formas de agir e de pensar. Tanto a institucionalização da vida intelectual como a crescente especialização de suas atividades – caso extremo nas universidades –, processo que, em linhas gerais, se deve reconhecer como benfazejo, mas tem implicado um apartamento dos intelectuais da vida pública, contrariando uma larga tradição em que se comportavam, desde as lutas pelo abolicionismo, como um dos seus relevantes protagonistas.
Sintoma disso, entre outros, está na atual distância entre eles e os partidos, a quem caberia fecundar com ideias e imaginação. À falta dessa relação vital, estão cada vez mais confinados às páginas de opinião dos grandes jornais e das redes da internet, o que, se importa, é pouco para o que se pode esperar da sua contribuição.
Nesse cenário, em que medram as agitações estéreis de que falava Nabuco, como se viu ao longo do processo recente de impeachment, pode caber espaço para a menção a um manifesto de intelectuais brasileiros em favor do que designam como a ética do convivialismo. Convivialismo, na conceituação do seu principal inspirador, o sociólogo francês Alain Caillé, professor emérito da Universidade de Paris-Nanterre, “é o nome dado a tudo o que nas doutrinas existentes, laicas ou religiosas, concorre para a busca de princípios que permitam aos seres humanos ao mesmo tempo rivalizar e cooperar, na plena consciência da finitude dos recursos naturais e na preocupação partilhada quanto aos cuidados com o mundo” (Manifesto Convivialista – Declaração de Interdependência, São Paulo, Annablume, 2016).
Seus autores, secundados por apoiadores de nomes notáveis da ciência social contemporânea, como Edgar Morin e Chantal Mouffe, e dos brasileiros Gabriel Cohn e Luís Roberto Cardoso de Oliveira, entre muitos outros, esclarecem que não se trata de uma doutrina com a pretensão de se sobrepor a outras, mas sim de reter, em oposição à financeirização do mundo em curso, “o que há de mais precioso” em cada uma delas. Frédéric Vandenberghe, sociólogo do Iesp, principal animador do movimento na universidade brasileira, define-o como uma ideologia que visaria a incorporar o melhor do liberalismo, do socialismo, do comunismo, do anarquismo e do feminismo numa visão de “boa vida com os outros em instituições justas”.
Embora bem ancorados no legado de Marcel Mauss, Karl Polanyi e Antonio Gramsci, os que subscrevem o documento e seus apoiadores, que não contam com forças próprias, salvo as ético-morais, vão precisar de muita energia para se livrar da pecha de quixotismo e levar suas ideias à frente. Mas, em todos os quadrantes, hoje não se cultua o Cavaleiro da Triste Figura?
(*) Luiz Werneck Vianna é Sociólogo PUC-RIO
Fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,um-pouco-de-quixotismo-nao-faz-mal-a-ninguem,10000086676
Luiz Carlos Azedo: O grande operador
O discurso em defesa da Petrobras serviu para a montagem do esquema de propina e financiamento de campanhas eleitorais
O juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, aceitou ontem a denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra o ex-ministro Antônio Palocci e outras 14 pessoas, por crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia é um “case” de como funcionava o esquema de propina da Petrobras e da escala de desvio de recursos públicos para financiamento do PT e enriquecimento dos envolvidos. Foram pagos, segundo o MPF, R$ 252,5 milhões em propinas em 21 contratos de afretamento de sondas para exploração do pré-sal, por meio da Sete Brasil. A propina foi fixada em 0,9% sobre o valor total dos contratos: R$ 28 bilhões. Seis sondas foram negociadas com o Estaleiro Enseada do Paraguaçu, da Odebrecht.
Tal operação não seria possível se a Lei de Licitações não tivesse sido escanteada pelo “regime especial” criado para a contratação de obras e serviços pela Petrobras, a pretexto de dar agilidade à empresa nos seus investimentos e operações comerciais. Também não seria possível se não houvesse uma lei para favorecer a formação de empresas nacionais de tecnologia, estabelecendo a obrigatoriedade de componentes nacionais. E não ocorreria se o governo não tivesse financiado, a juros camaradas, a criação de estaleiros para salvar a indústria naval. Muito menos se não houvesse uma lei que obrigasse a Petrobras a ter 30% de participação na exploração do petróleo da camada pré-sal.
Ou seja, o discurso em defesa da Petrobras e da tecnologia nacional, de salvação da indústria naval e de estímulo aos “campeões nacionais” serviu para a montagem do grande esquema de desvio de recursos públicos e financiamento de campanhas eleitorais que quebrou a Petrobras e levou de roldão a economia do país. Naturalmente, pagando um pedágio altíssimo para seus operadores: “Conforme planilha apreendida durante a operação, identificou-se que entre 2008 e o final de 2013 foram pagos mais de R$ 128 milhões ao PT e seus agentes, incluindo Palocci. Remanesceu, ainda, em outubro de 2013, um saldo de propina de R$ 70 milhões, valores estes que eram destinados também ao ex-ministro para que ele os gerisse no interesse do Partido dos Trabalhadores”, afirma a denúncia.
A lista dos envolvidos não tem pé de chinelo: Antonio Palocci, Branislav Kontic, Marcelo Odebrecht, Fernando Migliaccio da Silva, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Luiz Eduardo da Rocha, Olivio Rodrigues Junior, Marcelo Rodrigues, Rogério Santos de Araújo, Monica Moura, João Santana, João Vaccari Neto, João Ferraz, Eduardo Musa e Renato Duque. Na época em que o escândalo da Sete Brasil estourou, a presidente Dilma Rousseff moveu mundos e fundos para tentar salvar a empresa, mas o rombo era grande demais.
Campanha eleitoral
Foi de um contrato da Sete Brasil que saíram as nove transferências feitas por Zwi Skornick, de US$ 500 mil cada uma, para contas mantidas no exterior em nome da offshore Shellbill, descobertas pela Lava-Jato, que levaram à prisão do casal de marqueteiros de Lula e Dilma: “Tanto João quanto Mônica tinham pleno conhecimento de que tais recursos haviam sido auferidos pelo Partido dos Trabalhadores em decorrência de crimes praticados contra a Petrobras”, diz a denúncia. “A utilização de tão refinada técnica de lavagem de dinheiro revelou claramente a consciência de ambas as partes de que os US$ 4,5 milhões eram produto de crime anterior e que, exatamente por isso, não poderiam ser repassados à campanha eleitoral da forma legalmente estabelecida.”
A casa começou a cair quando Pedro Barusco, ex-presidente da Sete Brasil, em delação premiada, entregou à Lava-Jato US$ 96 milhões que estavam escondidos em contas secretas ligadas a offshores. Foi um espanto na Petrobras, onde o montante passou a ser considerado pelos técnicos e executivos da empresa uma unidade de valor na hora de discutir projetos e orçamentos: “um barusco, dois baruscos…” Na verdade, o dinheiro não era só dele, era uma espécie de caixa 2 do esquema cujo principal operador seria Palocci.
O ex-ministro da Fazenda entrou na alça de mira dos investigadores da Lava-Jato quando o ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa, que acaba de se livrar da tornozeleira eletrônica, disse que, em 2010, o doleiro Alberto Yousseff lhe pediu R$ 2 milhões da cota de propinas do PP para a campanha presidencial da ex-presidente Dilma Rousseff. O pedido teria sido feito por encomenda de Palocci.
Fonte:
http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-o-grande-operador/
Marcos Nobre: A nova geração da política
Terminada uma eleição, a primeira pergunta que se faz é pelas chances que teriam figuras já conhecidas para as eleições seguintes. As chances de Geraldo Alckmin, Aécio Neves, Lula, Marina Silva, Ciro Gomes, Fernando Haddad e por aí vai. O problema desse tipo de foco é o imediatismo, limitado à próxima eleição. É um raciocínio que pensa que política é apenas eleição.
Tentar entender política envolve saber distinguir movimentos políticos de lógica partidária e de estratégia eleitoral. Quadros políticos são construídos ao longo de décadas. Não surgem nem desaparecem apenas em momentos de eleição. Nem são formados apenas dentro de partidos. Suas trajetórias de vida determinam o que são e onde estão para além da política oficial. Temos de nos perguntar como se politizaram e como tomaram a decisão por um caminho e não por outro.
É importante não reduzir a pergunta pela nova geração da política à pergunta pela geração nova da política. Para conseguir pensar o que será a política nos próximos 20 anos. E o que se quer que se ela seja. Para tentar sair da armadilha imediatista e pensar adiante, vale lembrar, por exemplo, onde estavam figuras da nova geração 20 anos atrás.
Nestas eleições, há casos clássicos de uma nova geração com formação partidária ortodoxa, como o do prefeito reeleito de Salvador, ACM Neto, do DEM. Nascido em 1979, acompanhou desde cedo um político tradicional, o avô, ACM, e conquistou seu primeiro mandato de deputado federal aos 23 anos. Mas está longe de ser paradigmático de sua geração. Basta olhar para outras figuras políticas que nasceram entre 1980 e 1984.
O procurador da República no Paraná, Deltan Dallagnol, nasceu em 1980 e formou-se em direito em 2001 na UFPR. Seu mote sobre a transformação do país pode ser enunciado assim: “Não é o envolvimento político-partidário, mas o exercício de cidadania”. Provavelmente foi sua avaliação negativa do cenário político-partidário no momento de sua decisão profissional o que o fez optar pela carreira de procurador em lugar de um engajamento na política oficial.
Liderança do MTST, Guilherme Boulos tem hoje 34 anos e aos 17 já tinha assinado uma carta de rompimento com o PCB. Como será que, durante seu curso de filosofia na USP, decidiu que o caminho partidário ou a militância em um movimento social tradicional não conseguiriam traduzir mais suas aspirações políticas? No momento em que decidiu participar de sua primeira ocupação, o PT e os movimentos sociais estavam voltados para a eleição de 2002. Não parece que era essa a sua ideia do que significa fazer política.
Áurea Carolina nasceu em 1984. Sua atuação no coletivo “Hip Hop Chama” e no movimento feminista, seu engajamento nas lutas do movimento negro nas periferias se traduziu em 2016 na maior votação para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Elegeu-se pelo Psol, mas seu mandato está ligado à iniciativa “Muitas | Cidade que queremos”, semelhante à que foi realizada em São Paulo pela “Bancada Ativista”.
A pergunta que se pode fazer agora é: por que recuar 20 anos se há caras da nova geração que têm 20 anos de idade, como o vereador eleito Fernando Holiday, em São Paulo? Também o caso de Holiday vai além do horizonte partidário. Negro, pobre e primeiro vereador assumidamente gay, elegeu-se pelo DEM, mas sua atuação se pauta pelo movimento do qual é uma das lideranças, o MBL.
Em Junho de 2013, Holiday era secundarista. Se optou por se lançar na política oficial desde já, não foi esse o caminho escolhido por muitos da mesma idade que saíram às ruas três anos atrás. O exemplo de Holiday leva à ideia simples de que pensar o futuro é pensar o que está acontecendo agora nas escolas ocupadas em quase metade dos Estados. Da natureza dessas iniciativas e das respostas que serão dadas a elas sairá muito do Brasil de 2036.
Para quem quer entender essa “primavera secundarista”, é indispensável ler “Escolas de luta: o movimento dos estudantes contra a ‘reorganização’ escolar”, de Antonia M. Campos, Jonas Medeiros e Márcio M. Ribeiro (Veneta). É um relato generoso tanto com quem lê o livro como com quem ocupou e continua a ocupar as escolas. Reconstrói, com paciência e detalhe, o processo de “reorganização escolar” desencadeado pelo governo Alckmin em São Paulo em 2015, reunindo informações que se encontram espalhadas em fontes diversas e dispersas.
Mas não existe neutralidade quando se trata de recortar uma exuberância de dados, uma multiplicidade de vozes. Cada escola ocupada tem sua história, sua linguagem e seus temas. E nem os autores pretendem neutralidade. Se não há tomada de posição nem preferências por uma ou outra ação, é explícita sua adesão ao sentido geral das movimentações secundaristas como ações de resistência e de auto-organização.
A peculiaridade do livro é fazer com que esse conjunto de ações surja como um movimento, algo que talvez não seja claro nem para quem faz nem para quem está tentando entender o que está sendo feito. A dificuldade que o livro se colocou é dar esse caráter de movimento sem confundi-lo com homogeneidade, muito menos com partidos e com a política oficial.
Não por acaso, em lugar de “movimento”, fala-se muito desde 2011 no mundo todo em “primaveras”: árabe, feminista, secundarista. Um movimento como o de “secundas” não é um movimento no sentido que se conheceu até antes dos anos 2010. Parece que o próprio conceito de “movimento” e de “movimento social” ficou obsoleto. Nessa lógica, primavera é uma estação de germinação. As formas anteriores de organização ficaram como que com o inverno da política.
Ninguém mais tem dúvida de que o cenário partidário e a forma atual de organização do sistema político caducaram. O problema é que muitos parecem continuar a olhar apenas para a política oficial, com a expectativa de que ela se transforme de dentro e por si mesma. Essa miopia não permite ver adiante. Para olhar para frente, é preciso olhar para trás. E para um presente que não é só o da política institucionalizada. Principalmente para quem ainda acha que partidos são instituições fundamentais da institucionalização da política. (Valor Econômico – 31/10/2016)
Marcos Nobre é professor de filosofia política da Unicamp e pesquisador do Cebrap. Escreve às segundas-feiras
E-mail: marcosnobre.valoreconomico@gmail.com
Fonte: http://www.pps.org.br/2016/10/31/marcos-nobre-a-nova-geracao-da-politica/
Luiz Carlos Azedo: PSDB e PMDB levam a melhor
Um aspecto importante foram as dificuldades dos prefeitos candidatos à reeleição, como Luciano Rezende(PPS), em razão da crise econômica
O segundo turno das eleições municipais confirmou uma tendência de fortalecimento da base do governo nas eleições. Isoladamente, o PSDB foi o grande vitorioso do segundo turno, com a reeleição dos prefeitos Arthur Virgílio Neto, em Manaus (AM); Zenaldo Coutinho, em Belém (PA); Rui Palmeira, em Maceió (AL); e a eleição dos tucanos Marchezan Júnior, em Porto Alegre (RS), e Dr. Hildon, em Porto Velho (RO). Ainda nas capitais, o PMDB venceu em Goiânia (GO), com Iris Rezende; Florianópolis(SC), com Gean Loureiro; e Cuiabá (MT), com Emanoel Pinheiro.
Os dois partidos se enfrentaram em Porto Alegre, Cuiabá e Maceió, mas foi chumbo trocado. Nas demais capitais, houve pulverização partidária: Rafael Grega (PMN) venceu em Curitiba (PR); Alexandre Kalil (PHS) em Belo Horizonte (MG); Luciano Rezende (PPS) em Vitória; Marquinhos Trad (PSD) em Campo Grande; Edvaldo Nogueira (PCdoB) em Aracaju (SE); Geraldo Julio (PSB) em Recife (PE); Roberto Cláudio (PDT) em Fortaleza (CE); Edvaldo Holanda Júnior (PDT) em São Luiz (MA); e Clécio Veras (Rede) em Macapá (AP).
Nesse cenário, destaca-se a derrota de João Leite (PSDB) em Belo Horizonte, que enfraquece a posição do presidente do PSDB, Aécio Neves, embora o desempenho tucano nas capitais tenha sido tão espetacular no segundo turno quanto no primeiro. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, colheu vitórias importantes no ABC, com Paulo Serra em Santo André, contra Carlos Grana (PT); Orlando Morando em São Bernardo do Campo, contra Alex Manente (PPS); e em Ribeirão Preto, com Duarte Nogueira, que derrotou Ricardo Silva (PDT). Ou seja, o resultado acirrará a disputa interna pela candidatura do PSDB à sucessão de Michel Temer em 2018.
O PMDB foi a segunda força nas capitais e demais grandes cidades, mas nenhum nome desponta como alternativa para 2018. A derrota dupla de Eduardo Paes, que apoiou Marcelo Freixo (PSol) no segundo turno, tirou-o definitivamente do jogo; a eleição de Iris Rezende em Goiânia não resolve o problema da legenda. A única alternativa seria a reeleição de Temer, o que hoje é uma tese que implodiria a base do governo.
Outra variável importante são as vitórias do PDT em Fortaleza e São Luiz, que fortalecem a candidatura de Ciro Gomes e apontam para uma possível aliança da legenda com o PCdoB, que venceu em Aracaju. São cabeças de ponte para uma candidatura com apoio no Norte e Nordeste, que pode ser uma alternativa para o PT, caso se inviabilize a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que amarga a sua maior derrota eleitoral. Pela primeira vez, o PT não elegeu prefeito na região do ABC, seu reduto histórico. Lula ficou tão deprimido que sequer compareceu às urnas em São Bernardo, mesmo podendo votar nulo. PSDB e PPS disputaram o segundo turno na cidade.
Um balanço da eleição nos 57 municípios onde houve o segundo turno confirma a pulverização partidária: PSDB (14), PMDB (9), PPS (5), PSB (4), PDT (3), PR (3), PV (3), DEM (2), PRB (2), PSD (2), PTB (2), Rede (2), PCdoB (1), PHS (1), PMN (1), PTN (1), SD (1). Esse resultado está na contramão da reforma política que está sendo discutida no Congresso, que pretende restringir o número de partidos. O PMDB se aliou ao PT para controlar a comissão especial da reforma política na Câmara, que é presidida por Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) e tem como relator o deputado Vicente Cândido (PT). Esse resultado deve aumentar a dificuldade para aprovação da reforma.
Ajuste fiscal
Um aspecto importante foram as dificuldades dos prefeitos candidatos à reeleição, como Luciano Rezende (PPS), em razão da crise econômica. Ficaram pelo caminho, por exemplo, no primeiro turno, Fernando Haddad (PT), em São Paulo, e Gustavo Fruet (PDT), em Curitiba. Todos que chegaram ao segundo turno, nas capitais, mesmo com dificuldades, conseguiram se reeleger. O impacto dessas dificuldades no debate eleitoral resultou na apresentação de propostas mais realistas. Na verdade, a crise financeira dos municípios se agravou e vai se complicar ainda mais com a aprovação do teto dos gastos públicos.
As cidades com mais de 200 mil eleitores são as que têm mais dinamismo econômico, num universo de 5.568 municípios, cuja maioria vive dos repasses federais. O Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), calculado com base em dados de 2015 de 4.688 prefeituras, mostra que 87,4% delas estavam em situação entre difícil e crítica. Só 12,1% se encontravam em boas condições, sendo 0,5% cidades que apresentam uma situação fiscal robusta. Se os eleitos começarem a gestão fazendo o dever de casa, darão uma grande contribuição ao ajuste fiscal. Mesmo assim, as prefeituras sempre investiram mais e melhor na qualidade de vida das cidades do que os estados e a União.
Fonte: blogs.correiobraziliense.com.br