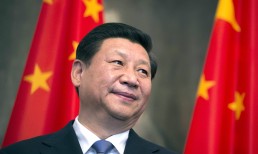Eleições EUA
Eliane Cantanhêde: Falando sozinho
Risco de derrota de Trump é bom para mundo, EUA e Brasil, mas péssimo para Bolsonaro
A possibilidade de derrota de Donald Trump nas eleições de hoje nos Estados Unidos é uma excelente notícia para o mundo, para os Estados Unidos, para os costumes e talvez para o Brasil, mas traz um gosto amargo para o presidente Jair Bolsonaro. Boa para o mundo, ruim para Bolsonaro, seu governo e sua ideologia enviesada.
Os eleitores norte-americanos não estão decidindo entre o republicano Trump e o democrata Joe Biden, mas, sim, fazendo um plebiscito, a favor ou contra Trump, estivesse quem estivesse do outro lado. Casou de ser Biden, com uma vice poderosa, Kamala Harris, mulher, negra, filha de imigrantes e defensora ardorosa dos princípios que dão sustentação à democracia americana: direitos humanos, igualdade, justiça.
Trump usou o “America First” para escamotear o “só America, dane-se o resto” e bombardear o multilateralismo, a começar da ONU, da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), em plena pandemia. Se confirmado presidente, Biden retornará ao Acordo de Paris e a todas elas. Para alívio geral, menos para regimes populistas de extrema direita, como os da Hungria, Polônia e Brasil, que ficarão isolados.
Nos EUA, a tendência pró Biden traz, de imediato, a expectativa de alguma racionalidade no combate à pandemia e o retorno a princípios de humanidade e de direitos humanos, tão caro às democracias. Na direção oposta de Trump, Biden e Kamala Harris tendem a manifestar crítica à forte cultura racista das polícias e apoio aos cidadãos negros assassinados cruelmente. Não é pouco.
Um mandato democrata deve tratar a covid-19 como ela deveria ter sido tratada desde o início: não como gripezinha, mas como uma pandemia gravíssima, que contamina, mata, destrói a economia, os empregos e o equilíbrio internacional. E, com certeza, não se imaginem Biden e Kamala Harris fazendo propaganda da cloroquina.
Para o Brasil, é bem-vinda a derrota de um mentiroso contumaz, que manipula seus satélites contra a China e dá de ombros às pautas da sustentabilidade e dos direitos humanos. Isso, porém, não significa que Biden e Kamala Harris serão mais camaradas em negociações bilaterais, relações comerciais, acordos de defesa. Democratas e republicanos, diferentemente de Bolsonaro, têm algo em comum: a prioridade número 1, 2, 3 e mil da política externa é o interesse nacional.
Bolsonaro, seus ministros e o chanceler Ernesto Araújo admitiram cotas de aço e etanol favoráveis aos EUA, sem nenhuma contrapartida para o Brasil, e é improvável que, dê Biden ou Trump, isso vá ser revertido. O que pode mudar é que Trump fechava os olhos para meio ambiente, mas Biden vai endurecer o jogo. Ele prometeu US$ 20 bilhões para a proteção da Amazônia (considerados um exagero), mas acenando com sanções econômicas caso não haja mudança e ação.
Para os excessivamente pragmáticos, uma eventual vitória de Biden pode prejudicar os negócios do Brasil, mas a ótica deve ser outra: é alvissareiro que a maior potência se alie à Europa e às maiores democracias ocidentais em favor de meio ambiente, direitos humanos e democracia no Brasil. Mais do que questões financeiras imediatas, trata-se de princípios, justiça, futuro, avanços civilizatórios.
Quanto a Bolsonaro: depois de trombar com França, Alemanha, Noruega, Argentina, Chile, mundo árabe e, particularmente, a China, principal parceiro comercial do Brasil, só falta se isolar dos EUA e ficar falando sozinho nos foros internacionais. Se a subserviência a Trump é irritante, o que dizer de afundar com Hungria e Polônia, sob inspiração de Steve Bannon, Olavo de Carvalho e outros ícones do atraso? A eleição de hoje é um divisor de águas para o mundo, os EUA e o Brasil de Bolsonaro.
Cristina Serra: O mundo sem Trump
Sua derrota ajudaria a resgatar um pouco de esperança
Nunca uma eleição foi tão crucial para os EUA, o mundo e o Brasil. A derrota de Trump é a única opção para os que se preocupam com a democracia e o bem-estar da civilização. Sua política criminosa de separar crianças de seus pais imigrantes já seria motivo suficiente para desejar não só seu malogro como sua prisão por crime de lesa-humanidade.
Mas ele vai além, ao corroer a democracia aos poucos e por dentro, como cupim. Trump desacredita eleições, regras e instituições. Mente e agride. Estimula grupos racistas e milícias, investe na violência e no caos, semeia ódio. Esticou a corda a tal ponto que se aventa a possibilidade de conflitos armados nas ruas caso não vença. Quem diria, os EUA com vapores de república bananeira?
Um segundo mandato do republicano teria o impacto de um meteoro para a democracia nos EUA e fortaleceria projetos de ditadores mundo afora. Aqui, seria um reforço colossal à pretendida reeleição do clone mal-ajambrado que ocupa o Planalto.
Em se tratando de EUA, é verdade que não se deve ter grandes ilusões. Os interesses norte-americanos já levaram o país a cometer barbaridades em diferentes lugares e épocas: Hiroshima, Nagasaki, Vietnã, Iraque. No Brasil, apoiaram o golpe de 1964 e em 2013, no governo Obama-Biden, estavam a nos espionar, como revelou Edward Snowden.
Portanto, a eventual eleição de Joe Biden não significaria, em absoluto, a paz mundial. Mas, se as pesquisas estiverem certas, o fracasso de Trump trará a restauração de algum patamar de civilidade no ainda maior centro irradiador de poder do planeta. O negacionismo científico, o racismo, a xenofobia e a aversão ao multilateralismo deixariam a Casa Branca junto com ele.
Sua derrota ajudaria a resgatar um pouco de esperança num mundo ainda sob o impacto de um vírus terrível que —com a ajuda de governantes como ele— fez de 2020 um ano inimaginável. Para o Brasil, o fim da era Trump seria também o primeiro lance da queda de Bolsonaro daqui a dois anos. Ou, quem sabe, até antes.
Pablo Ortellado: Eleições nos EUA pautam o futuro da esquerda
Vitória de Biden deve dar alento a estratégias eleitorais mais centristas; derrota vai estimular correntes à esquerda
Joe Biden construiu sua carreira política promovendo o diálogo bipartidário no Congresso —ficou conhecido como um político de centro que sabia compor com os republicanos quando necessário. Sua candidatura à Presidência é uma aposta do Partido Democrata de que é mais viável uma candidatura de centro que tenha apelo a uma base mais larga de eleitores do que uma candidatura mais à esquerda que mobilize e estimule o eleitorado.
Por isso, uma vitória de Joe Biden terá grande repercussão sobre as estratégias eleitorais da esquerda, inclusive fora dos Estados Unidos, reorientando o debate que teve início quando Hillary Clinton foi derrotada por Trump em 2016.
A esquerda do Partido Democrata argumenta que a vitória de Trump em 2016 se deveu à concorrência com uma candidata centrista e pró-establishment, fria e sem grande apelo com o eleitorado. Ela argumenta que Bernie Sanders, o principal adversário de Hillary nas primárias, oferecia melhores respostas para os problemas sociais e ambientais do país e que o engajamento que sua campanha produziria aumentaria o comparecimento às urnas.
Já a ala tradicional do Partido Democrata atribuía o sucesso de Trump não ao programa centrista de Hillary, mas a uma combinação de regras eleitorais arcaicas, jogo sujo do adversário e pequenos erros na condução da campanha.
Debate semelhante ocorreu também em outros países. Nas eleições francesas de 2017, discutiu-se se a melhor via para derrotar a extrema-direita de Marine Le Pen seria uma candidatura centrista, como a de Macron ou Fillon, ou se seria mais efetiva uma candidatura radical de esquerda, como a de Melénchon. O mesmo debate se deu no Reino Unido em 2019, quando o Partido Trabalhista entrou na disputa com um programa de esquerda, tentando recuperar o terreno perdido desde o Brexit.
Uma vitória de Biden deve estimular estratégias mais centristas em outras partes do mundo e também no Brasil. Por aqui, ela confirmaria o entendimento produzido pelo resultado de eleições na região que mostraram que uma acomodação um pouco mais ao centro permitiu ao MAS recuperar o poder na Bolivia e à esquerda peronista retomar a Presidência na Argentina.
Por outro lado, uma nova vitória de Trump, ainda que por pequena vantagem no colégio eleitoral ou por manobra na computação dos votos, deve dar fôlego às correntes de esquerda que esperam que uma considerável ampliação dos gastos sociais ou uma tomada de posição mais clara nas guerras culturais seja o melhor caminho para engajar o eleitorado e derrotar o populismo de direita.
*Pablo Ortellado, professor do curso de gestão de políticas públicas da USP, é doutor em filosofia.
Bernardo Mello Franco: O Trump deles e o nosso
Em julho de 2019, Donald Trump definiu o presidente Jair Bolsonaro, logo ele, como um “grande cavalheiro”. “Dizem que ele é o Trump do Brasil. Eu gosto disso. É um elogio!”, acrescentou.
O republicano poderia ter economizado a última parte. Vaidoso e egocêntrico, ele batizou torres comerciais, condomínios, hotéis, resorts e campos de golfe com o próprio nome. Seria estranho se não gostasse de alguém tão empenhado em imitá-lo.
Desde a campanha, Bolsonaro faz de tudo para ser comparado a Trump. Ele já copiou os tuítes destrambelhados, as teorias conspiratórias, as provocações à China e os ataques à imprensa. Só faltou besuntar o rosto com aquela pasta laranja.
Truques lançados lá foram repetidos à exaustão por aqui. Um dos mais manjados foi tachar de fake news qualquer notícia incômoda para o governo. Outro foi ressuscitar o fantasma do comunismo, como se o Muro de Berlim ainda estivesse de pé.
Na pandemia, Bolsonaro replicou o discurso de Trump contra o distanciamento social, o uso de máscaras e as recomendações da OMS. Os dois presidentes fizeram pouco da doença até se contaminarem. A diferença é que o americano abandonou a propaganda da cloroquina quando foi parar no hospital.
Hoje os americanos vão às urnas na eleição mais tensa da história recente. Em desvantagem nas pesquisas, Trump ameaça não aceitar uma possível vitória do rival Joe Biden. Com medo de quebra-quebra, lojistas de Washington, Nova York e Los Angeles espalharam tapumes pelas vitrines.
O republicano já deixou claro que recorrerá aos tribunais em caso de derrota. O plano seria invalidar votos de regiões dominadas pelos democratas. Isso lançaria a maior potência do mundo num cenário de convulsão social e descrédito da democracia.
A contestação dos resultados nos EUA seria um mau sinal para o Brasil. Se o Trump deles apelar ao tapetão, o nosso não hesitará em imitá-lo em 2022. Ele já começou a criar o clima para isso ao disseminar informações falsas contra a urna eletrônica.
José Casado: O custo do amadorismo
Brasil nunca foi e dificilmente será prioridade na agenda americana
O resultado da eleição americana vai moldar a segunda metade do mandato de Jair Bolsonaro. A embaixada em Washington tem procurado líderes republicanos e democratas para reafirmar o interesse num amplo acordo econômico e de defesa com Donald Trump ou Joe Biden.
Isolado, com seu chanceler já oficializando a condição de “pária” no mundo, Bolsonaro tenta garantir nos EUA uma apólice de seguro na travessia da crise global. Além disso, passa noites insones devaneando na crendice de que as colunas da Casa Branca ocultam o portal de “salvação do mundo” — como define o Itamaraty — da força da China.
O Brasil nunca foi e dificilmente será prioridade na agenda americana. Mas Bolsonaro se oferece, propenso a pagar o sobrepreço inerente ao notável amadorismo diplomático.
O problema é a realidade. Trump e Biden coincidem no essencial à defesa da hegemonia diante da ascensão chinesa, baseada na inovação em computação quântica e em novos padrões de consumo da classe média de 400 milhões, mais que a população dos EUA. Divergem sobre forma e meios de manter o domínio.
A receita de Trump é a das negociações conflituosas (com o México e o Canadá, no Nafta; a Europa, na Otan; e a China) para acordos protecionistas. Bolsonaro já tem um roteiro. Por ele, atravessaria a campanha de reeleição determinando quem vai perder mercados, empregos e lucros para a concorrência americana.
Com Biden, a quem elegeu adversário, o jogo será ainda mais duro no comércio, nas “consequências econômicas significativas” da antipolítica ambiental, em eventual socorro na crise e no acesso a tecnologias de guerra, a miragem militar bolsonarista.
Bolsonaro conseguiu a proeza de assumir um alto custo antes do resultado das urnas. E as perdas tendem a ser maximizadas, porque o seu esteio político-empresarial continuará refém de Pequim, provedor de um terço das receitas na mineração, no agronegócio e na banca financiadora. Nunca estiveram tão dependentes da China. O amadorismo vai custar caro para todos.
William Waack: Trump não é o culpado
Presidente é muito mais a expressão do que a causa de isolacionismo, divisão social (e polarização política) e a perda de apetite por ser a potência líder do planeta
As incertezas em torno do que acontece com uma quase segura vitória de Joe Biden são de curto prazo. Têm a ver com possível grau de violência e até que distância no drama pessoal um narcisista como Donald Trump pretende caminhar. Dito de outra maneira: de que forma ele será obrigado a conceder. A grande certeza em relação a um presidente Joe Biden é a de que os EUA, tal como conhecemos até aqui, não voltam a existir. Trump é muito mais a expressão do que a causa de isolacionismo, divisão social (e polarização política) e a perda de apetite por ser a potência líder do planeta.
Note-se que não há diferenças entre como democratas e republicanos – nem entre Biden e Trump – pensam que é o papel histórico da ascensão da China e como enfrentá-la. Há muito que Washington considera a adversária na Ásia como seu mais importante desafio. Demoraram para chegar ao consenso de que é necessário contê-la, mas essa convicção prevalece.
Como todo longo período na história, a da hegemonia moral (e tecnológica e, ao que tudo indica, militar também) dos EUA como a nação “da luz na cidade no topo da colina” está terminando. Uma definição cruel, porém muito apropriada para se visualizar o que aconteceu nos EUA, é a de que houve uma ruptura na costura. É um processo de mais de 30 anos, pelo qual as diferenças entre grupos sociais aumentaram devido ao acesso à educação. “Elites” e “não elites” perderam o sentido de entender ou “sentir” o que o outro grupo pensa.
Trump contribuiu para incendiar um estado de coisas no qual trabalhadores brancos sem formação superior se sentem “deixados para trás” e percebem que todos os fatores trabalham contra eles, a começar pelo demográfico. O que surge de forma tão clara, no mundo tribalizado das redes sociais, é a perda do espírito de comunidade e de nação, um lento e amplo processo que não se iniciou com a vitória de Trump em 2016.
Do ponto de vista do papel dos EUA nas relações internacionais, há um curioso paradoxo. Aos períodos de “isolacionismo” se contrapunham os períodos de “engajamento” na solução de qualquer conflito, militar ou não. O grande pêndulo do “isolacionismo” se acentuou – aí está o paradoxo – com a vitória na Guerra Fria. Que deixou nas elites dirigentes americanas a noção de que não havia muito mais para se fazer. Olhar para a Ásia como grande desafio estratégico já havia sido formulado sob Obama; retirar-se de guerras, também. O que Trump acelerou brutalmente foi o desmonte do substrato “psicológico” do apoio em alianças duradouras com gente que pensa em linhas gerais a mesma coisa (a tal ordem liberal internacional).
Talvez não fosse difícil de se corrigir, assumindo que os outros participantes do jogo internacional estejam dispostos a ver de volta os EUA no seu papel “tradicional” desde o fim da 2.ª Guerra. A resposta se evidencia como um “não”. Trump foi a expressão de males muito mais profundos e antigos e hoje o mundo para o qual todos se preparam é o de um sistema multipolar mais perigoso. E, mesmo sem Trump, muito menos previsível.
*É JORNALISTA E APRESENTADOR DO JORNAL DA CNN
Celso Rocha de Barros: Grande porre mundial dos anos 2010 está passando?
Ao que tudo indica, nesta terça-feira (3) Donald Trump se tornará um presidente de um mandato só. As pesquisas são favoráveis a Biden, e, se elas errarem só o que erraram em 2016, Biden ainda ganha. O site 538, do estatístico norte-americano Nate Silver, dá a Trump pouco mais de 10% de chance de vencer a eleição. Não é zero. É o risco de morte de quem faz roleta-russa com uma arma de dez tiros. Mas é pouco.
É possível que Trump não aceite a derrota e tente ganhar no tapetão. Grande parte da votação já ocorreu por correspondência, por causa da pandemia. Trump pode sair em vantagem no início da contagem, quando os votos por correspondência ainda não tiverem sido totalmente contados.
No cenário golpista, declararia vitória enquanto estivesse na frente e montaria uma ofensiva jurídica para interromper contagens estaduais por um motivo ou outro. Para isso contaria com sua recém-adquirida maioria na Suprema Corte e com os juízes federais que nomeou nos últimos anos. Temendo conflitos de rua em caso de impasse, a rede de supermercados Walmart interrompeu a venda de armas até a confusão passar.
Não é o cenário mais provável, até porque há uma chance razoável de Biden vencer por margem incontestável. Mas o fato de que uma eleição possa terminar em conflito civil generalizado mostra o tamanho do dano que Donald Trump já causou ao ambiente cívico americano. Se a roleta-russa der errado e Trump vencer nesse clima de radicalização, o dano pode ser ainda maior.
A vitória de Trump em 2016 foi um marco decisivo da onda populista reacionária que já havia começado antes, em lugares como a Hungria e a Polônia, mas que chegou ao centro do capitalismo internacional com o brexit.
As negociações do brexit vão mal. E, sem o Reino Unido, deve crescer a pressão por uma federação europeia mais centralizada, o que não é boa notícia para os radicais poloneses e húngaros.
A maré está virando? O grande porre mundial da década de dez está passando?
Mesmo se virar, nenhum dos problemas que criaram a onda populista terá sido resolvido. A desigualdade continua alta. A desindustrialização de áreas inteiras do mundo desenvolvido (e do Brasil) continuará difícil de reverter. Como as crises da pandemia deixaram claro, a desconfiança com relação aos especialistas não vai embora da noite para o dia.
As notícias falsas, a política difícil das redes sociais, tudo isso ainda continuará existindo. A tensão entre Estados-nação e capitalismo global não desapareceu, muito pelo contrário.
Por outro lado, é possível ter esperança, ao menos alguma esperança, de que certas soluções idiotas para esses problemas serão descartadas. Não, não foi o encanador polonês que tirou o emprego do mineiro britânico.
Não, Trump não tinha uma alternativa ao Obamacare que preservava tudo que o programa tinha de popular e descartava tudo que tinha de impopular. Não, Bolsonaro não era inimigo da corrupção, nem a corrupção era a causa da crise econômica brasileira.
De qualquer maneira, ao que tudo indica, amanhã a democracia americana vai para o rehab. Lá os grandes partidos sobreviveram, a volta ao normal deve ser mais fácil. Nós, que decidimos não derrubar Bolsonaro em 2020, seguimos fincando pé na cracolândia por mais dois anos, agora como párias internacionais.
*Celso Rocha de Barros, servidor federal, é doutor em sociologia pela Universidade de Oxford (Inglaterra).
Carlos Pereira: A hora da moderação
Incerteza e insegurança trazidas pela pandemia abrem caminho para moderação política
Já é possível observar claros sinais de arrefecimento da polarização política que varreu o mundo, especialmente a partir da crise financeira internacional de 2008.
A disputa entre grupos polarizados estava em relativo “equilíbrio” com cada polo se nutrindo da oposição radicalizada de identidades e preferências políticas. Grupos polares, tanto à esquerda como à direita, se retroalimentavam. Não dialogavam entre si e tendiam a consumir informações que só reforçavam suas crenças anteriores. Ao mesmo tempo, rejeitavam qualquer informação que contrariasse seus valores prévios. Portanto não faziam atualizações que pudessem colocar em risco suas respectivas “zonas de conforto” identitárias. O espaço para alternativas moderadas que buscam o eleitor mediano ficou bastante reduzido.
A manutenção de um ambiente polarizado é o ideal para a viabilização eleitoral de candidatos extremos, como o presidente Donald Trump. Entretanto, a grande maioria dos institutos de pesquisa projeta que o candidato democrata, Joe Biden, é o franco favorito, com 90% de chances de derrotar o atual presidente.
Ao contrário de Trump, um outsider com perfil populista e antissistema, Biden é um típico representante da política tradicional americana. Uma espécie de candidato livre de surpresas, representando estabilidade, previsibilidade, segurança e, fundamentalmente, moderação.
Assim como nos EUA, a polarização política tomou conta do Brasil, especialmente a partir das grandes mobilizações de massa que varreram o País em 2013. As eleições de 2018 testemunharam uma escalada da polarização política tanto na grande massa quanto na elite. Naquela ocasião, o número de eleitores que votaram num candidato de um dos polos se aproximou daquele relativo aos que expressaram forte rejeição ao candidato oponente. Os candidatos de centro não tiveram a menor chance e o eleitorado moderado ficou literalmente órfão.
De forma similar ao que vem ocorrendo nos EUA, os candidatos que representam os dois polos extremos, apoiados por Jair Bolsonaro ou por Lula, têm enfrentado grandes dificuldades nas disputas às prefeituras das capitais brasileiras.
Mas por que a política da moderação estaria retornando no exato momento em que a crise da covid-19 estaria aumentando ainda mais as desigualdades sociais?
Parece que os eleitores estão cansados das incertezas causadas pelas opções polares, e por isso começam a procurar por alternativas menos arriscadas e mais seguras. É como se os partidos polares e antissistema tivessem exercido o papel de anticorpos, que ajudaram a construir resistência às desigualdades e injustiças do liberalismo de mercado pós crise financeira de 2008, mas que agora estão causando efeitos colaterais que põem em risco a própria sociedade.
Eleitores ficaram muito alarmados com as ameaças trazidas pela pandemia e podem ter perdido o apetite por um modo de política insurrecional que aumenta ainda mais a instabilidade e a incerteza. Como em tempos de pós-guerra, os eleitores podem almejar estabilidade e garantias efetivas ao invés de mais polarização.
A incerteza contida nos novos desafios gerados pela crise pandêmica tem o potencial de aumentar o apelo emocional das narrativas de moderação política. Em outras palavras, a fadiga da crise pode fazer com que os eleitores rejeitem soluções com consequências desconhecidas e prefiram o tipo de reforma incremental tradicionalmente associada a partidos políticos moderados, posicionados ao centro do espectro ideológico. A hora da moderação parece ter chegado.
*Cientista Político e professor titular da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV Ebape)
Demétrio Magnoli: A China vota vermelho
Todos os governos têm muito em jogo nas eleições presidenciais da superpotência global
Vermelho ou azul? Nos EUA, vermelho é a cor dos republicanos; azul, dos democratas. Todos os governos do mundo têm muito em jogo nas eleições presidenciais da superpotência global — e cada um deles acalenta, secreta ou abertamente, uma preferência. Quem “vota” em Joe Biden? E em Donald Trump?
A Europa está dividida. No núcleo da União Europeia, Alemanha, França, Itália e Espanha são Biden, o candidato democrata que promete restaurar a aliança transatlântica tão desprezada por Trump. Mas o Reino Unido de Boris Johnson não segue o rumo dos vizinhos, inclinando-se pelo republicano que ergueu um brinde ao Brexit e acena com um acordo privilegiado de comércio com os britânicos.
Trump é o cara, na opinião do húngaro Viktor Orbán e do polonês Andrzej Duda, líderes nacionalistas, populistas e xenófobos da Europa Central. Recep Tayyip Erdogan, presidente autocrático da Turquia, vai na mesma direção, mas por motivos menos ideológicos. Ele aposta no isolacionismo do republicano para prosseguir sua agressiva política externa, que exige acordos com a Rússia, ataques aos curdos sírios, pressão sobre a Grécia e tensão perene com a União Europeia.
Israel e Arábia Saudita estão fechados com Trump, o promotor de um “plano de paz” baseado numa coalizão regional anti-iraniana e na negação dos direitos nacionais palestinos. O Irã oscila, o que reflete a cisão entre o Estado teocrático e o governo moderado. Ali Khamenei, Líder Supremo, “vota” Trump, uma garantia de confronto com os EUA e, portanto, de hegemonia da “linha-dura” doméstica. Por outro lado, o presidente Hassan Rouhani “vota” Biden, que recolocaria os EUA no acordo nuclear, dando fôlego à economia iraniana.
Vladimir Putin não crê em lágrimas. A Rússia entrou na campanha americana de 2016 com um objetivo principal, desestabilizar a democracia americana, e um complementar, ajudar a eleger o republicano. As metas permanecem inalteradas. Trump na Casa Branca assegura o declínio da Otan e a redução da influência dos EUA no Oriente Médio, abrindo espaço à difusão da influência externa russa.
A China é um caso muito mais complicado, pois bússolas diferentes apontam nortes opostos.
Um critério para a escolha são os interesses econômicos. A “guerra do 5G”, que envolve a rivalidade fundamental pela supremacia tecnológica, seguirá seu curso com Biden ou Trump. Mas, apesar de imitar a retórica do nacionalismo econômico do adversário, o democrata tende a colocar ênfase menor nas tarifas que deflagram inúteis ou contraproducentes guerras comerciais. Ponto azul.
Tanto Biden quanto Trump confrontarão a China no delicado campo dos direitos humanos, que abrange os crimes contra a humanidade cometidos no Xinjiang dos muçulmanos uigures e, ainda, a violação escandalosa dos direitos políticos em Hong Kong. Contudo o republicano carece de um mínimo de credibilidade moral para se pronunciar sobre tais temas. Ponto vermelho.
A China tem uma peculiar apreensão da história. Na década de 1970, durante a aproximação sino-americana, o número 2 da hierarquia chinesa, Chou En-lai, foi indagado sobre as perspectivas da democracia em seu país e os valores emanados da Revolução Francesa. Sua resposta, que ficou célebre: os eventos de 1789 são assunto jornalístico, próximos demais para propiciar um diagnóstico histórico. A infatigável paciência chinesa inclina decisivamente a balança da preferência eleitoral.
Trump, sem dúvida, explica Yan Xuetong, reitor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Tsinghua, de Pequim: “Não porque Trump causará menos estrago aos interesses chineses que Biden, mas porque ele certamente causará danos maiores aos EUA”. A China almeja, sobretudo, o reconhecimento de seu lugar de grande potência mundial — e, mais adiante, tomar a posição de superpotência hegemônica. Nos tempos longos, régua da geopolítica, o declínio dos EUA e a consequente ascensão da China são mais bem-servidos pelo nacionalismo isolacionista trumpiano.
Xi Jinping vota vermelho. Só não conta para ninguém. É que declarar o voto é coisa de idiota.
Rubens Ricupero: Maré antidemocrática está em jogo
Nenhum país possui a capacidade de pautar a agenda mundial como os Estados Unidos. A última vez em que isso aconteceu de maneira brutal e instantânea foi em 2016, com a eleição de Donald Trump. Antes, ao menos em duas ocasiões sucedera algo parecido: em 1932, com a eleição de Franklin Roosevelt, e em 1980, com a de Ronald Reagan. O que existe em comum entre personalidades tão contrastantes?
Todos foram homens de ruptura com o que se vinha fazendo até então, todos chegaram ao poder em meio a crises graves, todos tinham total autoconfiança na capacidade de mudar os acontecimentos. Os outros presidentes, mesmo Barack Obama, não foram homens de ruptura, não inauguraram novas eras, não mudaram o mundo.
Roosevelt encontrou um país prostrado pela Grande Depressão e o capitalismo em crise profunda. Reformou com o New Deal o sistema capitalista, inaugurou o Estado do bem-estar e o ativismo do governo em matéria social e econômica. Liderou os aliados na derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial.
Sua influência só foi superada com Reagan, que abandonou o keynesianismo, sustentou que o governo era o problema, não a solução, desregulamentou as finanças, acelerou a globalização. Peitou Moscou na corrida armamentista, contribuindo para o fim da Guerra Fria e da União Soviética.
Esse poder americano de definir a agenda não depende só da riqueza ou da força militar. Tem muito a ver com o fato de que, há mais de 100 anos, os americanos fazem a cabeça do mundo com o cinema, a música, a TV, as histórias em quadrinho, o streaming, a internet, as mídias sociais. É um poder para o bem e para o mal, para construir e destruir.
No caso de Trump, tem sido para botar abaixo, destruir tudo, para começar virando pelo avesso as realizações de Obama. De um dia para o outro, a política internacional sofreu um terremoto.
Os EUA saíram do Acordo do Clima de Paris, repudiaram o acordo com o Irã, voltaram atrás no relacionamento com Cuba, atropelaram as regras da Organização Mundial de Comércio. A relação com a China virou confronto permanente, a Organização Mundial de Saúde foi abandonada. A maré populista antidemocrática, antiliberal, atingiu o apogeu.
Uma derrota de Trump agora truncaria a obra de demolição pela metade. Permitiria não voltar a 2016, mas reconstruir o mundo em novas bases com economia verde, mais igualdade, mais cooperação e menos confronto, prevenção de epidemias, avanço em direitos humanos, política de gênero, superação da guerra cultural fomentada pelo fanatismo religioso.
Está em jogo, como se vê, a própria possibilidade de futuro, pois quatro anos mais de negativismo de Trump talvez tornem irreversível a catástrofe do aquecimento global. Sairemos todos perdendo se Trump ganhar. Como não podemos votar nas eleições de 3 de novembro, resta-nos esperar que os americanos tenham sabedoria para salvar seu país e devolver ao mundo um mínimo de esperança.
*Rubens Ricupero é diplomata aposentado, jurista e historiador da política externa brasileira. Foi ministro da Fazenda durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.
Dorrit Harazim: Um mal já está feito
Nada indica que instituições suportariam mais quatro anos destrutivos com Trump na Casa Branca
O futuro sempre impulsionou o imaginário humano, e é bom que continue assim. Mas, como aconselhou Antoine de Saint-Exupéry em “Cidadela”, não se trata de prevê-lo, apenas de torná-lo possível. É mais ou menos disso que trata a eleição presidencial desta terça-feira, 3 de novembro. Abundam superlativos para sublinhar o peso dessa escolha em ano de crise nos EUA e no mundo. Mas seriam desnecessários. Basta constatar que, muito além das diferenças entre Donald Trump e Joe Biden, é o próprio funcionamento da democracia representativa americana que está sendo votado.
Num certo sentido, o mal maior já está feito. Há meses Trump implantou a semente da invalidade das urnas caso venha a ser derrotado, tornando-se o primeiro ocupante da Casa Branca a informar ao país que não aceitará um resultado saído de “fraude eleitoral”. A semente vingou, injetou a desejada combatividade no eleitorado trumpista, e corre o risco de contaminar a apuração. Não que as acusações conspiratórias e intervenções judicialistas possam inverter radicalmente os números, mas o resultado, exceto em caso de vitória acachapante de Biden, poderá estacionar num limbo perigoso.
A nação já tão esfarelada precisará de um baita esforço para se remendar.
Ken Burns, o monumental documentarista da história dos EUA, situa a cisão nacional de hoje como superável porque a norma da vida americana sempre foi a mudança, não a stasi. Eleições presidenciais durante períodos de crise acabam se tornando momentos de grande potencial. “Elas podem desencadear realinhamentos maciços e reordenar o curso do nosso país”, escreveu em ensaio recente para a CNN. O cineasta já retratou os grandes momentos de embicada fundamental da nação em obras-primas como “A Guerra Civil” e “A Guerra do Vietnã”. Mas é com lições extraídas de seu mergulho na vida de Franklin D. Roosevelt que Burns prefere comparar os tempos atuais.
Em 1928, o Republicano Herbert Hoover foi eleito presidente por uma maioria retumbante. Contudo revelou-se incapaz de gerenciar a Grande Depressão de 29, que aniquilou a vida social e econômica do trabalhador americano. Foi derrotado na eleição seguinte pelo democrata Roosevelt, que oferecia uma reviravolta radical ao país: em lugar da cartilha de Hoover, de apelo ao esforço individual de cada cidadão, F.D.R. propunha uma intervenção maciça do governo, com o Estado e a sociedade se reerguendo em conjunto. Roosevelt falou claro, conseguiu se fazer ouvir e redefiniu para sempre o papel de um governo federal numa sociedade democrática. Burns acredita que a atual crise americana não se encerrará com a eleição, devendo adentrar o ano de 2021. “Mas, quando encontrarmos nosso caminho, espero podermos ter uma visão mais clara de quem queremos ser”, conclui .
Mais de um século e meio atrás, Walt Whitman já vaticinava que, se algum dia a “América” caísse em desgraça e ruína, a derrota viria de seu próprio âmago, não de fora. Para o poeta, a longevidade da democracia no Novo Mundo, e a aceitação do que a humanidade tem em comum, dependia de cidadãos bem informados, dando o melhor de si, com ênfase no papel do voto.
No entender de alguns republicanos que elegeram Donald Trump em 2016 e hoje observam, em pânico, a mutação do Grand Old Party em antro de cultistas lunáticos, é hora de votar em quem se comporta como adulto, não como delinquente. Max Boot é republicano desde criancinha. Foi assessor de três candidatos à Casa Branca e hoje publica uma coluna ultraconservadora no “Washington Post”. Dias atrás, citou uma sombria frase do envolvimento americano no Vietnã —“Tivemos de destruir o vilarejo para poder salvá-lo” — como receita para o futuro do Partido Republicano. Quanto mais tempo Trump permanecer no cargo, quanto mais danos causar ao país, mais lealdade obterá de seus seguidores, descobriu Boot tardiamente. Ele agora prefere votar no democrata Biden a ser corresponsável por mais quatro anos de “um sociopata que necessita mais da adoração de massas que da aceitação de pessoas normais”.
Normalmente partidos políticos mudam o curso de sua trajetória quando perdem uma eleição importante. Mas, devido ao tortuoso sistema eleitoral dos Estados Unidos — que, como se sabe, não é direto —, os Republicanos podem continuar a vencer e exercer o poder sem ter construído sequer um simulacro de maioria nacional. Basta analisar os resultados dos últimos 20 anos, período em que venceram o voto popular uma única vez e, mesmo assim, tiveram o comando da nação em mãos por 12 anos. Embora esgarçadas, as instituições democráticas do país vinham se aguentando. Nada indica que suportariam mais quatro anos erráticos e destrutivos com Donald Trump na Casa Branca. A formação de uma maioria multirracial mobilizada em torno de Joe Biden parece apontar para um futuro mais inclusivo, mais real, e mais parecido com o que Democratas (e democratas) americanos acreditam ser como nação.
Levará tempo. Talvez até mais de uma geração para reencontrar a confiança necessária à evolução da sociedade americana como um todo. De volta a Saint-Exupéry: está nas mãos do eleitor de 2020 tornar possível o futuro — não só dos Estados Unidos.
Bernardo Mello Franco: Vitória de Biden deixaria Bolsonaro à deriva
Há dez dias, o ministro Ernesto Araújo disse não se importar com a perda de relevância do Brasil no cenário internacional. “É bom ser pária”, desdenhou, em discurso para jovens diplomatas. O isolamento do país já é uma realidade desde a posse de Jair Bolsonaro. Mas pode se agravar a partir de terça-feira, quando os Estados Unidos escolherão seu próximo presidente.
Uma possível vitória de Joe Biden será péssima notícia para o capitão e seu chanceler olavista. Os dois ancoraram a política externa numa relação de vassalagem com Donald Trump. Agora arriscam ficar à deriva se o republicano for derrotado, como indicam as pesquisas.
Quando ainda sonhava em ser embaixador nos EUA, o deputado Eduardo Bolsonaro posou com um boné da campanha de Trump. O pai chegou perto disso. Às vésperas da eleição, ele reafirmou a torcida pelo magnata. “Não preciso esconder isso, é do coração”, declarou-se.
Para bajular o aliado, o bolsonarismo pôs a diplomacia brasileira de joelhos. O Itamaraty abriu mão de protagonismo, deu as costas à América Latina e trocou a defesa do interesse nacional pela subordinação ao interesse americano. Em setembro, permitiu que o secretário Mike Pompeo usasse Roraima como palanque para agredir um país vizinho.
Na pandemia, Bolsonaro imitou a pregação de Trump contra a Organização Mundial da Saúde, o uso de máscaras e as medidas de distanciamento. O negacionismo da dupla abriu caminho para o avanço do vírus. Não por acaso, os EUA e o Brasil lideram o ranking de mortes pela Covid.
O capitão surfou a onda nacional-populista que produziu o Brexit, elegeu Trump e impulsionou partidos de extrema direita na Europa. Uma derrocada do republicano deixará essa tropa sem comandante. Será um alento para quem aposta no diálogo e na cooperação internacional, hoje sufocados pelo discurso do ódio e pela intolerância.
Biden está longe de ser um símbolo do progressismo. Mesmo assim, comprometeu-se com a defesa da democracia, do meio ambiente e dos direitos humanos. Isso significa que sua possível vitória provocará mudanças sensíveis nas relações entre Washington e Brasília.
No primeiro debate presidencial, Biden já avisou que pressionará Bolsonaro a frear o desmatamento da Amazônia. Ele acenou com uma cenoura e um porrete: a criação de um fundo de US$ 20 bilhões para estimular a preservação da floresta ou a imposição de sanções econômicas ao Brasil.
No dia seguinte, o capitão acusou o democrata de tentar suborná-lo. Além de exagerar no tom, conseguiu errar o primeiro nome do adversário de Trump. O bate-boca indicou o que vem por aí se Joseph — e não John — assumir a Casa Branca.
Quando a política produzia fatos estranhos e inimagináveis, o vice-presidente José Alencar costumava usar uma expressão da roça: “Até a vaca está estranhando o bezerro”. Na quinta-feira, o ministro Paulo Guedes atacou a Federação Brasileira de Bancos. Logo ele…