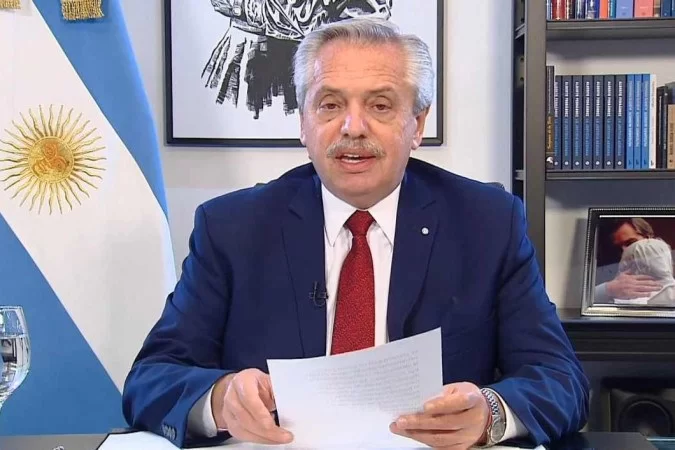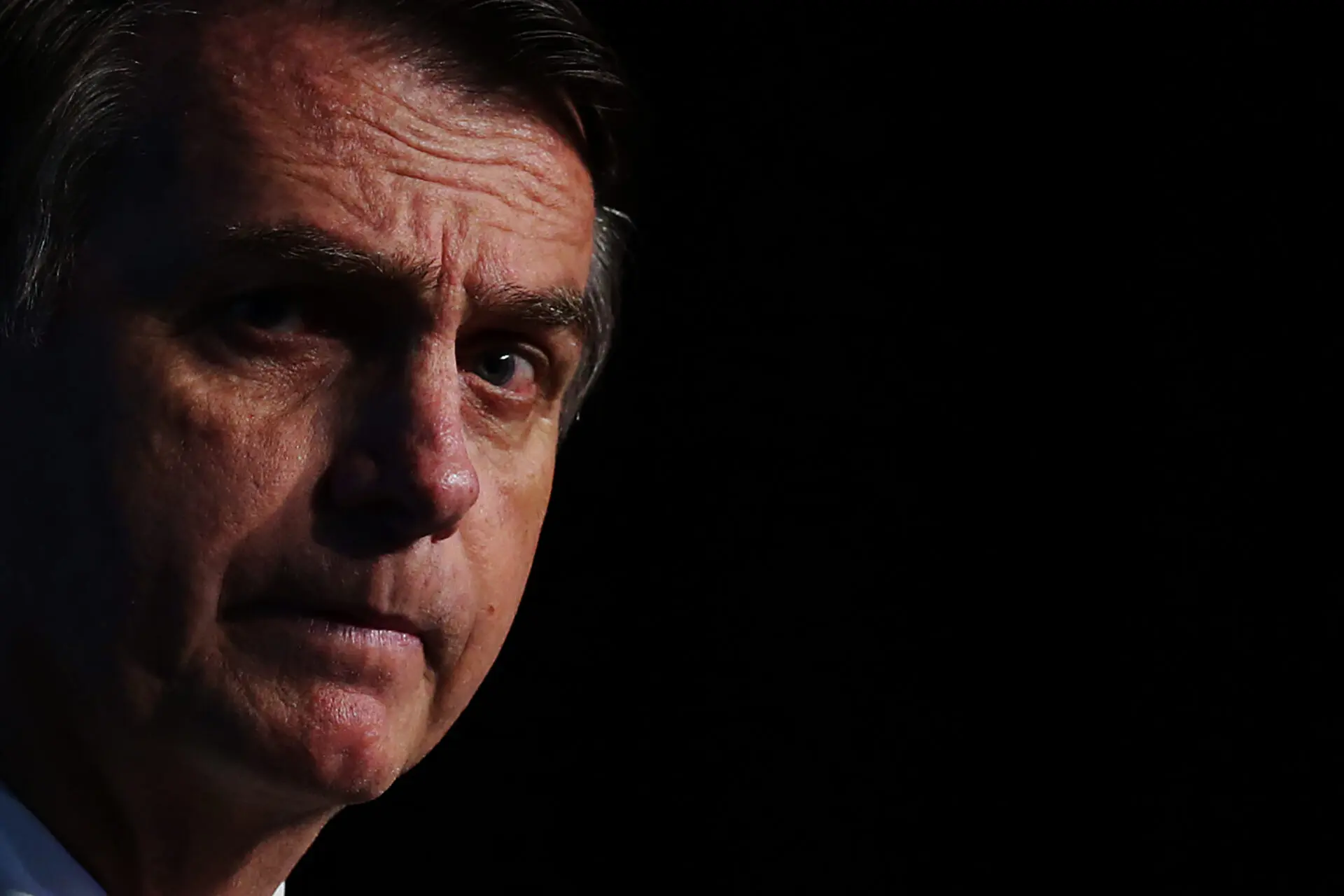Economia
Lula precisa dar guinada ao centro se quiser governar, dizem economistas
Alexa Salomão, Folha de S. Paulo
Logo após a contagem dos votos no primeiro turno das eleições neste domingo (2), o presidente Jair Bolsonaro (PL) atribuiu o resultado a sua bem-sucedida estratégia na economia, que elevou o valor do Auxílio Brasil, ao mesmo tempo em que reduziu o preço dos combustíveis e a inflação às vésperas do pleito. Economistas que acompanham a cena política discordam.
A economia até pode ter ajudado um pouco, como ocorre em qualquer eleição. No entanto, analistas atribuem a arrancada bolsonarista ao avanço da uma onda conservadora —e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai precisar se adaptar a esse movimento para ganhar a eleição e, depois, governar com um Congresso mais a direita.
Terminada a contagem, Lula recebeu 48,4% dos votos válidos, resultado dentro da margem de erro sinalizada pelas pesquisas. Bolsonaro teve 43, 22%, uma diferença de quase sete pontos percentuais, que fortalece o presidente no segundo turno.
"Para ocorrer essa diferença no resultado do Bolsonaro em relação às pesquisas, cujos votos foram subestimados vergonhosamente, [o motivo] não foi a economia —o que estamos vendo é uma onda conservadora", afirma a economista e advogada Elena Landau, que coordenou o programa econômico de Simone Tebet (MDB).
"Tem o astronauta Marcos Pontes virando senador por São Paulo, Hamilton Mourão ganhando no Rio Grande do Sul, Magno Malta voltando pelo Espírito Santo, Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde, como deputado federal mais votado no Rio. Isso não tem nenhuma relação com a economia."
Elena sai satisfeita com o resultado de sua candidata. "Simone foi de completa desconhecida à terceira mais votada", afirma. No entanto, ela se declara muito preocupada com os futuros efeitos do conservadorismo em duas áreas específicas, caso Bolsonaro se reeleja: o meio ambiente e o STF (Supremo Tribunal Federal).
"O próximo presidente poderá indicar dois ministros para o Supremo", diz ela. "Imagine o efeito disso."
Elena aguarda a posição de sua candidata no segundo turno, que deve ser divulgada até terça-feira. Se Simone apoiar Lula, existe a expectativa de que parte de suas propostas para a economia possa ser levada para o PT.
O economista Nelson Marconi, que atuou na coordenação econômica nas campanhas de Ciro Gomes (PDT) em 2018 e 2022, também não acredita que a melhora da economia explique o resultado.
"No levantamento que encomendamos, dá para ver que o governo Bolsonaro injetou cerca de R$ 450 bilhões na economia neste segundo semestre, com medidas em diferentes áreas, então, as pesquisas teriam de estar muito erradas para não captarem isso antes", diz Marconi. "Acredito que ocorreu outro movimento, mais ligado a agenda dos costumes."
Marconi garante que o seu candidato não vai apoiar Bolsonaro, mas ainda não tem uma definição sobre um eventual apoio a Lula.
O economista Edmar Bacha, um dos pais do Plano Real, espera uma reação petista nos próximos dias. "Lula precisa dar uma guinada dramática ao centro se quiser segurar essa onda conservadora", diz Bacha, histórico apoiador do PSDB que participou da campanha de Tebet para "ajudar na construção da terceira via".
Para o economista, Lula precisa atuar para fortalecer sua coalizão no segundo turno.
Membro da Academia Brasileira de Letras, Bacha tem forte atuação nos bastidores do debate econômico como sócio-fundador do Casa das Graças, um instituto de estudos de política econômica no Rio de Janeiro voltado à promoção de debates sobre o desenvolvimento do Brasil. Neste ano, no entanto, preocupado com os rumos da política, assumiu uma posição mais pública.
Bacha diz que o primeiro passo do PT é concentrar esforços em São Paulo, onde Fernando Haddad (PT) chega ao segundo turno com 35,70% dos votos válidos, abaixo do que previam as pesquisas. O ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apoiado por Bolsonaro, terminou o primeiro turno na frente, com 42,32%.
"Foi isso que fez a diferença para Bolsonaro, e será preciso reverter essa situação", afirma ele.
Petista histórico e ex-ministro do Planejamento e da Fazenda, o economista Nelson Barbosa, costuma estar em campos opostos aos colegas egressos do PSDB. Desta vez, porém, concorda com a importância das alianças mais amplas.
"Pelo aspecto político, o resultado indicou que Lula estava certo em construir uma frente ampla, pois só assim há chance de derrotar Bolsonaro", afirma Barbosa, que é colunista da Folha.
No segundo turno, Barbosa acredita, essa frente será mais ampla, com colaboração de pessoas que apoiavam Tebet e Ciro.
O economista Arminio Fraga, ex-presidente do BC (Banco Centra) e colunista da Folha, destaca que uma revisão na estratégia do PT é importante também por causa do perfil que a eleição deu ao Legislativo. "Bolsonaro sai muito forte no Congresso", diz ele. "Erros monumentais precisam ser corrigidos."
Cartas pró-democracia são lidas na Faculdade de Direito da USP

O PL de Bolsonaro ganhou ao menos 23 deputados, chegando a 99. Tornou-se a maior bancada eleita na Câmara nos últimos 24 anos. A sigla terá praticamente um em cada cinco votos , consolidando-se como um ator essencial nas negociações políticas entre os deputados. Terá praticamente um em cada cinco votos entre os deputados, consolidando-se como um ator essencial nas negociações políticas.
Um terço do Senado foi renovado, e.o resultado também consolida o PL como a maior bancada. Terá 14 cadeiras, 5 a mais do que tinha no primeiro semestre deste ano, e ainda pode chegar a 15. Entre os eleitos estão ex-ministros bolsonaristas, como Damares Alves (Republicanos-DF) e Rogério Marinho (PL-RN).
Sócio-fundador da Gávea Investimentos, Fraga prefere a a discrição e não gosta de exposição pública. Neste ano, porém, à medida que o cenário político ficava mais tenso, aderiu a movimentos de apoio ao equilíbrio institucional.
Em agosto, numa atitude inédita, discursou no evento da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP (Universidade de São Paulo), em que foi lançado um manifesto de apoio à democracia.
O economista Bernard Appy, que foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda na gestão de Lula, chama a atenção para a necessidade de alianças mais conservadoras para exercer o governo em caso de vitória.
"Será preciso levar a coalizão mais para o centro não apenas para ganhar a eleição, mas para garantir a governabilidade em caso de vitória", afirma ele. "Há muito a ser feito, em várias áreas, principalmente na economia, que depende do Legislativo."
Diretor do CCiF (Centro de Cidadania Fiscal), Appy integra o Grupo de Seis, que redigiu propostas de reformas para os presidenciáveis em diferentes áreas. Também fazem parte os economistas Francisco Gaetani, Marcelo Medeiros e Pérsio Arida, o professor Carlos Ari Sundfeld (FGV Direito SP) e o cientista político Sérgio Fausto. Eles redigiram uma proposta de governo com reformas, entregue aos presidenciáveis
*Texto publicado originalmente na Folha de S. Paulo
Eleições 2022: 'Economist' fala em 'vitória com gosto de derrota'
BBC News Brasil*
A eleição presidencial brasileira ocupou posições de destaque em portais da imprensa internacional — com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em geral, sendo apresentado como vitorioso, mas sem força suficiente para garantir uma vitória no primeiro turno sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL).
A seguir, confira como alguns dos principais veículos de imprensa do mundo noticiaram a eleição presidencial brasileira, cujo segundo turno será disputado em 30 de outubro.
'Vitória com gosto de derrota'
A revista britânica The Economist, que deu destaque em seu site para o resultado do primeiro turno da eleição presidencial brasileira, abre sua reportagem principal afirmando que para o ex-presidente Lula, foi uma "vitória com gosto de derrota".

O texto destaca que Bolsonaro se saiu melhor do que o esperado, e que o momentum agora está com ele, e não com Lula — lembrando que muitos aliados do presidente foram eleitos para o Congresso.
Diante deste cenário, a reportagem afirma que se Lula vencer, pode ter dificuldades para governar.
"Isso terá implicações a longo prazo. Mesmo que Bolsonaro perca a presidência, o bolsonarismo parece uma força que chegou no Brasil para ficar."
E diz ainda que o "segundo turno será um teste para as instituições brasileiras".
"Especialmente se Lula acabar vencendo por uma margem estreita, e Bolsonaro se recusar a aceitar o resultado."
'Grande golpe para brasileiros progressistas'
O jornal The Guardian, também do Reino Unido, destacou que Lula foi vitorioso no primeiro turno, mas com desempenho insuficiente. O título de uma das matérias principais do site, que transmitiu os resultados da eleição brasileira em tempo real, dizia: "Ex-presidente Lula ganha em votos, mas não com vitória definitiva".
"O resultado da eleição foi um grande golpe para os brasileiros progressistas que estavam torcendo por uma vitória enfática sobre Bolsonaro, um ex-capitão do Exército que atacou repetidamente as instituições democráticas do país e vandalizou a reputação internacional do Brasil", diz um trecho da reportagem.
Pesquisas julgaram mal força dos conservadores
O jornal americano The New York Times, que criou uma página de transmissão ao vivo de informações sobre a eleição brasileira em seu site no domingo, destacou na página principal que Bolsonaro e Lula vão para o segundo turno.
A reportagem do site do jornal começa afirmando que Bolsonaro teve um desempenho melhor do que o previsto por analistas e pesquisas de intenção de voto — que, nas últimas semanas, "sugeriram que ele poderia até perder no primeiro turno".
"Durante meses, pesquisadores e analistas disseram que o presidente Jair Bolsonaro estava fadado ao fracasso."
"Em vez disso, Bolsonaro estava comemorando. Embora seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente de esquerda, tenha terminado a noite na frente, Bolsonaro superou em muito as previsões e levou a disputa ao segundo turno", acrescenta o texto.
A reportagem cita ainda as eleições estaduais e legislativas, dizendo que "as pesquisas pareceram julgar mal a força dos candidatos conservadores em todo o país."
Ainda assim, o jornal afirma que, nas próximas quatro semanas, Bolsonaro terá que abrir vantagem sobre Lula, que saiu na frente no primeiro turno.
"O presidente de direita está tentando evitar se tornar o primeiro presidente no cargo a perder sua candidatura à reeleição desde o início da democracia moderna no Brasil em 1988."
A publicação destaca ainda que a eleição de 30 de outubro é considerada "a votação mais importante em décadas para o país" — "vista como um grande teste para uma das maiores democracias do mundo".
Para muitos brasileiros, o impensável aconteceu
O Washington Post também destacou no topo de sua página principal que o Brasil teria um segundo turno, afirmando que "o próximo turno colocará Bolsonaro, um incendiário contrário a regulações (pelo Estado) que é chamado de versão brasileira de Donald Trump, contra seu inimigo político, da Silva, líder do Partido dos Trabalhadores".
"A eleição chamou atenção global como o mais novo palco para a luta mundial entre a democracia e o autoritarismo", diz uma parte do texto.
O jornal também mencionou a disparidade entre as pequisas de intenção de voto, que "mostraram consistentemente que Bolsonaro perderia — e perderia feio", e o resultado nas urnas.
"Para muitos brasileiros, o impensável já aconteceu", afirma o texto.
E avalia que o Brasil entra agora em um período "potencialmente desestabilizador" até o segundo turno.
"O país mergulhará agora no que pode ser seu momento politicamente mais incerto desde que deixou o jugo da ditadura. O medo que muitas pessoas já sentiam ao entrar nesta eleição — medo da violência, medo do futuro do país — só aumentará nas próximas semanas."
Feridas continuam abertas
O jornal Público, de Portugal, destacou na manchete "Brasil vai ao 2º turno. Lula vence por 6 milhões de votos" — e trouxe ainda no topo do seu site várias matérias e artigos, além de um editorial com título "Brasil: as feridas continuam abertas".
O Diário de Notícias também publicou no site várias notícias sobre a eleição brasileira, incluindo a manchete "Lula e Bolsonaro vão ao segundo turno".
Já o francês Le Monde destacou o resultado no Brasil como manchete do site: "Eleição presidencial no Brasil: Lula à frente de Bolsonaro, com segundo turno a ocorrer em 30 de setembro".
O subtítulo acrescentava: "Com 48% dos votos, o representante do Partido dos Trabalhadores, antigo chefe de Estado de 2003 a 2010, tem quatro pontos e meio de vantagem em relação ao presidente de extrema direita".

Na América Latina
No México, maior país da América Latina depois do Brasil, um dos principais jornais do país, o El Universal, também colocou como manchete o resultado da eleição brasileira: "Lula e Bolsonaro definirão a presidência do Brasil em segundo turno".
O colombiano El Tiempo manchetou que "Lula da Silva e Jair Bolsonaro irão ao segundo turno".
Eleição surpreendente e apertada

Na Argentina, o jornal Clarín destacou na manchete o resultado da eleição brasileira como inesperado: "Eleição surpreendente e apertada: Lula ganhou mas irá a disputa com Bolsonaro". O jornal trouxe ainda no topo do site uma seção com informações em tempo real sobre a eleição brasileira.
Final com suspense
O La Nación também trouxe na manchete a surpresa do resultado:
"Final com suspense no Brasil. Lula ganhou, mas a surpresa foi Bolsonaro e haverá mais uma rodada de votação."
*Texto publicado originalmente no site BBC News Brasil
Paulo Guedes é ‘engodo’ e não conhece a realidade do Brasil, diz Simone sobre atual ministro da Economia
Cidadnia23*
A candidata a presidente da coligação Brasil para Todos (MDB, Cidadania, PSDB e Podemos), Simone Tebet (MDB), criticou ao atual ministro da Economia, Paulo Guedes, e o chamou de ‘engodo’ durante entrevista ao Jornal da Record, da TV Record, nesta quarta-feira (28).
“Lamentavelmente, o atual ministro é um engodo. O ‘Posto Ipiranga’ que diz resolver tudo e não resolve nada. Ele simplesmente não conhece a realidade do Brasil a ponto de dizer que não tem gente pedindo comida ou dinheiro nos semáforos das grandes cidades brasileiras”, disse a candidata, a referir à fala de Guedes, ocorrida nesta segunda-feira (26), quando, em discurso para empresários na Bahia, ele afirmou que o Auxílio Brasil, programa de transferência de renda do governo Jair Bolsonaro (PL) em vigor desde novembro do ano passado, retirou as pessoas das ruas.
Simone respondeu também perguntas sobre o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), falou sobre sua proposta para o empreendedorismo feminino e disse ainda o que pretende fazer para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho.
Voto útil
Durante a entrevista, Simone evitou citar o nome de Lula, mas disse que o “voto útil” é o “voto consciente” e que quem decide a eleição são os cidadãos. A campanha petista investe no que é conhecido como “voto útil”, quando um eleitor opta por um candidato que não é necessariamente a sua primeira opção com o objetivo de determinar os resultados eleitorais.
“Voto útil é o voto consciente do eleitor. Quem decide, dia 2 de outubro, são os cidadãos. Participei de algumas eleições e sei que o dia decisivo é nas eleições”, afirmou a presidenciável.
Combate à fome
Ao visitar o Mercado Muncipal de São Paulo nesta quarta-feira (28), Simone defendeu o combate à fome no Brasil.
“Estar no Mercado Municipal, onde nós falamos de fartura, é mostrar a triste realidade de um Brasil tão desigual. De um lado, alimenta o mundo, mas há uma parcela significativa da população que passa fome”, disse.
Ela ressaltou ainda a importância do combate urgente ao desperdício de alimentos no Brasil.
“Os dados oficiais mostram que se nós acabarmos com o desperdício, nós temos capacidade de alimentar todo o Brasil que passa fome. Depois da porteira para fora, nós temos desperdício no manuseio, no transporte, na armazenagem e na comercialização dos produtos, sem contar o desperdício da comida que a gente joga na lata de lixo porque não come tudo”, avaliou Simone.
Matéria publicada originalmente no portal Cidadania23.
Revista online | Fome cai na boca de presidenciáveis e grita na barriga dos mais pobres
“Aqui em casa a mistura só é arroz e farinha. De manhã, meus meninos comem pão seco com água. Não tenho dinheiro para comprar leite”. O desabafo é da dona de casa Graziela dos Santos Pereira, de 27 anos, mãe solo de quatro meninos, de 11, 10, 8 e 6 anos, respectivamente. “Não consigo tomar nem remédio, porque dói com a barriga vazia”.
Moradora do Sol Nascente, favela no Distrito Federal e uma das maiores no Brasil, Graziela vive de “fazer bico de diarista”, como ela mesma conta, mas apenas quando consegue deixar as crianças aos cuidados de algum parente ou vizinho. “Não sobra para comer. A gente vive da compaixão das pessoas”, afirma. Ela se mudou do Maranhão para o DF, no ano passado, em busca de melhores condições de vida.
Sentada em uma cadeira de madeira de um barraco de lona, onde mora com os filhos, ela diz receber R$ 600 de auxílio do governo federal. Ela diz que “quebrar o jejum com pão de manhã”, “engolir a mistura no almoço” e repetir “arroz com farinha” na janta tem sido a realidade da família dela. “De vez em quando, a gente recebe ovo. Aqui não tem jeito de nem de guardar carne porque falta geladeira”, diz.
O retrato da miséria se estende a outras famílias brasileiras. Estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Penssan), divulgado neste mês, mostra que três em cada dez famílias enfrentam insegurança alimentar moderada ou grave no país.
No total, em todo o país, 33 milhões de brasileiros sofrem com algum nível de insegurança alimentar, que tem três gradações: leve, moderada e grave. Famílias em insegurança alimentar grave passam fome, assunto regular nos discursos dos candidatos à Presidência da República e que mostra a gravidade do cenário brasileiro.
Negacionismo
No Brasil, a fome também é um dos assuntos que mais fazem os adversários cobrar explicações do presidente Jair Bolsonaro nos debates. Ele, porém, vai na linha do ministro da Economia, Paulo Guedes, que diz ser impossível ter 33 milhões de brasileiros passando fome no país.
Além disso, no mês de agosto, Bolsonaro vetou o reajuste de verbas para a merenda escolar aprovado pelo Congresso. Por isso, hoje o repasse para a compra de alimento para cada estudante do ensino fundamental e médio é de apenas R$ 0,36.
Se levar em conta a insegurança leve, de acordo com a pesquisa, o problema fica muito maior. No país, existem 125,2 milhões de pessoas com preocupação sobre a disponibilidade de alimentos, com algum grau de indisponibilidade deles ou passando fome. Equivale a seis em cada dez famílias brasileiras.
De acordo com o levantamento, as populações das regiões Norte e Nordeste são as que mais sofrem, em termos proporcionais, com a insegurança alimentar grave. No Maranhão, estado onde nasceu Graziela, por exemplo, quase dois terços (63,3%) das residências com crianças até dez anos apresentam insegurança alimentar moderada ou grave.
Em seguida, segundo a pesquisa, aparecem Amapá (60,1%), Alagoas (59,9%), Sergipe (54,6%), Amazonas (54,4%), Pará (53,4%), Ceará (51,6%) e Roraima (49,3%). As famílias com renda inferior a meio salário-mínimo por pessoa estão mais sujeitas à insegurança alimentar moderada e grave.
"Os resultados refletem as desigualdades regionais e evidenciam diferenças substanciais entre os estados de cada macrorregião do país. Não são espaços homogêneos do ponto de vista das condições de vida. Há diferenças socioeconômicas nas regiões que pedem políticas públicas direcionadas para cada estado que as compõem", diz Renato Maluf, coordenador da Rede Penssan.
Grave retrocesso
O ano de 2022 será lembrado como o marco de um grave retrocesso da segurança alimentar no Brasil com uma quantidade de pessoas passando fome ainda maior do que o registrado 30 anos atrás. O governo, porém, nega.
Se hoje 33 milhões de brasileiros passam fome no país, em 1993, eram 32 milhões de pessoas nessa situação, de acordo com levantamento semelhante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A população brasileira era 27% menor que a de hoje.
O governo alega que o consumo dos mais pobres está garantido com os programas de transferência de renda cujos valores aumentaram no último ano. O negacionismo do governo do presidente Jair Bolsonaro sobre a fome se comprova, inclusive, na falta de programa efetivo de combate ao problema ou de orientação da população relacionada ao consumo adequado de alimentos.
A Organização das Nações Unidas (ONU) orienta que reduzir desperdício de alimentos é a saída para combater a fome e a insegurança alimentar. O órgão estima que 17% de toda a produção global de comida é desperdiçada, a maior parte dentro das casas. Locais que servem comida, como restaurantes, totalizam 5% desse desperdício, e os varejos de alimentar, 2%.
O problema, que atinge principalmente quem vive em favelas ou outras áreas mais pobres do país, tem chamado atenção de líderes mundiais, que vem pedindo esforços contra a crescente insegurança alimentar, agravada pela convergência de crises, pela invasão russa e falta de fertilizantes.
Em declaração conjunta, publicada ao final de uma reunião ministerial à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, neste mês, Estados Unidos, União Europeia, União Africana, Colômbia, Nigéria e Indonésia afirmaram seu "compromisso de agir de forma urgente, global e concertada para responder às extraordinárias necessidades alimentares de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo".
Graziela, que olhava seus filhos brincarem no terreno de chão batido onde fica seu barracão, diz não ter perspectiva de melhoria. “Está todo mundo falando disso agora como se estivesse preocupado porque é época de eleição, mas viver assim já é algo banalizado. Todo dia a gente ouve o estômago ‘roncar’ de fome em algum momento”, afirma.
“Fome tem solução”
O diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos no Brasil, Daniel Balaban, diz que o principal desafio no combate à fome no mundo é mobilizar países a criarem medidas que os façam parar de pedir ajuda externa. “Para isso, eles têm que investir em políticas públicas”, afirmou.
O diretor ressalta que a continuidade de políticas públicas possibilitará à população acesso a direitos básicos, como alimentação nutritiva e saudável. “A fome tem solução, e, para isso, temos que ter vontade política de resolver o problema. Sem esse investimento contínuo, há risco de os países continuarem a enfrentar cenários de insegurança alimentar e desigualdade social”, alertou.
Confira, a seguir, galeria de fotos:












Segundo Balaban, boas práticas de combate à fome devem ser ancoradas em quatro pilares principais: ajuda humanitária, investimento em educação, políticas de auxílio a pequenos produtores rurais e investimento em ciência e tecnologia. A orientação serve, sobretudo, para países que tiveram a situação da fome agravada pela pandemia da covid-19.
Assistente social e mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Andreia Lauande ressaltou que a fome não é um problema que surgiu com a pandemia do coronavírus. “Infelizmente, não é só a pandemia responsável por esse processo. Nós passamos por uma crise extremamente complexa que se acentuou com a pandemia”, disse ela.
Leia também
Revista online | Editorial: O calendário da democracia
Revista online | “Brasil precisa de choque para economia de carbono neutro”
Revista online | Confira charge de JCaesar sobre eleições 2022
Revista online | Godard, o gênio exausto
Revista online | Sete meses de guerra e um sistema internacional em transição
Revista online | Militares e o governo Bolsonaro: política ou partidarização?
Revista online | Por que eu voto em Simone?
Revista online | O Chile do pós-plebiscito
Revista online | Um Natal com Darcy Ribeiro
Revista online | Os desafios fiscais para 2023
Revista online | Eleições atrás das grades
Revista online | Não! Não Olhe! Sim! Enxergue!
Revista online | 1789 e 1822: duas datas emblemáticas
Acesse a 46ª edição da Revista Política Democrática online
Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online
Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online
Revista online | “Brasil precisa de choque para economia de carbono neutro”
O historiador Jorge Caldeira, que também é escritor, jornalista e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP), diz que o país tem uma oportunidade maior do que a descoberta do ouro no século XVII para se desenvolver: ingressar na economia de carbono neutro. Segundo ele, o estímulo à plantação de árvores é a saída mais viável para esse objetivo.
Caldeira é o entrevistado especial desta revista Política Democrática online de setembro (47ª edição). Autor de dezenas de livros, como Brasil: Paraíso restaurável e História da riqueza no Brasil: cinco séculos de pessoas, costumes e governos, ele diz que o país reduzirá à metade as emissões de carbono, se parar de desflorestar a Amazônia.
Segundo o escritor, que também é sócio fundador e diretor da editora Mameluco, “a passagem para a economia de carbono neutro tem imensa vantagem para renda, emprego e desenvolvimento” no país e no mundo. A seguir, leia os principais trechos da entrevista.
Política Democrática (PD): O senhor vê como viável o Brasil assumir o projeto de carbono neutro?
Jorge Caldeira (JC): O Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) do governo do presidente Ernesto Geisel (1974-1979) é o fracasso que dura até hoje. Até então, o Brasil tinha a economia que mais havia crescido no mundo nos últimos 80 anos. O PIB absoluto do Brasil era maior do que o da China. Então, os 50 anos de fracasso do planejamento levaram à situação em que estamos. Nos planos eleitorais, continua o debate como se o planejamento de desenvolvimento do Brasil fosse ainda o modelo dos anos 1970. De lá para cá, o Brasil perdeu a globalização fase um, que são cadeias produtivas, trocas, comércio internacional crescendo acima da média nos mercados internos. Então, o Brasil se fechou, perdeu esse pedaço. O país tem uma segunda chance agora, que é transformar economia de carbono neutro, cujo preço central não existia na economia tradicional. É o preço do carbono. Era a natureza até bem pouco tempo atrás. A mudança climática transformou em bem escasso a temperatura regulada na vida da Terra e criou um mercado de carbono, que existe no planeta inteiro e tem um preço. Quem emite carbono, portanto, queima combustível fóssil, floresta e paga. Quem fixa carbono recebe. Portanto, não é só um preço. São fluxos de renda, emprego, trabalho, progresso. O Brasil está fora dessa economia porque não se planeja. Esse mercado movimentou, em 2020, US$ 280 bilhões no planeta, o que é quatro vezes o total da exportação do agro brasileiro. O planejamento econômico do Brasil não é feito para que o país esteja nesse mercado por falta de meta de carbono neutro para determinada data. O primeiro ente político a adotar o carbono neutro como meta foi a União Europeia, em dezembro de 2019. Mas, ao longo de 2020, entraram China, Japão, Coréia do Sul, Estados Unidos, as grandes economias do planeta. Hoje o planejamento estratégico delas é feito em referência ao carbono neutro. Os incentivos econômicos para o desenvolvimento, progresso, emprego e renda são dados em função disso, que leva muito mais longe do que as pessoas imaginam. A União Europeia atrelou todo o dinheiro de recuperação da Covid à meta de carbono. A Air France, que é uma companhia aérea francesa, pediu 7 bilhões de euros para sobreviver na pandemia, em troca de se adequar a uma meta de carbono zero em 2050. Isso, que já é realidade de planejamento econômico, estratégico e, especialmente, de mercado nas economias centrais, é absolutamente marginal na vida brasileira. O Brasil, que tem 8% do território planetário, pode ficar perto de 35% a 40% de todo o carbono do planeta. Portanto, é a economia para a qual, obrigatoriamente, deve se dirigir todo o investimento em fixação de carbono e combate ao aquecimento global. Qual é o método para se fazer isso? O que o Brasil precisa para chegar lá? O país é o quinto maior emissor de carbono do planeta. Metade das emissões brasileiras é relacionada à derrubada e queimada de árvores, o que é considerado duplamente na conta de carbono. Se derruba a árvore, você elimina um fixador de carbono. Se queima, você emite. Vai para a conta como emissão de carbono. Se parar de desflorestar a Amazônia, o Brasil reduzirá à metade as emissões de carbono no país. Além disso, só há um método de fixar carbono razoável a médio prazo: plantar árvores. A árvore, quando cresce, fixa carbono. Então, a pessoa que emite paga para a pessoa que planta, que fixa o carbono. Com essa possibilidade, a economia brasileira tem 35% do mercado mundial de qualquer jeito porque não há outra forma de fazer isso. Brasil, Indonésia e África têm 80% desse mercado. Plantar árvores é o gerador de empregos mais barato que existe. Precisa de uma pessoa por hectare. O Brasil tem 500 milhões de hectares disponíveis para plantar árvores sem mexer na agricultura e na pecuária, nas cidades e nas reservas. Se fosse usar todo esse potencial, precisaria importar gente porque não teria trabalhadores suficientes para tocar o projeto. Semente tem. O investimento é mínimo, e esta é a nova realidade da economia. Planejar estrategicamente o futuro da economia nacional, com geração de emprego e renda, além da reinserção do Brasil na economia mundial, é carbono neutro.
Veja todos os artigos desta edição da revista Política Democrática online
PD: O senhor reconhece, na nossa história, outros momentos em que o Brasil perdeu oportunidades análogas à da economia verde? Se as perdemos, quais foram os motivos?
JC: O Brasil, em 520 anos de contato com a economia ocidental, aproveitou e perdeu oportunidades. O país não é a potência que mais aproveitou a oportunidade de 500 anos, mas está muito longe de ser um desastre. O Brasil é uma das 15 maiores economias do mundo, mas pode ser facilmente a quarta, quinta, terceira, sem grandes problemas. Há dois momentos em que o país não aproveitou as oportunidades, que são graves. O Brasil, em 1800, era do tamanho dos Estados Unidos. Em 1890, era 15 vezes menor. Então, na época, houve perda de oportunidade muito grande em relação ao padrão da economia que mais crescia no mundo. Essa perda foi, basicamente, por causa do tempo que levamos para lidar com a questão da escravidão. Não apenas a libertação dos escravos, mas a adaptação das instituições brasileiras ao capitalismo, o que começou na República, com direito de propriedade, facilidade de fazer empresa, gasto público decente em educação e saúde. Então, o Brasil criou isso por oportunidades próprias, mas perdeu uma oportunidade gigantesca. Desde os anos 1970, se isolou da globalização. Basicamente, esse foi um ciclo de 50 anos perdidos. A economia de carbono neutro é um ciclo diferente, já que a diferença econômica é carbono, preço e mercado, assim como geração e transferência de riqueza. A institucionalização disso na economia está acontecendo agora no resto do planeta. A oportunidade real, que é maior do que a descoberta do ouro no século XVII, é entrar na economia de carbono neutro.
PD: Quais as maiores restrições que o Brasil enfrentou, ao longo dos 200 anos da Independência, para financiar o desenvolvimento e conseguir produzir ambiente de crescimento sustentável da nossa economia? Essas restrições parecem estar mais agudas ou mais frouxas?
JC: O Brasil levou 16 anos, entre 1890 e 1906, para sair de uma estagnação de sete décadas para ir a uma economia que crescia mais do que a dos Estados Unidos. Mudou-se, basicamente, o enquadramento institucional da movimentação de capitais. Além de todos os males pessoais do domínio de uma pessoa sobre a outra e o preconceito, que dura muitos séculos, as pessoas precisam entender que, na economia da escravidão, o escravo era, também, o principal título financeiro dela. O título de propriedade do escravo era empregado pelo proprietário dele. Então, todo o mercado financeiro, no Império, funcionava em torno do título de propriedade do escravo. Quando se fez a abolição, rasgou-se o título de propriedade. Além de o escravo fisicamente ser libertado, o dono perdeu o título de propriedade, e isso deixou de circular no mercado. Para se manter o título de propriedade do escravo como o principal da economia, foi preciso torná-lo, por meios legais, competitivo, e o jeito que se encontrou de fazer isso, no Império, foi restringir o crédito ao máximo. As políticas econômicas da época eram todas de restrição de crédito, o que permitia que o título de propriedade do escravo ficasse competitivo. Acabou a escravidão. Facilitou-se o crédito, e o capital apareceu a troco de nada. Existe um livro chamado Nature of Capital, que mostra exatamente como que, em São Paulo, se financiou, com pequeno capital, a ferrovia e a acumulação do capital. Os tropeiros de São Paulo conseguiram financiar a sua passagem para a posição de proprietários de ferrovias antes ainda do fim da escravidão, e isso permitiu uma acumulação de capital que, depois, foi aproveitada na economia. Essa história toda eu conto no livro Júlio Mesquita e Seu Tempo, que aborda o período em que a economia brasileira teve um “crescimento chinês”. Mas o Brasil também foi bem, fazendo o contrário, depois dos anos 1930. Como a base do crescimento não eram os pequenos, mas os grandes projetos – siderurgia, eletrificação, petróleo –, precisava ter capital intensivo para isso. Então, a solução brasileira foi juntar esses capitais no estado. Foi muito bom. Funcionou. O PND do Geisel era feito para que as ações fossem cada vez mais assim: o estado junta os capitais e os aplica, e o mercado interno cresce por causa dessa aplicação de capitais. Isso deixou de ser relevante em 1970, mas muita gente continua pensando que o desenvolvimento, no Brasil, é um grande projeto estatal. A boa notícia é que a economia de carbono neutro, especialmente no que se refere à energia, é meio como era a dinâmica no século 19. Nos últimos dois anos, foi instalada, no Brasil, uma Itaipu de energia solar, que representa 10% da produção da energia elétrica no país. É um negócio gigantesco, provavelmente, o maior investimento em energia nos últimos tempos. Basicamente, 700 mil pessoas foram colocadas em pequenas instalações, e alguns poucos produtores fizeram instalações maiores. Mesmo assim, ela tem escala tão pequena que dá para ser financiada privadamente. Não precisa ser grande. Então, isto é outra vantagem na área de energia, especificamente, que o Brasil já tem competitividade por causa da matriz energética mais limpa do planeta. O mundo, em geral, é 80% de fóssil; 20% de renovável. Esse é o padrão mundial das economias industrializadas. O Brasil tem cerca de 55% de fóssil e cerca de 45%, de renovável. Então, para se chegar ao carbono neutro, a energia vai ajudar, mas o mais importante é plantar árvores. O país tem tudo para essa economia dar certo e, inclusive, o fato de ser tudo descentralizado. Já está acontecendo tudo isso sem planejamento. Como financiar? Financia com um ambiente onde muitas pessoas podem financiar o seu projeto, mas precisam ter muito mais do que isso. O ambiente de planejamento, para a economia de carbono neutro, é de muita gente pequena fazendo negócio, empreendendo. Essa é a vocação brasileira sociológica hoje como a principal categoria de emprego e renda. É esta gente que faz a transformação. A passagem para a economia de carbono neutro tem imensa vantagem para renda, emprego e desenvolvimento. Isto é central porque ela não precisa ser feita como ocorreu na passagem da economia escravista para a economia capitalista no tempo da República. O Brasil precisa ter planejamento. Emitiu-se US$ 280 bilhões de título para fixar carbono, mas levou quase zero disso. É preciso instruir os pequenos proprietários para juntarem provas de que estão plantando. Se planta um hectare de floresta, ganha-se um dinheirinho. Se cinco milhões de proprietários fizerem isso em um hectare, o Brasil quintuplicará a capacidade de refazer mata nativa em um ano. Na Amazônia, tem 15 milhões de hectares nas mãos de sem-terra, que se tornaram proprietários e tiveram que desmatar porque não sabiam fazer cultura. Se pagar para plantar, haverá 15 milhões de empregos com um emprego por hectare dentro da Amazônia. Isso é 2% da área da Amazônia. O que falta para o contrato de fixação de carbono é a segurança: a pessoa que põe o dinheiro para financiar um hectare de floresta precisa ter certeza de que o dinheiro foi aplicado em um hectare de floresta como mostra a própria foto de satélite.
PD: O senhor acredita que falta cultura de patente ou algum tipo de institucionalidade do Estado, um plano de país voltado para inovação e empreendedorismo, para estimular essas ações?
JC: Se você comparar as categorias básicas do Censo do século XVIII, vai ver que o Brasil, em 1800, era uma nação em que nove décimos das unidades produtivas eram pequenas unidades familiares, e um décimo era coisa maior do que isso. Nessas unidades, se fez toda a adaptação, toda a criação econômica e toda a produção, porque estavam no sertão. A visão econômica que se tinha disso, na maneira antiga de historiografia, era de unidades de economia de subsistência, ou seja, que não produziam riquezas e que eram incapazes de acumular capital. Esse conceito de economia de subsistência era usado por economistas conservadores, liberais e da esquerda, que achavam que ali não havia riqueza. Isso foi contemplado nos anos 1970, quando viram que a economia dos índios era capaz de produzir excedente, fazer troca, e, portanto, permitia acumulação. No livro Banqueiro do Sertão, mostro como fazer negócios com índios gerava, dentro da economia brasileira, uma cadeia de acumulação de capital gigantesca. Capital era prata contrabandeada do Peru, em 1600, 1700, antes do ouro. Então, esse padrão não era visto pelo conceito antigo. Hoje, para se explicar como que a economia colonial brasileira chegou a ser do tamanho que a dos Estados Unidos, a razão é simples. O chamado mercado interno que, antigamente, era calculado em peso. A economia informal era a economia. No século XVIII, o padre Guilherme Pompeu de Almeida movia negócios em uma área que ia de Buenos Aires, Potosí, Belém, Salvador, Rio de Janeiro, sem sair de Araçariguama. Ele tinha capital suficiente para fazer isso trocando – ele basicamente fabricava ferro, que era a mercadoria base de troca com os índios. Trocava, fornecia esse ferro, por algodão, madeira, farinha. Vendia isso e acumulava prata nas trocas, que também fornecia para as áreas. Havia grande capacidade empreendedora, mas a economia formal brasileira era realmente pobre para lidar com isso. O que a República fez, e o Brasil precisa fazer agora, é simplesmente diminuir o tamanho do caminho entre economia formal e economia informal para que haja crescimento. Se quiser plantar em cinco milhões de propriedades, você tem que facilitar a vida de cinco milhões de proprietários e fazê-los empregar outras cinco milhões de pessoas que, hoje, estão tudo na informalidade. Vai ter que formalizar para poder prestar conta do contrato de venda de carbono fixado para alguém que veio do exterior. Esta formalização simples permite muito, e o problema do Brasil, para ser uma segunda, primeira economia do mundo, é saber fazer isso direito hoje, o que não é tão difícil. Acho que o que se faz, no país, é vender como não educação o que, na verdade, é cultura e produtividade. Índios sabem reflorestar melhor do que o melhor fazendeiro. Temos que arranjar um jeito também de, nessa economia, chamar um índio para nos ensinar, o que não é feito porque achamos que ele é mal-educado e que nós somos educados. Não é verdade. Todo o Brasil foi feito de adaptação a uma realidade tropical que a Europa desconhecia. Quem se adaptou? Quem conhecia? O índio. Eu sempre dou o exemplo do homem da carrocinha de reciclagem, que é economia circular e a mais moderna que existe. Aquilo lá é trabalho e capital. A carrocinha é capital. Ele é trabalho, e ele, trabalhando, enche a carrocinha, que é capital, e faz renda. Ele não tem emprego. Ele não está no mundo formal, mas ele é, tecnicamente, um empreendedor, uma mistura de trabalho e capital. Para a nossa sorte, a população pobre do Brasil tem esta característica essencial, e ela pode ser aproveitada.
PD: O Brasil já foi mais ou menos inovador, mais ou menos capitalista, o capitalismo chegou à base?
JC: Há uma diferença entre empreendedor e capitalismo. Capitalismo é trabalho assalariado, basicamente. Então, você precisa ter acumulação suficiente de empreendedores para que chegue a uma empresa capitalista. Isso depende de condições institucionais. No Brasil, não é muito bom porque mantém, na informalidade, a população empreendedora, e o país não é muito bom de formalizar a acumulação de capital do informal para o formal. Só foi bom no período do começo da República. Rui Barbosa, em 17 de janeiro de 1890, baixou um decreto cujo artigo primeiro libera a organização de empresas, no Brasil, bastando registrá-las na junta comercial. Até então, para você organizar uma sociedade anônima no Brasil, precisava juntar as pessoas, fazer o estatuto da empresa, levantar 10% do capital e, quando isso estava pronto, depositava o capital no banco. Mandava a papelada para o Conselho de Estado, que era órgão assessor do poder moderador na Corte do Rio de Janeiro e levava um ou dois anos para autorizar a empresa a funcionar, ou não, dependendo de várias questões, inclusive, saber se a finalidade daquele negócio era lícita ou ilícita do ponto de vista moral. Evidentemente que o Império e eles se orgulhavam que tinham 89 sociedades anônimas em todo o Brasil em 1889, enquanto, na Inglaterra, havia 10 mil. Com o decreto de Rui Barbosa, só no ano da assinatura e apenas na cidade de São Paulo, se fizeram 210 sociedades anônimas. Então, a restrição não é capacidade. Não havia capacidade empreendedora. Não era capital. Não era nada. Era regulação. A regulação era ruim. O Brasil precisa de um choque dessa espécie hoje para entrar na economia de carbono neutro, que é como fazer alguém que tenha um hectare plantar árvore nesse hectare de maneira decente. O Brasil não recebe dinheiro porque isso não está feito. O resto do planeta não tem terra, não tem lugar para pôr árvores, não tem água, não tem nada. Aqui, no Brasil, o problema é que a lei não deixa.
Confira, abaixo, galeria de imagens:












PD: O Brasil tem eleição desde 1560. Se há um povo, no mundo, que não pode dizer que não sabe votar, é o Brasileiro porque teve chance de aprender na terra de José Bonifácio que, depois, gerou Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Marcos Maciel. Por que a política se degradou tanto no Brasil ultimamente e o que devemos fazer para sair disso?
JC: Em uma economia em declínio, é difícil que apareça gente otimista e capaz de olhar um futuro bom. A tendência é ficar tentando repetir a fórmula que nos levou ao sucesso lá no passado e não ficar enxergando o que mudou e porque temos que fazer diferente. Então, uma das coisas que me preocupa muito na eleição atual é que o grande ambiente e as grandes categorias de debate intelectual estão no mundo da Guerra Fria. O modelo de muito sucesso demora muito para morrer mentalmente. Ficam tentando repetir, insistindo no que já foi e que não é mais. Quanto mais você fizer isso, pior fica a sua situação, e isso pode ir muito longe. Há nações onde essa situação, às vezes, passa a um declínio, a decadência ou a cenários muito complicados sem que se saia dessa disfunção. É como um filme em que você volta todo dia para o mesmo dia. Isso está acontecendo, em alguma medida, no Brasil. A nossa sorte é que um resto de outras coisas funciona. O Brasil tem conexões com o resto do mundo e, no que interessa, é o potencial para a economia de carbono neutro. Então, o mundo vai nos olhar. Vai ser difícil escapar dessa. Por bem ou por mal, o Brasil vai ter que se adaptar a isso. Isso é, mais ou menos, quando você tem esse tipo de clima, é mais ou menos o que aconteceu no fim do Império com a abolição. Todo o mundo que tinha o mínimo de visão de futuro dizia “temos que fazer abolição porque isso aqui não tem futuro”. Em 1800, quando fizeram as instituições brasileiras para proteger a escravidão, ninguém tinha alternativa para ela. Em 1850, em uma hora, já havia alternativas para ela. Em 1880, aquilo era um atraso monumental, e os escravistas diziam que, se houvesse abolição, faltariam braços para o trabalho porque ninguém quer ser escravo, mas os braços para o trabalho livre sobravam. Então, o Brasil está olhando o mundo um pouco como era no fim do Império, com lentes do passado, da Guerra Fria, de projetos econômicos que já não tem mais sentido porque ninguém vai fazer um poço de petróleo. Esquece. Não tem futuro. É economia morta. O equivalente à defesa do trabalho escravo no tempo do Império é o negacionismo de hoje: negar que não existe uma economia nova nascendo. Mas a economia existe. Então, não tem como escapar disso. A elite brasileira tem muita dificuldade de olhar uma economia com os princípios da economia de carbono neutro. No entanto, o pequeno empresário enxerga isso muito mais depressa que o grande. Por isso que a mudança está acontecendo embaixo. No caso da energia solar, qualquer dono de casa faz a conta e fala: se colocar uma placa solar aqui, pago essa placa solar só na conta de luz em 12, 16, 24 ou 36 meses. É assim que está sendo feito, apesar de não ter plano nacional para a transição à energia solar. O que era planejamento nos anos 1970 não é planejamento hoje. O que era desenvolvimento econômico não é desenvolvimento econômico hoje. Se não se adaptar a essa mudança, você ficará no tempo passado. A economia do tupinambá é muito mais próxima a dos prêmios Nobel de 2007, 2008, 2010, que foram concedidos a quem lida com a tradição de carbono neutro e a economia circular, e não com a teoria econômica que aplicamos, como a Teoria do Valor, de Karl Marx e do Adam Smith. Isso é uma coisa que pouca gente nota, mas valor em economia, para o Adam Smith ou Marx, é exatamente a mesma definição teórica: o que está na natureza não tem valor, o que só começa na hora em que se arranca a árvore que estava na natureza, porque é trabalho humano, e, com isso, faz-se uma mercadoria. Enquanto ela é útil, tem valor. Quando deixa de ser útil, perde o valor, e você joga fora. É lixo. Então, o ciclo econômico é só entre arrancar da natureza e jogar de volta para a natureza. Por outro lado, o ciclo econômico do cacique e dos economistas é diferente: você tem que produzir, reciclar e produzir de novo para fazer um circuito de produção econômica. Essas mudanças a gente percebe pouco, mas são essenciais no mundo que corre hoje.
Sobre o entrevistado

Jorge Caldeira é escritor, jornalista, historiador e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP).
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de agosto de 2022 (47ª edição), editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores. Por isso, não refletem, necessariamente, as opiniões da publicação.
Equipe de entrevista
André Eduardo: consultor legislativo do Senado Federal na área de economia e mestre em economia pela Universidade de Brasília (UnB).
Benito Salomão: economista chefe da Gladius Research, doutor em economia pelo Programa de Pós-graduação em Economia da Universidade Federal de Uberlândia (PPGE-UFU).
Carlos Marchi: jornalista e escritor. Trabalhou no Rio de Janeiro, em Brasília e em São Paulo, nos principais meios de comunicação do país – Correio da Manhã, Última Hora, O Globo, TV Globo, O Estado de S. Paulo. Paulo. Entre 1984-1985 foi assessor de imprensa na campanha civilista de Tancredo Neves. Foi secretário geral do Sindicato dos Jornalistas do DF (1977-1980) e vice-presidente da Fenaj (1980-1983).
Cleomar Almeida: jornalista, coordenador de Publicações da Fundação Astrojildo Pereira (FAP) e editor da revista Política Democrática online.
Silvio Ribas: jornalista, escritor, consultor em relações institucionais e assessor parlamentar no Senado Federal.
Vinícius Müller: doutor em História Econômica, professor do Insper e membro do Conselho Curador da FAP.
Leia também
Revista online | Confira charge de JCaesar sobre eleições 2022
Revista online | Godard, o gênio exausto
Revista online | Sete meses de guerra e um sistema internacional em transição
Revista online | Militares e o governo Bolsonaro: política ou partidarização?
Revista online | Por que eu voto em Simone?
Revista online | O Chile do pós-plebiscito
Revista online | Um Natal com Darcy Ribeiro
Revista online | Os desafios fiscais para 2023
Revista online | Eleições atrás das grades
Revista online | Não! Não Olhe! Sim! Enxergue!
Revista online | 1789 e 1822: duas datas emblemáticas
Acesse a 46ª edição da Revista Política Democrática online
Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online
Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online
Artigo: O Brasil não se tornará uma Argentina
Benito Salomão | Correio Braziliense *
Nossa distribuição populacional no território contrastada com uma representação política na Câmara e no Senado é capaz de produzir freios ao poder eleito
Este artigo tem um significado simbólico, pois se trata do meu artigo de número 200 para diversos jornais para os quais contribuí desde 2010. O título é provocativo, já que no embate político local, apoiadores de uma das candidaturas postas argumentam que caso a outra candidatura seja vitoriosa nas eleições do próximo dia 2, o Brasil tenderá a replicar o fracasso econômico da Argentina.
Escrevo este artigo da Cidade de Córdoba, na Argentina, onde passei a semana participando de um seminário acadêmico, a 55ª Jornada Internazionale de Finanzas Públicas, evento anual que há mais de meio século contribui para a fronteira do conhecimento na área das finanças públicas. Participo ininterruptamente deste encontro desde sua 49ª edição, em 2016.
O argumento utilizado na eleição deste ano associa o fracasso econômico argentino a governos de esquerda. O diagnóstico, evidentemente, está equivocado. Participando do encontro e conversando com os amigos argentinos, pude identificar claramente que a raiz dos seus problemas econômicos é a captura do Estado por elites políticas. Há uma vasta literatura que disserta sobre a qualidade institucional e os incentivos por ela criados, que levam os países à prosperidade ou ao fracasso. Portanto, governos de esquerda ou direita podem performar bem diante de instituições de boa qualidade.
O livro Why the nations fail? (Por que as nações fracassam?), de Daron Acemoglu e James Robinson, corrobora com o meu argumento. Os autores dissertam sobre modelos institucionais que podem ser: i) inclusivos; ou ii) extrativistas. No primeiro caso, as instituições garantem aos cidadãos colherem os frutos dos próprios trabalhos, há incentivos à competição e à inovação que geram crescimento econômico. Já no caso de instituições extrativistas, o fruto do trabalho alheio é capturado pelo Estado, que é dirigido por elites (políticas, produtivas, financeiras, burocráticas e sindicais).
Esse segundo caso parece se adequar mais ao exemplo da Argentina, que flagrantemente vem empobrecendo diante de crises sistêmicas e de uma inflação crônica. O país vive desequilíbrios fiscais crônicos, que estão associados, por sua vez, com a concentração de poderes nas mãos de seus governos (federal; provinciais e locais). A elevada concentração demográfica na província e na Cidade Autônoma de Buenos Aires, torna o modelo político argentino rígido.
Em 2003, Néstor Kirchner ascendeu ao poder no país, sendo sucedido, em 2007, por sua esposa, Cristina Kirchner, que exerceu o poder até 2015. Após um mandato de Maurício Macri entre 2016 e 2019, Cristina Kirchner retorna ao governo exercendo a função de vice-presidente.
Em outras palavras, há um problema de alternância de poder na Argentina, que está relacionado com vários fatores: i) demográficos, tornar-se presidente na Argentina requer vencer as eleições na província de Buenos Aires, que concentra aproximadamente 36% do eleitorado do país.
No que se refere ao parlamento, Buenos Aires mostra novamente sua importância, a província possui 70 deputados na Câmara Federal, enquanto a Cidade Autônoma de Buenos Aires possui 25 deputados, de um total de 257 cadeiras. Ou seja, mais de 36% da Câmara Federal argentina é composta por parlamentares de uma única região.
Esse excesso de poder político dá ao presidente e à sua base de apoio no Congresso e nas elites a capacidade de mudar regras discricionariamente, de acordo com suas conveniências. Recentemente, se discute no país a mudança do número de juízes em tribunais superiores, obviamente isso não está sendo pensado com o nobre intuito de aprimorar o sistema judicial do país, mas sim de submetê-lo.
O Brasil não vai se tornar uma Argentina caso um governo de esquerda saia eleito do próximo dia 2 de outubro. Nossa distribuição populacional no território contrastada com uma representação política na Câmara e no Senado é capaz de produzir freios ao poder eleito.
Freios estes que funcionaram relativamente bem, ajudados por um Supremo Tribunal Federal independente, a impedir parte dos retrocessos tentados pelo governo atual. Durante a pandemia, prefeitos e governadores tiveram autonomia para adotar suas políticas de saúde, ainda que o governo federal as sabotasse.
Isso não significa que o Brasil, como qualquer outro país, esteja imune à decadência política. Vigilância quanto ao modelo institucional vigente, reforçar as amarras sobre o poder e reformas que favoreçam à competição e à inovação, devem ser pensadas.
*Artigo de Benito Salomão - Economista chefe da Gladius Research, doutor em economia PPGE UFU, publicado no Correio Brasiliense
Nas entrelinhas: Voto útil não leva ninguém a votar puxado pelo nariz
Luiz Carlos Azedo | Nas entrelinhas | Correio Braziliense
Um card petista em forma de versos destila veneno nas redes sociais. A primeira frase não tem nada demais numa campanha de voto útil: “Se você votar no Lula,/ Lula vence no primeiro turno”. Logo a seguir aparece um gráfico ilustrado com a foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma barra vermelha, representando 52% dos votos. Ao lado, uma barra amarela, com as fotos, lado a lado, de Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), que corresponderiam a 48% dos votos. Essa é a meta da campanha de voto útil iniciada, nesta semana, pelo próprio Lula, com apoio de artistas e formadores de opinião engajados na sua campanha, para vencer no primeiro turno.
A colagem das fotos já é mal-intencionada, mas o veneno mesmo vem logo a seguir: “Mas se votar em Ciro ou em Simone Tebet, quem vai para o segundo turno é ele”, diz o texto, seguido da imagem de uma mão com o indicador apontando para Bolsonaro, com cara de buldogue e faixa presidencial. Como assim? Quem está votando em Ciro ou em Simone não está votando em Bolsonaro, tem uma preferência legítima numa eleição em dois turnos, que foi bandeira de Lula e do PT durante a votação da Constituição de 1988. Porque isso garantiria a possibilidade, como ocorreu, de que o partido de base operária surgido no ABC paulista se tornasse uma alternativa de poder.
O card é munição de baixo custo e alto impacto da campanha de Lula nas redes sociais, nas quais um vídeo do petista orienta seus apoiadores a intensificar a campanha, com aquele estilo inconfundível de líder sindical acostumado a agitar assembleia de trabalhadores com palavras de ordens e tiradas irônicas. “Quem gosta muito de telefone celular, quem fica agarrado o dia inteiro no celular, quem fica usando ‘zap’, fazendo tuíte, quem fica no Tik Tok, no Toc Toc, quem fica… sabe… é utilizar essa ferramenta para a gente conversar com as pessoas indecisas neste país, e pra gente mostrar a responsabilidade de mudar este país.”
Trecho de um discurso de palanque, o vídeo não é dos mais sedutores, mas funciona. A ordem é reproduzir cards, depoimentos, vídeos, tudo que possa de alguma forma esvaziar as candidaturas de Ciro e Simone. O problema é que o cidadão comum não vai votar levado pelo nariz por nenhum candidato. Não adianta terceirizar a responsabilidade. Não são as candidaturas de Ciro e Simone que vão inviabilizar uma vitória de Lula no primeiro turno.
Se o raciocínio for tão simples assim, Ciro e Simone também estão inviabilizando a vitória de Bolsonaro no primeiro turno, no pressuposto de que os eleitores da chamada terceira via não têm preferência pelo petista. Essa é uma matemática que simplifica, mas não resolve, o problema eleitoral.
Lula queimou os navios com Ciro e vice-versa. O resultado prático pode ser o deslocamento do eleitor não-ideológico do pedetista para os braços de Bolsonaro. Simone está mais ao centro e vem fazendo uma campanha claramente anti-Bolsonaro. Seus eleitores poderiam derivar por gravidade para Lula no segundo turno. Mas como reagirão a esse tipo de ataque petista?
Para vencer no primeiro turno, tanto Lula como Bolsonaro teriam que seduzir os eleitores de centro. O presidente começa a se movimentar nessa direção, empurrado pelo fracasso da estratégia de confrontação ideológica, pelo resultado das pesquisas, pela orientação de seus marqueteiros e pelas pressões do Centrão, cujos políticos não são de pular na cova com o caixão.
Compromissos
Lula não quer conversa antes do segundo turno. Acredita que vencerá no primeiro sem ter que assumir compromissos políticos com essas forças, nos mesmos termos que assumiu com o ex-governador Geraldo Alckmin, seu vice, e com Marina Silva. Qual a razão?
O Brasil é uma democracia de massas, com uma Constituição democrática de viés social liberal, e não social-democrata. Seu gesto em direção ao centro seria assumir compromisso com a democracia representativa e suas instituições de caráter liberal, não apenas abrir espaço para barganhas de natureza fisiológica, que serão inevitáveis quando precisar dos votos do Centrão, se for eleito.
Ciro tem um projeto neonacionalista, de viés desenvolvimentista, que estaria mais próximo do governo de Dilma Rousseff, que fracassou na política e na economia, do que do próprio governo Lula. A proposta mais populista de Ciro — renegociar as dívidas da população de baixa renda e “limpar” o nome no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) — foi encampada por Lula, antecipando-se a qualquer acordo que justificasse uma aliança entre ambos no segundo turno. Dificilmente haverá uma reaproximação entre ambos.
Simone tem um programa liberal social e um compromisso claro com o combate às desigualdades e à defesa dos direitos humanos. Sua agenda social é plenamente coincidente com a de Lula, mas a política econômica, não. O petista faz disso um mistério, mas todo mundo sabe que só há duas maneiras de enfrentar a crise fiscal: reduzindo gastos ou aumentando os impostos.
Nova obra destaca propostas para desenvolvimento com inclusão social
Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP, com atualização no dia 13/9/2022
Propostas econômicas para o governo brasileiro estão reunidas na obra Retomada do Desenvolvimento: reflexões econômicas para um modelo de crescimento com inclusão social (356 páginas), editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), em Brasília. Em formato de coletânea de artigos de 27 economistas, pesquisadores e nomes do mercado, a publicação será lançada, na quinta-feira (15), a partir das 18h, em evento presencial no Espaço Arildo Dória, na Biblioteca Salomão Malina, no Conic, região central de Brasília.
Mais nova edição temática da revista Política Democrática, a obra terá, em Brasília, o seu segundo lançamento presencial, depois de ser realizado em Uberlândia (MG). Os autores também fizeram debate on-line sobre a obra no dia 28 de agosto, com transmissão no portal da FAP, no canal da fundação no Youtube e na página da entidade no Facebook, onde o vídeo do lançamento da obra também está disponível para os interessados.
Veja, a seguir, vídeo de lançamento em Brasília:
Estadão | Pesquisadores lançam propostas para retomada do desenvolvimento com inclusão social
Correio Braziliense | Livro debate desenvolvimento em várias frentes técnicas e ideológicas
Neste novo lançamento, o debate será realizado pelos organizadores da 60ª edição da revista, os economistas Benito Salomão e José Luis Oreiro, que também publicaram suas análises na obra. Eles vão discutir o assunto com a economista Vilma Pinto e o ex-senador Cristovam Buarque. O jornalista Luiz Carlos Azedo mediará o evento, que contará com a presença de outros autores.
De acordo com a obra, o Brasil passa neste ano por um momento crucial de sua recente vida democrática. As eleições de outubro serão, ainda, permeadas por um componente adicional de incertezas advindas da economia. Após praticamente uma década perdida, em que a economia brasileira apresentou em 2020 um PIB per capita inferior ao que tinha em 2010, o país ainda segue com dois desafios às vésperas de a população ir às urnas.
Confira, abaixo, fotos do lançamento presencial em Brasília:












Desafios
O primeiro desafio é, de acordo com os organizadores, a capacidade de o Brasil reafirmar sua democracia restabelecendo uma convivência sadia entre as instituições que o governa. Além disso, o país deverá encontrar um caminho para restabelecer as bases mínimas para o crescimento sustentado nesta década em curso e na próxima.
“Há poucos meses de uma eleição crucial para a sociedade brasileira, o debate público está concentrado em leitura de pesquisas de intenção de votos, em polêmicas inúteis e em questões puramente identitárias. Aos poucos, a opinião pública brasileira vai se distanciando de uma concepção utópica de desenvolvimento”, diz um trecho da obra.
A mais nova edição da revista Política Democrática visa mostrar para a opinião pública que, embora o crescimento com distribuição de renda tenha se tornado distante na última década, este é um caminho que pode ser retomado com ideias e empenho político. Segundo a publicação, “o país precisa parar de desperdiçar energias com embates inúteis, crises institucionais sem sentido e acirramentos a troco de nada”.
Com análises científicas, a obra defende uma mobilização para que o país tenha população devidamente educada, economia diversificada e integrada ao novo padrão tecnológico, serviços públicos universais e de boa qualidade, além de infraestrutura capaz de integrar as muitas regiões do país. A revista sinaliza, ainda, como conquistar crescimento perene do PIB per capita a longo prazo somado à melhoria do padrão distributivo desta riqueza.
Pluralidade
Baseadas em análises sustentadas em concepção plural, de acordo com os autores, a publicação ficou “ainda mais rica e diferente dos demais esforços acadêmicos no sentido de propor uma agenda para o país”. Isto porque, normalmente, os livros de ensaios organizados para propor alguma agenda econômica são de iniciativa de grupos de estudo, ou clubes acadêmicos, muitos já conhecidos da opinião pública e que têm muito pouca abertura para incorporar ideias divergentes.
Assista ao vídeo do lançamento virtual da revista sobre a retomada do desenvolvimento:
“Aqui, até pela pluralidade do grupo de desenvolvimento que organizou esta publicação, onde convivem economistas, engenheiros, cientistas políticos, juristas, não seria viável que esta edição tivesse a feição específica de alguma bolha teórica, ou acadêmica”, afirmam os organizadores, na apresentação.
Veja mais lançamentos de revistas impressas da FAP:
Veja, abaixo, lançamento virtual da revista:
Serviço
Lançamento da revista Retomada do Desenvolvimento: reflexões econômicas para um modelo de crescimento com inclusão social
Data: Quinta-feira (15/9)
Horário: 18 horas
Realização: Fundação Astrojildo Pereira
Onde: Espaço Arildo Dória, na Biblioteca Salomão Malina, no Conic, em Brasília
*Título editado
Nas entrelinhas: Mudança no cenário econômico favorece Bolsonaro
Luiz Carlos Azedo | Nas entrelinhas | Correio Braziliense
Recentemente, o jornalista Paulo Markun e a socióloga Ângela Alonso lançaram o documentário Ecos de Junho, em exibição na Netflix, no qual tecem uma linha de continuidade entre as manifestações espontâneas dos jovens brasileiros de 2013 e o desfecho daquele processo antissistema, que levou à eleição de Jair Bolsonaro (PL), cinco anos depois. Havia uma disputa política cujo desfecho foi uma guinada à direita, em 2018, mas que ainda não terminou e, de certa forma, está presente nas eleições deste ano, como uma espécie de ajuste de contas.
Grosso modo, essa disputa ocorreu nos quadrantes da ética, da política propriamente dita, da economia e da ideologia, simultaneamente, mas o peso relativo de cada uma dessas variáveis foi se alterando ao longo do processo. No plano da ética, a Operação Lava-Jato foi um fator determinante; na economia, o fracasso da nova matriz econômica; na política, a sua judicialização; e na ideologia, a reação religiosa à revolução de gênero.
Bolsonaro se elegeu em 2018 porque conseguiu levar a melhor nessas quatro frentes, ainda que tenha sido favorecido pelo impacto do atentado que sofreu em Juiz de Fora, onde levou uma facada que o deixou entre a vida e a morte. Nas eleições deste ano, a conjuntura é outra, o peso relativo de cada um dos quadrantes se alterou, mas eles continuam sendo variáveis que precisam ser examinadas separadamente e, também, em interação.
A Operação Lava-Jato acabou, seus protagonistas estão desgastados e sendo responsabilizados por eventuais abusos de autoridade, a ponto de o ex-juiz Sergio Moro, candidato ao Senado no Paraná, estar em risco de não se eleger. Entretanto, a questão da ética na política não morreu, continua sendo uma variável importante da eleição, que somente não está sendo mais explorada porque não se fala de corda em casa de enforcado.
Líder inconteste nas pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem muita dificuldade de abordar esse tema, que evoca o mensalão, o escândalo da Petrobras, o tríplex de Guarujá e o sítio de Atibaia; Bolsonaro, por causa das “rachadinhas” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, dos escândalos da Educação e, mais recentemente, do estranho costume familiar de comprar imóveis com dinheiro vivo, também não fica à vontade para falar de corrupção. A tendência é os demais candidatos se beneficiarem do desgaste de petistas e bolsonaristas, que se digladiam nas redes sociais, e que deve ganhar mais peso no debate eleitoral, principalmente Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).
A judicialização da política continua sendo um vetor do processo eleitoral, mas numa chave diferente de 2018. Àquela ocasião, o Supremo impediu a candidatura de Lula, que estava com a ficha-suja, por ter sido condenado em segunda instância, o que facilitou a eleição de Bolsonaro; agora, o jogo se inverteu, a condenação de Lula foi anulada e sua candidatura é favorita na disputa, enquanto se arma contra o Supremo uma coalização política interessada em reduzir seus poderes, da qual fazem parte o Executivo, o Legislativo, o Ministério Público Federal e as Forças Armadas. Bolsonaro protagoniza esse processo, mas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também pode ser um interessado nesse projeto.
Para quem?
Até a semana passada, dizia-se que a economia derrotaria o projeto de reeleição de Bolsonaro, em razão da recessão, da inflação e do desemprego. O eixo da estratégia de Lula é a comparação do seu governo — que alcançou altas taxas de crescimento quando concluiu o segundo mandato, aumentou o salário real dos trabalhadores e transferiu renda às parcelas mais pobres da população — com o fracasso econômico do governo Bolsonaro.
Os dados do IBGE desta semana, porém, mostram uma mudança significativa de cenário, com retomada da atividade econômica em torno de 1,2%, queda da inflação e redução da taxa de desemprego a 9%, o que pode dar ao projeto de reeleição de Bolsonaro um gás que até agora não tinha. A disputa de narrativas sobre a economia, obviamente, terá de ser politizada, na base do “melhorou pra quem, cara-pálida?”.
Finalmente, a dimensão ideológica. Nas eleições deste, esse quadrante está sendo polarizado pela reafirmação da questão democrática pela sociedade civil, que se contrapôs ao projeto iliberal de Bolsonaro. Entretanto, no debate eleitoral, a questão dos costumes ainda tem muito protagonismo, principalmente em decorrência do alinhamento da maioria dos líderes evangélicos com Bolsonaro. O presidente da República capturou o sentimento de defesa da integridade da família unicelular patriarcal, desde 2018.
Em contrapartida, Lula, que se identifica com o lugar de fala dos movimentos de gênero, indígena e negro, não pode assumir as pautas identitárias como principais bandeiras de campanha eleitoral, porque isso poderia lhe custar a eleição. As maiores vantagens estratégicas do ex-presidente são os votos do Nordeste e das mulheres. Bolsonaro trabalha para neutralizá-las.
Revista online | Artificialismos econômicos
Benito Salomão*, especial para a revista Política Democrática online (46ª edição: agosto/2022)
Com a proximidade das eleições e a flagrante e persistente desvantagem de Bolsonaro nas pesquisas, o governo se mexeu para produzir um “pacote de bondades” com vistas a tentar atenuar, pelo menos a curto prazo, o sofrimento em curso no Brasil. As medidas, no entanto, já conhecidas pelo eleitor brasileiro, são artificiais e tendem a produzir uma meia melhora em curtíssimo prazo na economia brasileira, a custa de desequilíbrios macroeconômicos futuros.
A atividade econômica prevista para o ano de 2022 está melhorando. As projeções do Boletim Focus do Banco Central indicam que o crescimento do PIB deve ser acima de 2%. A ser confirmado, tal resultado indicaria uma atividade melhor do que o ocorrido na última década, cuja média de crescimento do PIB foi próxima de 0%. Entretanto, um crescimento de 2% é extremamente baixo para um país de renda média como o Brasil e deve ser limitado ao ano de 2022, o que desperta a atenção para a insustentabilidade do nosso padrão de crescimento do tipo “voos de galinha”.
Veja todos os artigos desta edição da revista Política Democrática online
A realidade social do Brasil não será transformada, nos próximos 20 anos, se o crescimento econômico não for capaz de sustentar uma taxa média de 4% ao ano neste período. Ou seja, a taxa atual de crescimento prevista pelo Focus, ainda que melhor do que as previsões feitas no início de 2022, continua sendo medíocre e incapaz de proporcionar expansão do bem-estar social no país. Um crescimento do PIB médio de 1% ou 2%, virá acompanhado da manutenção de níveis elevados de desemprego, desalento, pobreza e fome. Ou seja, trata-se da perpetuação do contexto econômico atual.
Alívio semelhante está ocorrendo no lado nominal da economia. A inflação de 2022 não será de 9%, como as previsões apontavam antes da aprovação da PEC dos combustíveis. Agora, diante desse novo cenário do ICMS, a inflação será próxima a 7%, quase o dobro da meta prevista para o ano. Nem de longe um IPCA de 7%, caso ocorra, indica uma inflação baixa e, ainda assim, está se dando à custa de um nível de preços maior em 2023.
Existe um elevado teor de artificialismo na queda da inflação em curso no Brasil. Parte da elevação de preços decorrente neste ano se deu devido a choques de oferta clássicos sobre os preços de petróleo e energia. Tais choques, no entanto, são apenas temporários e tendem a se dissipar ao longo do tempo. O governo combateu um choque temporário de preços do petróleo com uma mudança permanente no ICMS dos combustíveis que trará inúmeras consequências indesejáveis.
Confira, a seguir, galeria de imagens:
















A limitação da capacidade de arrecadar dos Estados desorganiza o equilíbrio federativo no Brasil, pois o ICMS é uma das principais fontes de receitas próprias dos governos estaduais. Isso tende a repercutir negativamente no caixa dos municípios, particularmente os de médio e grande porte, que, por determinação constitucional, recebem parte (25%) da arrecadação do ICMS dos Estados. Oferecer subsídios tributários a combustíveis fósseis tem efeitos ambientais e climáticos que vão na contramão da mudança do padrão energético global, que caminha para a ruptura com a dependência do carbono.
Também há efeitos concentradores nessa estratégia de subsidiar combustíveis via ICMS. Isso porque estados e municípios são responsáveis, segundo a Constituição, pela prestação na ponta de um conjunto amplo de bens e serviços públicos. Os Estados garantem educação média, segurança pública e atendimento de saúde de média complexidade, além de infraestrutura interurbana. Já os municípios ofertam educação básica, atendimento de saúde primário, infraestrutura urbana, transporte, entre outros serviços públicos utilizados principalmente pelas populações de baixa renda. Enquanto isso, carros movidos a combustíveis fósseis são bens privados utilizados pelas classes média e alta.
Na prática, a PEC do ICMS concentra renda, desorganiza o equilíbrio federativo nacional, estimula a demanda por energia com elevado impacto climático e não soluciona o problema da inflação. Apenas leva pontos de inflação deste ano para 2023. Do ponto de vista político, no entanto, devido às resistências dos beneficiados e aos interesses difusos dos prejudicados pela PEC, isso não deve ser revisado por um próximo governo.
Sobre o autor

*Benito Salomão é economista-chefe da Gladius Research e doutor em Economia pelo Programa de Pós-Graduação em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia (PPGE-UFU).
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de agosto/2022 (46ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.
Leia também
Revista online | Ressentimento e reação conservadora: notas sobre eleição histórica
Revista online | 2013: ecos que reverberam até hoje
Revista online | A tópica anticomunista na linguagem fascista
Revista online | A Câmara dos Deputados nas eleições de 2022
Revista online | “Não vai ter golpe”, diz economista Edmar Bacha
Revista online | Representatividade negra na política
Revista online | Por que as políticas públicas de livro e leitura são fundamentais
Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online
Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online
Nas entrelinhas: Agenda de rua esquenta largada das eleições
Luiz Carlos Azedo | Nas entrelinhas | Correio Braziliense
A campanha eleitoral propriamente dita começou ontem, com os candidatos procurando marcar presença nas ruas da forma mais simbólica possível. O ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) começou a campanha no berço de sua trajetória como líder sindical, uma fábrica de automóveis em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, ao lado dos candidatos da coligação ao governo de São Paulo, Fernando Haddad(PT), e ao Senado, Márcio França (PSB). Ao lado da primeira-dama Michele, o presidente Jair Bolsonaro (PL) lançou sua campanha à reeleição em Juiz de Fora, em Minas, cidade na qual foi esfaqueado, em setembro de 2018, episódio que para muitos analistas foi decisivo para consolidar sua imagem de “mito” predestinado e alavancar sua vitória eleitoral.
Em São Bernardo, Lula ressaltou seus vínculos históricos com os metalúrgicos de São Paulo, relembrou episódios de sua vida sindical e comparou os anos de seu governo com os dias atuais. “Não é por falta de dinheiro, é por falta de vergonha das pessoas que governam. As pessoas não têm sentimentos, não sabem o que é fome, não sabem o que é um cidadão ficar mendigando no seu vizinho por um prato de comida”, disse.
Em Juiz de Fora, no Aeroporto da Serrinha, Bolsonaro se encontrou com pastores evangélicos e discursou para um pequeno grupo de apoiadores. Estava acompanhado também do general Braga Netto, seu vice; e do senador Carlos Viana (PL-MG)), candidato ao governo de Minas Gerais. Depois, de participar de uma “motociata”, discursou de um carro de som, no centro da cidade, defendendo sua pauta conservadora. Falou contra o aborto e a legalização das drogas; citou a Bíblia, fez louvações a Deus e enfatizou a redução do preço dos combustíveis e da inflação.
Pesquisas
Segundo a pesquisa Ipec divulgada na última segunda-feira, o Sul é a única região do país na qual Bolsonaro supera Lula (39% a 36%). Também está em vantagem entre os evangélicos (47% a 29%), entre quem recebe de 2 a 5 salários mínimos (41% a 32%) e quem recebe acima de 5 mínimos (46% a 36%). Há empate técnico entre quem tem ensino superior (Lula 36%, Bolsonaro 35%), na faixa dos 35 a 44 anos (Lula 39%, Bolsonaro 38%) e entre os entrevistados que se declaram brancos (Lula 39%; Bolsonaro 35%).
Lula vence tanto entre as mulheres quanto entre os homens, idade, raça/cor, escolaridade, renda familiar, religião, número de habitantes da cidade, capital, interior ou periferia. Vence disparado entre quem recebe até 1 salário-mínimo (60% a 19%), inclusive entre quem recebe benefícios do governo federal (52% a 27%). Esses números surpreenderam o estado-maior de Bolsonaro, que aposta no pacote de bondades do governo para virar o jogo nas eleições. Apesar do volume de recursos que estão sendo liberados, essa transferência de renda ainda não está repercutindo na ponta ou perdeu impacto, por causa do anúncio antecipado e/ou da inflação.
Outra hipótese é a liberação desses recursos estar sendo atribuída ao favoritismo de Lula nas eleições, o que seria uma leitura política da própria população. Se essa tese for correta, Bolsonaro estará no sal. A estratégia do Centrão, de focar a campanha nos resultados da economia, estará fragilizada, o que fará recrudescer a narrativa do bolsonarismo raiz, que já predomina nas redes sociais. Essa questão está no centro das divergências sobre os programas de radio e tevê de Bolsonaro.
Oportunidade
A propósito, até o próximo dia 26, quando começará o horário eleitoral de radio e tevê, a movimentação de rua dos candidatos pautará a cobertura das eleições pelos meios de comunicação. Tanto Bolsonaro como Lula precisam de grandes aparatos para se movimentar, o que demanda muitos recursos e grande logística, além de cuidados redobrados com a segurança.
Isso também abre uma janela de oportunidade para que os demais candidatos, principalmente Ciro Gomes (6%) e Tebet (2%), tentem sair do canto do ringue em que estão sendo colocados pelas pesquisas. Ambos podem ir às ruas sem a necessidade de grandes aparatos. Embora Ciro Gomes tenha que lidar com desafetos petistas e bolsonaristas, esses conflitos também abrem espaço na mídia. Simone Tebet está sendo “cristianizada” pelos caciques do MDB, porém não precisa de muito aparato para realizar uma boa agenda de rua.
Revista online | "Não vai ter golpe", diz economista Edmar Bacha
Entrevista concedida a André Eduardo, Arlindo Fernandes de Oliveira, Benito Salomão e Benjamin Sicsú, especial para a revista Política Democrática online (46ª edição: agosto/2022)
Sócio fundador e membro do conselho diretor do Instituto de Estudos em Política Econômica/Casa das Garças, o economista Edmar Bacha diz que os políticos aprenderam a lição de que “o controle da inflação é eleitoralmente importante”. Ele, que participou da equipe econômica do governo que instituiu o Plano Real, afirma que “o Brasil tem um governo inchado” e “orçamento apropriado por interesses específicos”.
Em entrevista exclusiva à revista Política Democrática online de agosto (46ª edição), Bacha ressalta a sustentabilidade e o desenvolvimento do país com equilíbrio ambiental. “Temos que pensar em uma alternativa, e a alternativa é a floresta”, afirma ele, que é ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Autor do livro No País dos Contrastes: Memórias da Infância ao Plano Real, em que revisita a trajetória acadêmica e profissional que o levou ao mais bem-sucedido projeto de estabilização econômica do Brasil, o economista critica o governo Bolsonaro. “Com as suas ameaças institucionais, faz com que o câmbio se deteriore e provoca uma inflação adicional àquela que o resto do mundo experimenta em face das mesmas circunstâncias”, analisa.
Veja todos os artigos desta edição da revista Política Democrática online
Bacha diz ter assinado a carta em defesa da democracia organizada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), que ultrapassou um milhão de assinaturas. “Estamos todos dispostos a não somente assinar o manifesto, mas a ir para a rua em defesa das instituições, da democracia e, principalmente, dos órgãos superiores de Justiça, como o Tribunal Superior Eleitoral”, destaca. A seguir, confira os principais trechos da entrevista.
Revista Política Democrática (RPD): O país tem hoje déficit fiscal calculado pela Instituição Fiscal Independente (IFI) de, aproximadamente, R$ 200 bilhões e sofre deterioração cada vez maior no ambiente institucional que deve tratar dessa questão. No campo da política há, também, deterioração do tratamento dessa matéria no Congresso. O senhor acredita que teremos ambiente institucional para colocar este país nos trilhos?
Edmar Bacha (EB): Acredito que sim. Obviamente, sem boas instituições, não se vai a lugar nenhum, mas também acredito, inclusive, por experiência própria, na questão da liderança. Veja a importância que teve a liderança do Fernando Henrique Cardoso para a execução do Plano Real. Com toda a sapiência que os economistas pudessem ter, se não fosse a liderança do Fernando Henrique, não haveria plano Real. Todos nós da equipe estávamos muito relutantes naquelas condições políticas e governamentais tão precárias daquele período, logo após o impeachment de Fernando Collor. Itamar [Franco] entrou. Em sete meses, ele já tinha tido três ministros da Fazenda. O apoio no Congresso era dúbio, e fazer um plano daquela envergadura, com condições institucionais tão ruins, somente funcionou porque havia Fernando Henrique, com aquela capacidade enorme de dialogar, o enorme respeito que ele tinha no Congresso, junto ao presidente da República também, e a liderança que ele exercia sobre a equipe. Depende muito da qualidade da liderança que vamos eleger este ano.
Veja, abaixo, fotos do entrevistado:




























RPD: O senhor está otimista ou pessimista quanto à possibilidade de conseguirmos enfrentar definitivamente essa eterna questão fiscal no nosso país?
EB: Estou totalmente integrado na campanha da Simone [Tebet]. Se Simone for eleita, não tenho nenhuma dúvida, dada a qualidade dela e a qualidade da equipe que ela vai levar, que conseguiremos lidar com a situação, inclusive, porque há quadros políticos também de muito boa qualidade, que sabem lidar com o Congresso. Então, depende. Com os dois que estão na liderança das pesquisas, não sei, não.
RPD: O senhor acha, então, que esse rombo de R$ 200 bilhões é difícil de combater?
EB: Não tenho nenhuma dúvida. Se o atual presidente se reeleger, estamos mal. Mas com o Lula, também, não me animo muito, não, dado o que a Dilma fez em termos de descontrole fiscal.
RPD: Como o senhor acha possível conciliar a responsabilidade fiscal com a necessidade de responsabilidade social? Furamos ou não o teto? Como atingir a melhoria da distribuição de renda, hoje o pior problema do Brasil?
EB: Ao lado da questão social, que nos persegue desde a colônia, temos a questão de um governo inchado, que absorve mais de um terço da renda nacional e não entrega serviços. Não entrega serviços por quê? O orçamento está apropriado por interesses específicos. Por exemplo, vê lá os 4,5% do PIB que vão para incentivos fiscais. Rico não paga imposto de renda. A classe média alta está toda pejotizada. Então, temos, realmente, um problema muito sério. Já gastamos demais, gastamos mal demais, e tem essa questão de como fazer caber benefício social para valer no orçamento. A resposta óbvia é: vamos substituir o gasto que está malfeito por um gasto que seja bem feito. Há quem fale: "mas isso está muito difícil, politicamente impossível fazer isso, fazer aquilo. Imagina, se você vai mexer com esse ou aquele, não vai conseguir”. Teria que aumentar imposto, mas o imposto em geral já está muito elevado. Então, como é que faz? Fura o teto? O problema não é tanto furar o teto, mas voltar com o problema da dívida, para, lá na frente, ter inflação. E aí não resolveu nada. Tenta resolver o problema do pobre agora, furando o teto, e deixa de resolver porque aumenta a inflação lá na frente. A solução é ter uma movimentação política forte. Precisamos mobilizar a população para entender o quanto que o orçamento está apropriado por interesses específicos que não são do interesse da população em geral e como é possível – alterando as prioridades no gasto do governo e melhorando a qualidade da receita, seja com uma reforma simplificadora dos impostos indiretos, seja com uma reforma com progressividade do imposto de renda – resolver essa situação de maneira estruturalmente melhor, em vez de ficar discutindo se fura teto ou não fura teto, que é uma maneira errada de colocar o problema. Temos que entender o que é a substância da questão. O teto é apenas um instrumento para tentar forçar uma solução positiva. Se não está funcionando, vamos pensar se há algo melhor que funcione, mas tendo que levar em conta essa questão: o Brasil, além de ter um governo inchado, grande, também tem uma dívida interna enorme para um país de nossa renda. A última coisa que a gente quer é virar Argentina. Então, está difícil, precisa de muita liderança, muita qualidade política, além de qualidade na análise econômica.
RPD: Hoje, com a crise climática e a falta de energia no mundo, especialmente na Europa, a gente vê as vantagens competitivas do Brasil, um país riquíssimo em água, em qualidade de solo, ainda com uma vegetação bastante grande, e que começa, cada vez mais, a fazer contas mostrando que, se simplesmente reflorestar a área degradada e usar isso para produzir hidrogênio verde, o país será um dos principais exportadores do mundo. Essa mudança é possível no Brasil nos próximos anos, dando prioridade para a economia verde, com a qual, além de renda de exportação e de abastecimento de produtos competitivos no mercado interno, haveria também possibilidade de geração de empregos mais qualificados. Gostaria que o senhor comentasse esse tema.
EB: Integralmente de acordo. Nós estamos falando da Amazônia, não? Porque não é só a questão das vantagens do reflorestamento em si, é também a questão dos créditos de carbono que isso pode gerar para o país. Temos o compromisso de zerar a emissão em 2050 para o grosso das atividades econômicas no mundo. Isso só vai ser possível não diretamente, mas por meio da compra de créditos. E quem pode oferecer esses créditos? Somos nós, preservando e reflorestando a Amazônia. Então, tem esse ganho adicional, e podemos pensar que é algo muito importante, em uma estratégia alternativa de desenvolvimento da Amazônia, que não envolva a maluquice de tentar substituir regionalmente importações de bens industrializados. A gente fez uma Zona Franca, que, em vez de exportar, serve para substituir importação. São Paulo manda as peças, eles montam a bicicleta [na Zona Franca] e mandam de volta para São Paulo. Isso é uma coisa louca. E com o custo que isso implica para o país em termos de subsídios fiscais, temos que pensar em uma alternativa, e a alternativa é a floresta. É nessa direção que temos que trabalhar.
RPD: O Brasil, aproximadamente de cinco em cinco anos, apresenta surtos inflacionários que colocam o Banco Central em uma sinuca de bico. Tivemos isso, recentemente, no governo Dilma, na transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula e agora, de novo, vemos a inflação batendo na porta. Quais são as reformas necessárias que o Brasil precisa enfrentar para resolver de vez esse problema da inflação, visto que fizemos a reforma monetária no Plano Real, fizemos um conjunto de reformas de saneamento do sistema financeiro nos anos 90 e, mais recentemente, de forma até atrasada em relação ao mundo, demos a autonomia de que o Banco Central necessitava para poder perseguir a meta de inflação, e não conseguimos resolver o problema da inflação? O que falta?
EB: É uma pergunta difícil. Nós nunca mais voltaremos ao regime que tínhamos antes do Plano Real. E por que não? Porque os políticos aprenderam a lição. É uma lição que eles aprenderam, na verdade, não com o Real, mas com o Cruzado, porque, na ditadura, política de contenção da inflação era política de arrocho salarial. Então, a política de controle da inflação, na ditadura, tinha um mau nome, porque queriam apertar o torniquete monetário, segurar a variação de salários, e isso contribuía tanto para desemprego quanto para piora da distribuição de renda. Com certeza, políticas anti-inflacionárias eram impopulares. Agora, no Plano Cruzado, com aquela maluquice que foi o Plano Cruzado, os políticos aprenderam: "Cara, quando a gente para a inflação, a gente se reelege". Eles viram que tinha um jeito de parar a inflação que não era impopular; ao contrário, era muito popular. E aí, no Plano Real, quando a gente fez a coisa certa, de novo os políticos comprovaram: "Cara, a gente para a inflação, a gente se elege, se reelege até quatro anos depois que parou a inflação". Então, essa percepção de que o controle da inflação é eleitoralmente importante é uma lição que os políticos aprenderam. Tanto é assim que, quando a Dilma deixou chegar nos 10%, tiraram ela do poder. Agora, com a inflação de novo acima de 10%, olha o que o incumbente atual está sofrendo nas pesquisas eleitorais. E fazendo essas maluquices, a PEC “kamikaze”, para reduzir temporariamente a inflação agora, para aumentar no ano que vem. Imagina, em 1964, não havia Banco Central, era o Banco do Brasil, e lembro que, quando criaram o Banco Central, o Roberto Campos queria que fosse independente, um daqueles generais-presidente falou, quando contaram para ele: "Mas tem um Banco Central independente, general!". Ele disse: "Presidente aqui sou eu". E demitiu o Dênio Nogueira, que foi o primeiro presidente do Banco Central do Brasil. A gente melhorou muito desde então. Imagina se o PT apoiaria a independência do Banco Central em outros tempos. Há um respeito que é dado por essa consciência de que, se você mexer, se você brincar muito e deixar a inflação subir, você está fora do governo. Por isso, acho, pelo menos esse problema da hiperinflação, nós não vamos mais ter. Agora, tem o problema de que seguimos com uma alta inflação. No Brasil, hoje, estamos com 12% de inflação, os Estados Unidos estão com 9%. O que são os 3% adicionais? O nome é Bolsonaro, são as maluquices dele que, com as suas ameaças institucionais, faz com que o câmbio se deteriore e provoca uma inflação adicional àquela que o resto do mundo experimenta em face das mesmas circunstâncias. Mas o Banco Central brasileiro não está fora da curva do jeito que o banco americano está, eles vão ter que subir muito os juros lá. O desemprego lá está em 3,5%, a pressão inflacionária continua muito forte, e eles vão ter que subir mais os juros. Nós, aqui, não. O Banco Central já pode parar onde está. Se não fossem as maluquices do Bolsonaro, a gente já teria resolvido o problema, com uma trajetória de convergência muito mais forte do que aquela que podemos projetar hoje. Enfim, há também problemas técnicos e essas questões que você menciona são relevantes na discussão econômica.
RPD: Os bancos centrais, de forma geral, não só no Brasil, nos últimos 30 anos, como em boa parte dos países, passaram a buscar metas de inflação, a atuar como 'suavizadores' do ciclo econômico, a fazer política monetária, em grande medida, olhando para preço dos ativos nos mercados financeiros e de capital. São também os gestores da dívida pública dos governos, das dívidas soberanas e têm, talvez, poucos instrumentos. Os bancos centrais não estão assumindo responsabilidades demais com instrumentos de menos? O que o senhor pensa a respeito disso?
EB: Essa questão de ter instrumentos de menos, eu não sei, porque, em última análise, o pessoal que está no Banco Central não foi eleito. Estão lá para fazer um trabalho técnico. Quantos instrumentos você quer colocar na mão de quem não foi eleito? Acho que precisa ter cuidado. Nós, aqui no Brasil, temos o Conselho Monetário Nacional, o popular Cemenê, que é uma coisa boa. Podemos até discutir seu formato, suas funções, mas os ministros que o compõem respondem diretamente ao presidente da República e não têm um mandato fixo como o presidente do Banco Central. Então, são representantes políticos que estão ali respondendo à condução política. A fixação das metas, por exemplo, é muito bom que seja o Cemenê que faça e não o Banco Central. O Banco Central tem que reportar ao Cemenê quando não cumpre as metas. Esse arranjo está legal. No Brasil, o Banco Central é responsável pelas reservas internacionais também. Está funcionando, mas teve uma época que se queria vender reserva, e aí a questão é saber quem é o responsável pela reserva. Porque as reservas são do Tesouro, mas quem determina a política relacionada a elas é o Banco Central. São questões importantes, há muito tempo discutidas. Nos Estados Unidos, essa questão está de novo em debate, o pessoal achando que o Banco Central lá está sendo muito subserviente ao Executivo, com toda a independência formal que tem. Essa questão vai ficar conosco, não vai embora, e temos que ir aperfeiçoando, pouco a pouco, tateando para ver as melhores soluções, consistentes com a estabilidade de preços e a retomada do crescimento. Agora, é verdade, se o Banco Central estiver preocupado com a economia verde, com distribuição de renda, nós vamos entrar por um caminho complicado. O Banco Central, desde a presidência de Ilan Goldfajn, também está fazendo um trabalho maravilhoso, que é de regulação financeira progressista. O Pix é uma invenção extraordinária e de grande potencial para trazer a população para o sistema bancário e desfrutar dele, parar de pagar taxas sobre serviços que não têm custo, porque o Banco Central fez a centralização contra os interesses dos bancos. O Banco Central está nessa questão da liberdade bancária, de você ser o possuidor do seu próprio nível de crédito, que você possa carregar seu crédito de um banco para outro. Nós sabemos que temos aqui um sistema bancário oligopolizado. O Banco Central está dando muita corda para as fintechs para reduzir o poder oligopolístico dos bancos. Tudo isso, esse papel de regulação bancária progressista, é algo que se agrega às funções do Banco Central, mas é algo que precisava e precisa ser agregado.
RPD: Como é que o Brasil pode e que tipos de políticas seriam mais efetivas para sair dessa situação de produtividade estagnada, impedindo nossa saída da armadilha da renda média?
EB: Essa é uma questão central do país hoje. Diria o seguinte, para simplificar: produtividade depende de quatro coisas. A primeira é tecnologia. Você tem que ter acesso à tecnologia mais moderna que existe no mundo, porque você tem que trabalhar na fronteira de produção e com os insumos mais modernos que essa tecnologia oferece. A segunda é economia de escala. Você só consegue baratear produtos e aumentar a produtividade se tiver escala de produção. O terceiro ponto é especialização. Se você é um supermercado, tudo bem, mas, se for um supermercado produzindo porção de pecinhas, uma porção de coisinhas diferentes, não. Você tem que se especializar, isso é Adam Smith e David Ricardo. E o quarto ponto é a concorrência. Isso o Schumpeter já nos dizia. O grande propulsor do crescimento é a inovação, e inovação é concorrência, é você estar permanentemente desafiado em relação aos seus concorrentes, efetivos ou potenciais, para sempre estar aprimorando seu desempenho. Como é que você consegue essas quatro coisas? Com abertura. Tem que participar do comércio internacional. Você não pode ficar como a nossa indústria, olhando para o próprio umbigo e desfrutando de uma situação oligopolística de exploração do mercado interno, que é um mercado relativamente grande, mas, hoje em dia, qual é o PIB brasileiro? 2% do PIB mundial. Ou seja, 98% do mercado mundial está do lado de fora. Então, essa questão é fundamental. O que falei antes, dos interesses que se refletem no orçamento, aqui são os interesses que se refletem na política econômica em geral, que é esse fechamento ao comércio exterior. Porque os interesses dessas entidades que se beneficiam da proteção desbeneficiam o país, impedem o crescimento da produtividade e são muito fortes.
RPD: Uma questão difícil de se encarar, realmente, porque essa situação envolve o que vemos desde o fim da ditadura, que continua presente, os interesses particularistas e corporativos, não?
EB: Sim, mas penso no Plano Real, sabe? Por que deu certo apesar dos interesses a enfrentar? Porque havia boas ideias e muita experiência. Vou marcar aqui o livro do Mario Henrique Simonsen, com o título Inflação: gradualismo X tratamento de choque. Foi um marco para a mudança do pensamento econômico a respeito de como lidar com a inflação no país. Foi o primeiro. Depois, nos reuníamos lá na PUC, desde 1980, pensando sobre o problema. Então, tinha muito pensamento próprio, fundamentado, sobre a questão. Isso estava lá. A outra questão era experiência, porque, quando fizemos o Plano Cruzado, tínhamos experiência nenhuma, éramos um bando de recém-saídos da ditadura, achando que tínhamos que nos livrar do arrocho salarial, que congelamento estava tudo bem, enfim, que não precisava equilibrar o orçamento, que política monetária podia ser passiva. A gente não tinha essa experiência, e foi dura aquela experiência, aqueles oito anos, desde o Plano Cruzado, até que conseguimos fazer as coisas certas, passando por aquela maluquice que foi o Plano Collor.
RPD: Diante das ameaças às eleições, o senhor acredita que as reações da sociedade, que se revelam em manifestos da Faculdade de Direito da USP, da Fiesp e de entidades da sociedade civil, de que o senhor tem participado, seriam bastantes para dar um freio de arrumação nessas ameaças e conduzir o processo até outubro para que as eleições sejam realizadas de forma regular?
EB: O preço da liberdade é a eterna vigilância e, realmente, acho que a liberdade agora está sob ameaça. Nesse sentido, não basta apenas a vigilância. Eu assinei o manifesto, foi uma coisa maravilhosa, e ultrapassou um milhão de assinaturas. Estamos todos dispostos a não somente assinar o manifesto, mas a ir para a rua em defesa das instituições, da democracia e, principalmente, dos órgãos superiores de Justiça, como o Tribunal Superior Eleitoral. É isso que precisamos fazer. É uma coisa importante, que a sociedade civil se manifeste dessa forma que vem se manifestando, o que muito me alegra, mas também sabendo que, quando você olha a situação agora, não se compara com 1964, sabe? Em 1964, os Estados Unidos apoiavam o golpe, na verdade, estavam por trás do golpe, e agora já declararam que não apoiam golpe. Não vai ter golpe principalmente porque a população vai ficar contra. Então, isso vai fazer essa gente pensar duas vezes.
Sobre o entrevistado

Edmar Bacha é sócio fundador e membro do conselho diretor do Instituto de Estudos em Política Econômica/Casa das Garças. Membro das Academias Brasileiras de Ciências e de Letras. Em 1993/94, foi membro da equipe econômica do governo, responsável pelo Plano Real. Foi também presidente do BNDES, do IBGE e da Anbid (atual Anbima). Entre 1996 e 2010, foi consultor sênior do Banco Itaú BBA. Foi professor de economia na PUC-Rio e em outras universidades brasileiras e americanas. Tem diversos livros e artigos publicados sobre economia brasileira e latino-americana e sobre a economia internacional. É bacharel em economia pela UFMG e Ph.D. em economia pela Universidade de Yale, EUA.
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de agosto de 2022 (46ª edição), editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores. Por isso, não refletem, necessariamente, as opiniões da publicação.
Equipe de entrevista
André Eduardo é consultor legislativo do Senado Federal, na área de economia. Mestre em economia pela Universidade de Brasília (UnB).
Arlindo Fernandes de Oliveira é consultor legislativo do Senado Federal e especialista em direito constitucional e eleitoral.
Benito Salomão é economista chefe Gladius Research e doutor em economia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
Benjamin Sicsú é presidente do Conselho de Administração da Fundação Amazônia Sustentável e vice-presidente de novos negócios da Samsung para a América Latina, por 17 anos.
Leia também
Revista online | Representatividade negra na política
Revista online | Por que as políticas públicas de livro e leitura são fundamentais
Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online
Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online