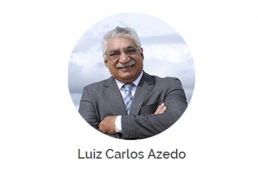Dilma
Alberto Aggio: Não haverá saída fácil
Quem argumenta que a crise que assola o País tem no governo Temer sua principal causa parece ter vivido fora do Brasil por, pelo menos, uns dez anos
Quem argumenta que a crise que assola o País tem no governo Temer sua principal causa parece ter vivido fora do Brasil por, pelo menos, uns dez anos. Por alguma razão, ideológica ou incógnita, desconhece o que se passou aqui. A profundidade da crise econômica – com o desemprego beirando a casa de duas dezenas de milhões, as finanças dos Estados em calamidade pública e a insegurança generalizada – tem nos levado, perigosamente, muito próximos à situação de insolvência vivida pela Grécia em passado recente. Este desastre, considerado o maior da nossa História, não foi obra de um governo que, fora a interinidade, alcança pouco mais de quatro meses.
A crise deriva diretamente das medidas adotadas pelos governos do PT, especialmente o de Dilma Rousseff. Quando o mundo já prognosticava que o modelo nacional-desenvolvimentista, com o Estado centralizando o investimento e promovendo os “campeões nacionais”, era um projeto ultrapassado ante os ditames da globalização e nefasto a um desenvolvimento mais equilibrado e competitivo, a então presidente Dilma adotou precisamente essa opção, provocando desequilíbrio financeiro, recessão e desemprego, com toda a sua carga de desorganização da economia.
Os efeitos da crise econômica e as revelações de um sistema mafioso de poder que promoveu no Estado e nas empresas públicas um nível de corrupção inaudito encheram de indignação uma sociedade cada vez mais informada. E ela desceu às ruas. O projeto de Dilma e do PT tornou-se, então, insustentável e seu principal aliado, o PMDB de Michel Temer – que havia ajudado (e muito) a reeleger Dilma –, foi se distanciando do núcleo de poder (que, na verdade, pouco frequentou) e resolveu abandonar o governo. Não é verdade que Temer não tenha a legitimidade do voto. Ele foi eleito com Dilma e com o voto dos petistas. Talvez se possa dizer, ao contrário, que foi o PMDB que reelegeu Dilma.
Após o impeachment e a assunção definitiva de Michel Temer, o País pôde começar a se reorganizar. Mas os déficits e as disfunções acumuladas revelaram-se de tal monta que se tornou evidente que a travessia até bom porto, com a recuperação do crescimento e o estabelecimento de um clima de diálogo entre as forças políticas, seria cheia de obstáculos e necessitaria de paciência e sobriedade.
Declaradamente, o de Temer é um governo de transição cujo objetivo central é rearranjar o País para chegar de maneira mais equilibrada a 2018. É a tal travessia, pinguela, corda bamba, seja lá o nome que se queira dar. Para isso o apoio de uma base parlamentar é essencial e configura seu principal ativo político.
Mas a dimensão política não gira em torno de si, sem substância e projetos para superar a crise. É imperativo realizar reformas e algumas delas estão sendo aprovadas pelo Congresso, com mudanças maiores ou menores. Contudo esse andamento não é pacífico nem portador de estabilidade absoluta. Os mais afoitos diagnosticarão crises terminais a cada turbulência e não faltará quem faça uma exumação da “Nova República” com o intuito de defender o que não defendeu na ultrapassagem do regime civil-militar para uma nova ordem política democrática, lá pelos idos de 1986/88.
É notório, todavia, que o governo Temer não conseguiu extirpar a crise ética. A composição do pessoal governante do Executivo vem apresentando diversos problemas em razão da trajetória anterior do seu “núcleo duro”, quase todo ele comprometido com problemas de corrupção herdados do período petista. Ministros foram substituídos, evidenciando, em alguns casos, que o problema é mais grave e profundo: trata-se da resiliência do velho patrimonialismo, que teima em solapar a res publica, razão pela qual multidões saíram às ruas desde 2013.
Não à toa, em 2016 as manifestações massivas de rua elegeram esse como seu alvo preferencial. As que visaram a atacar aspectos das reformas que o governo está pondo em marcha foram pouco massivas e, regra geral, descambaram para a violência. O que é negativo para o debate político em torno das reformas, que não têm consenso assegurado nem dentro da base governista.
Mas há uma mudança que merece atenção. Embora a Lava Jato permaneça como fator ineliminável da conjuntura política e ação exemplar de intransigência republicana que deve ser saudada, a imperiosidade das reformas tornou mais evidente para a opinião pública a necessidade de se repensar um projeto para o País. Em suma, que o País se encontra numa encruzilhada histórica e há necessidade de um aggiornamento democrático do capitalismo brasileiro, alterando os fundamentos da relação entre Estado e sociedade. Nesse cenário desafiador, só a política poderá ajudar-nos a suplantar dificuldades, preconceitos e vazios diante de um País em ruínas e que vive sob ameaça de crispação, com uma esquerda “desarmada” e perdida entre a inércia do corporativismo e um maximalismo retórico e anacrônico.
As saídas não serão fáceis e não estarão exclusivamente nas ações da Lava Jato. O imperativo das reformas atualizou a conjuntura e não se poderá fugir dele, sob pena de adiarmos a resolução dos problemas do País e reproduzirmos um sistema político sabidamente em colapso. Pode ser que as reformas não sigam nem a velocidade nem a organicidade desejada, mas parece não haver outro caminho.
2017 não se anuncia como um ano com turbulências mais débeis do que foi 2016. Por ora não se divisa nem sarneyzação nem dilmização de Temer. A consigna “diretas já” não é mais que uma retórica preguiçosa e inútil, que não enfrenta os desafios que o País tem diante de si. A partir de uma posição de intransigência democrática e republicana, a Nação precisa se unir e realizar essa travessia, procurando construir, ao mesmo tempo, novos horizontes para os brasileiros.
Alberto Aggio é historiador e professor titular da UNESP
fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,nao-havera-saida-facil,10000097018
Roberto Freire: Por um Brasil parlamentarista
Com a recente instalação de uma comissão especial na Câmara dos Deputados, a reforma política voltou à pauta do Congresso Nacional. Após o desfecho do grave impasse político enfrentado pelo país, com o processo democrático e constitucional do impeachment que levou ao fim do governo de Dilma Rousseff, este é um bom momento para que os parlamentares se debrucem sobre mudanças necessárias que tornem o sistema político-eleitoral brasileiro mais avançado e dinâmico. A principal delas é justamente aquela que permite a superação de crises agudas sem traumas institucionais: o parlamentarismo.
No ano passado, participei de algumas sessões e audiências públicas em uma outra comissão especial da Câmara que analisava propostas para a reforma política. Lamentavelmente, na ocasião, houve pouquíssimos avanços e quase nenhuma alteração substancial – apenas algumas modificações pontuais ou propostas descabidas que configuravam uma verdadeira “contrarreforma”.
Em minhas intervenções, defendi que fosse enviada ao plenário a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 20/1995, de autoria do então deputado Eduardo Jorge, que institui o parlamentarismo no Brasil. O texto está pronto para ser votado desde 2001 e, caso aprovado, poderia entrar em vigor talvez já para 2018, após o encerramento do mandato do presidente Michel Temer. No regime parlamentarista, quanto maior a crise, mais radical é a solução.
Mesmo no processo deflagrado contra a ex-presidente da República, o impedimento votado pela maioria acachapante dos deputados e senadores ganhou contornos do “voto de confiança” característico do parlamentarismo. Só que, neste sistema, a queda do gabinete se dá sem que haja turbulência política ou institucional. Quando não é possível formar uma nova maioria, o Congresso é dissolvido e novas eleições são convocadas, o que proporciona uma participação maior da cidadania.
Outro ponto fundamental que a comissão deveria tratar é o acesso das legendas aos recursos do Fundo Partidário e ao tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. O maior problema da democracia brasileira não é a quantidade de partidos em funcionamento. Partido político é direito da cidadania e não deve ser tutelado, regulamentado ou restringido pelo Estado. Impedir a criação de novas agremiações, além de antidemocrático e inconstitucional, não passa de uma solução fácil e equivocada para um problema complexo.
O que se deve fazer para corrigir graves distorções é limitar o acesso indiscriminado aos recursos do Fundo e ao tempo de TV. Diante da enorme facilidade para que os partidos tenham acesso a esse montante, forma-se um amplo mercado de negociações espúrias à custa do dinheiro do contribuinte. De certa forma, é algo semelhante ao que ocorre no sindicalismo, dependente dos recursos provenientes das contribuições sindicais compulsórias, e também com as igrejas e templos religiosos, que muitas vezes se transformam em um negócio promíscuo em função da imunidade tributária garantida pela legislação.
Ao invés de restringir a criação de novos partidos, nossa proposta é de que apenas as legendas que alcançarem uma representação mínima na Câmara dos Deputados tenham acesso aos recursos do Fundo e à TV. Seria criada, então, uma espécie de cláusula de barreira, mas não aos mandatos. Os partidos que não obtivessem o índice mínimo funcionariam normalmente, assim como o parlamentar eleito exerceria o seu mandato, mas essas legendas ficariam sem a verba partidária e o tempo de propaganda televisiva.
A reforma política de que o Brasil precisa não será feita a partir de propostas paliativas ou remendos inócuos que nada resolvem. A essência do atual modelo precisa ser modificada, e a principal mudança será a instituição de um regime mais dinâmico, flexível e democrático, com partidos fortes, não tutelados, e uma sociedade mais atuante e participativa. O parlamentarismo é o primeiro passo, e também o mais importante, de uma longa caminhada. (Diário do Poder – 17/11/2016)
Roberto Freire é deputado federal por São Paulo e presidente nacional do PPS
Fonte: pps.org.br
Roberto Freire: Sem onda conservadora
Após verem sepultada a narrativa de que Dilma Rousseff foi apeada do Planalto por meio de um “golpe”, o PT e seus satélites tentam justificar a acachapante derrota nas eleições municipais com uma outra tese igualmente desprovida de qualquer sentido. A palavra de ordem entoada pelo núcleo duro do lulopetismo é de que o Brasil teria sido tomado, nas urnas, por uma “onda conservadora”.
Na realidade, o eleitorado rejeitou o projeto de poder representado pelo PT e pelos governos de Lula e Dilma, que nos levaram a uma das maiores crises econômicas de nossa história. Os maiores vitoriosos nas disputas municipais foram os partidos que votaram pelo impeachment e hoje compõem a base de sustentação do presidente Michel Temer — e aqui cabe ressaltar o êxito das legendas que integram o campo da social-democracia e dos partidos da esquerda democrática brasileira, como o PSB, o PPS e o PV.
A exceção talvez seja o PDT, partido de esquerda e aliado dos governos petistas, que também experimentou um crescimento eleitoral. Mais uma prova de que a “onda conservadora” é uma narrativa enganosa. A avaliação precipitada sobre os resultados eleitorais levou um jornalista a cometer a estultice de dizer que o PSDB é um partido de “ultradireita”.
Trata-se de um raciocínio equivocado, segundo o qual todos aqueles que se opõem ao PT são direitistas e, alguns, até traidores. Além de interditar o debate, tal postura é de uma desonestidade intelectual atroz. O PSDB, afinal, tem uma visão predominantemente social-democrata – e assim seria rotulado em qualquer país do mundo democrático. No Rio, alguns apregoam que a vitória de Marcelo Crivella seria um indicativo de que a “onda conservadora” veio para ficar.
É evidente que não se pode tomar um caso isolado como um retrato do que ocorreu por todo o Brasil. A cidade sentiu falta de alternativas políticas mais amplas e teve de escolher entre duas candidaturas fundamentalistas, uma de cunho religioso e outra politicamente dogmática. Uma de viés mais conservador e outra também sectária, de uma extrema- esquerda que muitas vezes serviu como linha auxiliar do lulopetismo.
Basta ver o comportamento do candidato do PSOL que, quando confirmado no segundo turno, excluiu a possibilidade de diálogo com as correntes políticas que considerava “golpistas”. Outra falácia é de que a “não política” teria sido a marca dessas eleições. É certo que houve uma forte rejeição aos políticos tradicionais, mas não à política em si.
Em São Paulo, João Doria se apresentou como um empresário, mas em nenhum momento deixou de destacar que é filho de um político cassado pelo golpe militar de 1964. Assim como a tese do “golpe” havia sido enterrada, a narrativa da “onda conservadora” foi desmentida pelo resultado das eleições.
Basta analisar o desempenho das forças políticas vitoriosas. Mesmo que algumas tenham contradições internas, nenhuma delas se confunde com a direita nacional. Todas estão no campo democrático e, em especial, honrando a esquerda democrática brasileira. (O Globo – 10/11/2016)
Roberto Freire é presidente nacional do PPS
Fonte: pps.org.br
Werneck Vianna: Um pouco de quixotismo não faz mal a ninguém
Afinal, em todos os quadrantes, hoje não se cultua o Cavaleiro da Triste Figura?
Não dá para recusar: por mais desalentadora que tenha sido essa eleição com tantas abstenções, votos em branco ou nulos, ela estabeleceu um marco divisório na política brasileira. Não certamente pelo advento de novas narrativas que trouxessem alento para uma sociedade incerta dos seus caminhos quanto a seu futuro, menos ainda pelo surgimento de novas identidades coletivas ou de personagens que semeassem palavras de esperança, que nos faltaram. Mas, se ela não nos traz o novo, enterra um passado que nos tem pesado como chumbo, nesse longo ciclo errático que vai de Vargas a Lula-Dilma, em que temos sido prisioneiros do processo de modernização por cima que nos trouxe ao mundo com seu culto à estatolatria – do Império de um visconde do Uruguai à República com a linhagem que se inicia com Oliveira Vianna.
Se agora tateamos com o olhar perdido na longínqua sucessão presidencial de 2018, não foi por falta de avisos. Tanto os pequenos abalos que passaram a agitar a superfície da cena política quanto o grande movimento sísmico das jornadas de junho de 2013 não nos serviram para uma incontornável mudança de rumos. Fizeram-se ouvidos moucos a eles, com a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição no ano seguinte àquelas jornadas de multidões em protesto contra a política tal qual a praticamos, sustentando em campanha eleitoral – em que prometera “fazer o diabo” para vencer – os mesmos rumos malsinados do seu primeiro governo.
Perdidos em agitações estéreis, não reparamos no movimento da Terra que traz consigo a mudança das estações, metáfora famosa de Joaquim Nabuco em Minha Formação. Agora não adianta chorar o leite derramado. Está aí uma sociedade desencontrada da política, uma juventude que começa a descobrir o caminho das ruas pelo mapa de ideias de antanho, sem guias provados, os partidos em frangalhos, com as grandes corporações de Estado atuando sem freios, chegando a ameaçar o espaço do que deve ser reserva da soberania popular, às vezes mal escondendo o interesse próprio.
Essa é uma hora dos partidos e dos políticos, com o que ainda nos sobra deles, de iniciar um processo autocrítico, que para ser verdadeiro reclama a urgência da reforma das nossas instituições políticas, com a adoção de uma cláusula de barreira à representação parlamentar e o fim das coligações eleitorais nas eleições proporcionais, protegendo-se as minorias com os recursos de uma engenharia institucional adequada. Pois é da experiência consagrada que as democracias não tenham ainda encontrado solução melhor que a da representação política, sem prejuízo de que prosperem as formas de democracia direta, presença embrionária na Carta de 1988 que cumpre desenvolver. Sem ela não há salvadores da pátria que nos salvem.
Também é hora dos intelectuais, cuja intervenção em outros momentos difíceis foi seminal para o descortino de possibilidades que viessem a animar a imaginação dos brasileiros na construção do País, bastando lembrar, em rol sumaríssimo, o papel antes desempenhado por Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Mário de Andrade, cujas obras exemplares inovaram o repertório de nossas formas de agir e de pensar. Tanto a institucionalização da vida intelectual como a crescente especialização de suas atividades – caso extremo nas universidades –, processo que, em linhas gerais, se deve reconhecer como benfazejo, mas tem implicado um apartamento dos intelectuais da vida pública, contrariando uma larga tradição em que se comportavam, desde as lutas pelo abolicionismo, como um dos seus relevantes protagonistas.
Sintoma disso, entre outros, está na atual distância entre eles e os partidos, a quem caberia fecundar com ideias e imaginação. À falta dessa relação vital, estão cada vez mais confinados às páginas de opinião dos grandes jornais e das redes da internet, o que, se importa, é pouco para o que se pode esperar da sua contribuição.
Nesse cenário, em que medram as agitações estéreis de que falava Nabuco, como se viu ao longo do processo recente de impeachment, pode caber espaço para a menção a um manifesto de intelectuais brasileiros em favor do que designam como a ética do convivialismo. Convivialismo, na conceituação do seu principal inspirador, o sociólogo francês Alain Caillé, professor emérito da Universidade de Paris-Nanterre, “é o nome dado a tudo o que nas doutrinas existentes, laicas ou religiosas, concorre para a busca de princípios que permitam aos seres humanos ao mesmo tempo rivalizar e cooperar, na plena consciência da finitude dos recursos naturais e na preocupação partilhada quanto aos cuidados com o mundo” (Manifesto Convivialista – Declaração de Interdependência, São Paulo, Annablume, 2016).
Seus autores, secundados por apoiadores de nomes notáveis da ciência social contemporânea, como Edgar Morin e Chantal Mouffe, e dos brasileiros Gabriel Cohn e Luís Roberto Cardoso de Oliveira, entre muitos outros, esclarecem que não se trata de uma doutrina com a pretensão de se sobrepor a outras, mas sim de reter, em oposição à financeirização do mundo em curso, “o que há de mais precioso” em cada uma delas. Frédéric Vandenberghe, sociólogo do Iesp, principal animador do movimento na universidade brasileira, define-o como uma ideologia que visaria a incorporar o melhor do liberalismo, do socialismo, do comunismo, do anarquismo e do feminismo numa visão de “boa vida com os outros em instituições justas”.
Embora bem ancorados no legado de Marcel Mauss, Karl Polanyi e Antonio Gramsci, os que subscrevem o documento e seus apoiadores, que não contam com forças próprias, salvo as ético-morais, vão precisar de muita energia para se livrar da pecha de quixotismo e levar suas ideias à frente. Mas, em todos os quadrantes, hoje não se cultua o Cavaleiro da Triste Figura?
(*) Luiz Werneck Vianna é Sociólogo PUC-RIO
Fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,um-pouco-de-quixotismo-nao-faz-mal-a-ninguem,10000086676
Luiz Carlos Azedo: Os laços da perdição
Pela primeira vez, a esquerda no poder promoveu uma política de concentração e internacionalização de capital nunca vista, com os chamados “campeões nacionais”
A discussão sobre capitalismo de laços no Brasil não é nenhuma novidade, assim como a tentativa de reinventar o capitalismo de Estado. Por R$ 100 é possível comprar pela internet dois livros de Sérgio Lazzarini sobre o assunto. Professor do Insper, o economista é um estudioso das imbricadas relações empresa-Estado no Brasil e do modelo político adotado pelo PT e que entrou em colapso com o escândalo da Petrobras, uma espécie de fusão das operações ilícitas envolvendo empresários, gestores públicos e políticos investigados pela Operação Lava-Jato com os mecanismos de intervenção do governo na economia, durante os mandatos de Lula e de Dilma.
Não se pode atribuir ao PT tudo o que aconteceu, até porque as estruturas do Estado e do capitalismo brasileiros foram historicamente constituídas. O problema é que, ao assumir o poder, o partido foi abduzido pelos laços perversos do sistema, ao conquistar a chave do cofre e assumir as redes da política. O transformismo petista, porém, é mascarado pela retórica neopopulista de amplos setores da esquerda, na qual o nacional desenvolvimentismo ainda serve de biombo ideológico. Encaixa-se como luva na velha doutrina dos movimentos de libertação nacional durante a guerra fria: aliança com a burguesia nacional contra o imperialismo, num esquema em que a emergência da China na economia globalizada e o jogo duro da Rússia de Putin contra os Estados Unidos na Ucrânia e no Oriente Médio substituíram a antiga União Soviética e os ex-aliados da Cortina de Ferro. Os sindicatos e a esquerda europeia se encarregaram de dar ressonância internacional ao projeto.
Lazzarini notou que, nos processos de licitação, formavam-se consórcios com atores conhecidos, com a participação do governo e seus agentes, mesmo depois do período de privatizações. O Estado já não tinha controle total sobre grandes empresas, com exceção das Petrobras; havia diluído sua participação em algumas empresas (privatizadas ou não) para atuar em uma rede muito maior de organizações. Com isso, ao lado da ofertas públicas de ações (IPOs – Initial Public Offerings) nas empresas estatais a novos investidores nacionais e internacionais, o Estado permanecia forte e presente em muitos setores.
O Estado não se afastou de atividades econômicas por meio da privatização e da abertura econômica. Pelo contrário, adotou um modelo de maior capilaridade, aumentando o número de empresas que contam com a participação do BNDES e dos fundos de pensão de estatais, que têm laços políticos com o governo. E essa ramificação do Estado é tão ou talvez mais poderosa do que o modelo anterior, concentrado em grandes empresas. Além disso, os mesmos proprietários e grupos, com laços cruzados, estavam em muitas empresas. Com isso, grupos privilegiados pelo governo, em troca de propina, passaram a ter uma grande presença transversal na economia.
Pela primeira vez, a esquerda no poder promoveu uma política de concentração e internacionalização de capital nunca vista, os chamados “campeões nacionais”, cuja consequência foi a criação de um ambiente econômico degenerado e pouco competitivo. Ao contrário do que apregoa o discurso de defesa da “engenharia nacional” e da reserva de mercado para a inovação e tecnologia nacionais, quando as empreiteiras formaram o cartel que controlava todos os grandes projetos do governo, da construção de plataformas de petróleo a estádios de futebol, puxaram para baixo a competitividade, a inovação, a qualidade e a produtividade no país.
Caso de polícia
As conexões internacionais do modelo são parte de um esquema de reprodução do projeto de poder, no qual o BNDES entrava como fonte financiadora. A maioria dos empréstimos camaradas tem prazo em torno de 12 a 15 anos, embora alguns contratos com Cuba destoem por terem até 25 anos. As taxas de juros estão entre 3% e 6% ao ano, em dólar. O financiamento desses contratos se dá via Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que recebe, nesses casos, remuneração atrelada a taxas internacionais. Mas essas são muito mais baixas do que o custo que o próprio governo consegue captar, aqui ou no exterior. E o próprio Tesouro tem coberto rombos no FAT.
Pois bem, quando um dos maiores fornecedores da Petrobras, com contratos no valor de R$ 25 bilhões, o estaleiro Keppel Fels, reconhece na Bolsa de Cingapura, onde fica a sua sede, que os pagamentos feitos a seu representante no Brasil “podem ser suspeitos”, desnuda os laços mais perversos e conexões internacionais desse modelo, que virou caso de polícia. Seu representante no Brasil é o lobista e engenheiro Zwi Skornicki, preso pela Operação Lava-Jato, que já disse que pagou US$ 4,5 milhões (R$ 14,4 milhões, em valores atuais) ao marqueteiro João Santana, que cuidou das campanhas de Lula (2006) e de Dilma Rousseff (2010 e 2014). A mulher e sócia de Santana, Mônica Moura, confessou que recebeu os US$ 4,5 milhões numa conta na Suíça, uma dívida da campanha de 2010. Os ataques ao juiz federal Sérgio Moro, de Curitiba, não salvarão o modelo fracassado. A crise fiscal do país exige do Estado e da sociedade uma mudança de paradigma.
Fonte: pps.org.br
Roberto Freire: A hora da eleição municipal
Com o impeachment de Dilma Rousseff e a cassação do mandato de Eduardo Cunha, o Brasil segue caminhando em uma marcha da sensatez que vem pautando a política nacional nos últimos meses. É certo que o país será melhor sem uma presidente da República que cometeu crimes de responsabilidade ou um presidente da Câmara que mentiu em depoimento a uma comissão parlamentar de inquérito, além de ter se envolvido em uma série de esquemas de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. Mas é preciso ter a consciência de que só evitaremos novas Dilmas e Cunhas se elegermos representantes sérios, competentes e comprometidos com a causa pública no próximo pleito.
Às vésperas de mais uma eleição municipal, programada para o dia 2 de outubro, os brasileiros se voltam para aquele que é o momento mais importante e que definirá os destinos das cidades – e do país – pelos próximos quatro anos. À primeira vista, alguns podem até imaginar que Dilma e Cunha fazem parte de uma realidade distante e que pouco tem a ver com o voto local. Entretanto, talvez tenha sido justamente por relegar o momento eleitoral a segundo plano que hoje a sociedade brasileira assiste, incrédula, a uma profusão de irregularidades e escândalos como os que marcaram os 13 anos de governos lulopetistas. O Brasil só mudará se essa mudança começar nas cidades, com a eleição de prefeitos e vereadores dignos do nosso voto e da nossa confiança.
As eleições de outubro tem uma dimensão e uma importância ainda maiores nesta quadra delicada pela qual passa o país. O poder local é fundamental e deve ser fortalecido. Afinal, não vivemos nos Estados ou na União, mas nos bairros, nos municípios, nas cidades, e é nelas que devemos exercer, primordialmente, nossos direitos e deveres como cidadãos. Entre eles, está o compromisso do voto – e o objetivo comum a todos deve ser escolher os melhores representantes para os Executivos e Legislativos municipais.
Em meio à maior recessão da história brasileira, gerada pela incompetência e irresponsabilidade de Lula e Dilma na condução da economia, não será fácil para o Brasil se recuperar da crise e retomar o caminho do desenvolvimento. O governo de transição do presidente Michel Temer tem uma árdua tarefa junto ao Congresso Nacional para a aprovação de reformas inadiáveis e medidas necessárias do ajuste fiscal, mas é preponderante que encontre no comando das Prefeituras das cidades brasileiras administradores igualmente capazes e responsáveis para levar adiante essa tarefa de reconstrução nacional. Seja nos pequenos, médios ou grandes municípios, a atuação de gestores públicos conscientes do momento enfrentado pelo país será determinante para superarmos a terrível herança deixada pelo PT.
Apesar de terem sido importantes para o Brasil e mostrado a força de nossas instituições democráticas, tanto o impeachment de Dilma quanto a cassação de Cunha foram medidas extremas que tiveram de ser tomadas para punir quem cometeu ilegalidades – mas, evidentemente, não podem ser motivo de júbilo ou comemoração por quem quer que seja. O ideal é que vivêssemos em um país no qual presidentes da Câmara ou da República se comportassem de forma digna no exercício do cargo e concluíssem seus mandatos normalmente. Se, por um lado, a cassação de ambos demonstra o vigor da democracia brasileira, por outro também escancara o quanto ainda estamos distantes do país que queremos construir.
A jornada é longa, o caminho é tortuoso, mas o processo é inevitável. Não há outra possibilidade de desenvolvimento para o Brasil além do voto consciente e da fiscalização permanente dos representantes que elegemos. As eleições municipais que se aproximam podem significar o primeiro capítulo de uma nova página que os brasileiros começarão a escrever. O tamanho do nosso compromisso e a responsabilidade com a qual exerceremos nosso direito inalienável ao voto serão proporcionais às chances de transformarmos as cidades e o país. O futuro começa na urna. (Diário do Poder – 15/09/2016)
Roberto Freire é deputado federal por São Paulo e presidente nacional do PPS
Fonte: pps.org.br
Democracia é isso! – Editorial
A democracia brasileira saiu fortalecida e consolidada do longo e legítimo processo que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, apesar do imbróglio político e jurídico criado com a manobra de fragmentação do artigo 52 da Constituição. Todo o contrário do apelo retórico, descabido e exagerado da ex-presidente na sua defesa no Senado anunciando a “morte da democracia” caso fosse aprovado o seu impedimento. A democracia sairia fortalecida independente mesmo do resultado e totalmente ao contrário da insistente e impertinente narrativa de golpe. Depois de nove meses de análise, discussão, amplo direito de defesa, mobilizações de rua, várias votações nas duas casas do Congresso e que culminou com uma votação expressiva no Senado (bem mais que os 2/3 requeridos), Dilma e o seu partido já não podiam questionar o processo e o rito definido pelo Supremo Tribunal Federal e confirmando as regras constitucionais. A própria presidente afastada legitimou o processo quando se apresentou no Senado para a sua defesa. Mas, afirmam (ela, seu advogado de defesa e seus aliados) não houve crime de responsabilidade. Mas, a quem cabe julgar se ela cometeu ou não um crime de responsabilidade? Basta que ela se declare inocente e que seus advogados argumentem que não houve crime? A Constituição brasileira define que cabe ao Senado Federal, depois de todos os procedimentos democráticos, julgar se houve ou não crime de responsabilidade. E por mais de 76% dos senadores, o Senado julgou que houve sim crime de responsabilidade. Ah! O Senado não é legítimo? Como não? Foram eleitos da mesma forma que a ex-presidente e têm entre as suas missões o controle do executivo incluindo o afastamento da presidente quando considerem que ela cometeu crime de responsabilidade; se ela insiste em dizer que recebeu 54,5 milhões de votos, os 81 senadores da República receberam juntos quase 80 milhões de votos. O resto são falácias. A democracia brasileira foi exercitada e vivenciada na sua plenitude, nas instituições e nas ruas. Agora, encerrado este processo que paralisou o país, o Brasil precisa de medidas drásticas e responsáveis para sanear as finanças públicas, reformas estruturais profundas para destravar a economia, e políticas orientadas para oferta de serviços públicos de qualidade.
Fonte: Revista Será
Alberto Aggio: Ainda imersos na falácia do golpe
Faz algum tempo que estamos imersos numa hiperinflação do uso da palavra “golpe”. Mesmo após ser consumado o impeachment de Dilma Rousseff, parece que continuaremos a ter essa expressão, e seus derivados, a soarem em nossos ouvidos por algum tempo. Ainda mais agora que Dilma foi constitucionalmente destituída da presidência, mas não perdeu seus direitos políticos.
Quando aplicado à política, a palavra golpe é antes uma metáfora que carrega uma carga significativa de dramaticidade. Faz lembrar imediatamente soldados, armas e tanques, agressões e violência, imposição e repressão no sentido de silenciar opositores. Convencionalmente, a palavra “golpe” quer indicar uma ação incisiva, fulminante e até traiçoeira que visa constranger, agredir e, no mais das vezes, anular ou eliminar o adversário político. Chamar alguém de “golpista” não seria propriamente um xingamento, mas no contexto em que vivemos, efetivamente o é.
Em termos políticos, um “golpe” pode ser caracterizado como qualquer ação intencional de violação da legalidade que rompa com a representação soberana nas instituições políticas, notadamente no Estado. Uma ação impetrada em detrimento do andamento normal da vida institucional de uma comunidade política. Um “golpe de Estado” é convencionalmente entendido como um ato de destituição ilegal de um governante que chegou e ocupa legitimamente um determinado cargo e encontra-se no exercício pleno das funções estabelecidas por esse cargo. Um “golpe de Estado” ceifa o mandato desse governante de maneira ilegal e ilegítima.
Contudo, historicamente, há vários tipos de golpe. Pode haver golpes de Estado que impeçam a renovação da representação política, cancelando eleições, como fez Getúlio Vargas, em 1937, instalando o Estado Novo ou como fez Fulgencio Batista em Cuba, em 1952. No regime parlamentar, um golpe palaciano pode alterar regras de sucessão ou manipular o andamento político que levaria à efetivação dessa sucessão, por meio de ações conspiratórias, como fez Hitler para chegar ao poder. No regime presidencialista, os golpes são, em geral, aqueles que destituem os presidentes por meio da força. São os golpes considerados clássicos na América Latina, como aqueles que derrubaram João Goulart, em 1964, no Brasil, e Salvador Allende, em 1973, no Chile.
Nos últimos meses, o petismo e os filopetistas falaram ad nauseum que o impeachment da presidente Dilma Rousseff configurava-se num golpe. Entretanto, em todo esse tempo, não se tem noticia de tanques, soldados, pessoas presas, repressão, mortos, etc., nas ruas do país. Em razão da impossibilidade de alguém ser convencido de que estivesse havendo um golpe contra Dilma, eles mudaram o enfoque. Passaram a falar que o que estava em curso era um “golpe” adaptado aos nossos tempos. E essa fala Dilma Rousseff repetiu em sua defesa no Senado, sem entretanto convencer ninguém a não ser aqueles que já estavam convencidos. Escrevi sobre isso faz alguns meses, desmascarando essa nova retórica (veja aqui “O paradigma do golpe de novo tipo”)
Por ser logicamente difícil argumentar que havia golpe de Estado num processo conduzido inteiramente dentro dos marcos constitucionais, com amplo direito de defesa, o petismo foi variando a sua retórica. Agregou-se ao golpe a noção de que havia um “atentado” à democracia. Alguns chegaram a dizer que não era Dilma que estava sendo julgada e sim a democracia. Por sua vez, representantes da intelectualidade mais nobre do país saíram-se com a fórmula de um “golpe ético”, dando signos estéticos a uma tese estapafúrdia. O jornal francês Le Monde foi mais tímido e lascou: “se não é golpe, é uma farsa”, desconhecendo o que se passa do outro lado do Atlântico, ao sul do mundo, desrespeitando as instituições representativas do Estado brasileiro, além do Poder Judiciário que dirigiu a sessão de definição do impeachment.
Seguindo tais delírios, na sessão de defesa de Dilma eis que seus apoiadores explodem em sorrisos e, por algumas horas, a “carnavalização do golpe” se instaurou. Junto com sorrisos largos, óculos escuros em pleno Senado, selfies aos montes com Chico Buarque, Lula, seguiu-se uma confraternização geral dos “golpeados”. Talvez o que petismo chama de “golpe parlamentar” seja assim mesmo, uma espécie de “golpe do bem”, que permite aos “golpeados” sorrirem e festejarem em público. Acertou na mosca o jornalista Lauro Jardim quando agregou mais um qualificativo para o nosso golpe jabuticaba: trata-se de um “golpe risonho”. Ufa, podemos enfim dormir tranquilos, o “nosso” golpe, como dizem os jovens, “é de boa”!
Ao final do julgamento, na tarde de 31 de agosto, sabendo que a derrota era certa e Dilma seria destituída, o petismo reformulou sua estratégia: dividir a votação por meio de um destaque que mantivesse os direitos políticos a Dilma Rousseff. Com isso, poderiam garantir e ampliar a única conquista que tiveram nesse processo: a “vitória da narrativa”; não há golpe, mas a narrativa e os termos dela permanecerão.
A função da narrativa agora não é mais convencer que estava ocorrendo um golpe. Agora sua função será atacar os “golpistas”. Ampliou-se assim o escopo dessa formulação política. Nesse novo cenário, a narrativa do golpe só serve para uma única coisa: estabelecer um discurso de vitimização, tão comum ao PT, para ser usado como mantra acusatório, imputando àqueles que lutaram pelo impeachment a pecha de “golpistas”. Por isso, a reiteração dessa narrativa era tão necessária.
Há que se ter clareza dessa nova situação. O PT sai desse processo fora do poder, o que não é pouco. Derrotar a falácia do golpe não se dará apenas por meio de um discurso contraposto, uma contra narrativa, mas sim pela defesa do andamento normal da política e da democracia, com as eleições que estão aí e com propostas para enfrentar a crise e fazer o país voltar a crescer, superando o legado tenebroso do lulopetismo.
Alberto Aggio é historiador, professor da Unesp e presidente da FAP
Fonte: pps.org.br
Cristovam Buarque: Voto pelo Brasil
Há momentos em que votamos com entusiasmo pelo futuro com que sonhamos; em outros, votamos para impedir um futuro que nos assombra. Se o julgamento da presidente afastada, Dilma Rousseff, fosse hoje, eu votaria pelo impeachment, não apenas por razões jurídicas ou só pelo conjunto da obra passada mas, sobretudo, pelos riscos que a volta de Dilma representa para o futuro do Brasil.
Não estou votando nem aderindo ao governo do presidente interino, Michel Temer. O impeachment decorre do descrédito do governo Dilma, da falta de apoio nas ruas e no Parlamento, dos erros cometidos na gestão da economia, da contaminação com a corrupção, dos crimes de responsabilidade.
Decorre, sobretudo, da percepção de que a volta dela ao poder, com o mesmo modelo político-econômico, significaria que o Congresso é conivente com erros, corrupção e ilegitimidades fiscais.
Em agosto de 2015, os senadores João Capiberibe (PSB), Randolfe Rodrigues (Rede), Lasier Martins (PDT), Acir Gurgacz (PDT), Lídice da Mata (PSB) e eu fomos ao Alvorada e entregamos uma carta à presidente Dilma, na qual dizíamos que o Brasil tinha três cenários negativos adiante: a continuação de seu governo, seu impeachment ou a cassação da chapa Dilma/Temer.
Para evitar as dificuldades que seu governo enfrentaria, sem cair no impeachment, sugerimos que reconhecesse seus erros, dissesse que seu partido era o Brasil e pedisse apoio a todos para governar até o fim do mandato. Nossas sugestões não foram consideradas.
Durante o longo processo de impeachment, que o Congresso Nacional seguiu dentro do rigor constitucional, Dilma não indicou o rumo que seria dado por um novo governo seu. Nada disse sobre como construir a necessária base de apoio parlamentar, como acalmar as ruas, que estratégia econômica adotaria para retomar o crescimento, gerar emprego, promover a estabilidade monetária e superar a crise fiscal.
Concentrou-se nos aspectos jurídicos, em chamar de golpistas dois terços dos deputados federais e senadores.
Estou cumprindo um dever que as circunstâncias históricas e meu compromisso com o país e seu futuro me impõem, de acordo com minha análise e consciência.
Carrego a esperança de que o governo sucessor seja capaz de recuperar o equilíbrio de nossas contas, resgatar a credibilidade necessária à volta do crescimento e do emprego, manter os bons projetos sociais, retomar o diálogo com o Parlamento e as ruas e fazer a travessia até 2018.
Tenho consciência de que meu voto provocará incompreensão e decepção em amigos e companheiros, eleitores e leitores, além de desprestígio no exterior. Sinto, entretanto, que esse é um ato necessário para reorientar o futuro do Brasil e, portanto, justifica o sacrifício.
Depois de tantos erros na economia, falsas narrativas do marketing político, tolerância com a corrupção, crimes de responsabilidade e descrédito imposto às forças progressistas, precisamos virar a página de um governo que ajudei a eleger e apoiei em parte de seu longo mandato de 13 anos.
Voto com a esperança de que surja uma nova esquerda dos escombros, sem o vício e o acomodamento dos últimos anos.
É com pesar, mas com a sensação de corrigir rumos, que voto pelo impeachment. Um voto triste, mas necessário. (Folha de S. Paulo – 20/08/2016)
Cristovam Buarque, 72, é senador (PPS-DF) e professor emérito da Universidade de Brasília. Foi governador do Distrito Federal e ministro da Educação (governo Lula)
Fonte: pps.org.br
Francisco Almeida: Depois de Eduardo Campos e Marina Silva, agressões a Cristovam
Tão logo o PSB se definiu pela candidatura de Eduardo Campos à Presidência da República, em 2013, o PT iniciou uma campanha difamatória contra o então governador de Pernambuco. De “menino mimado” a “traidor” e “nova direita”, adjetivos usados para todos os líderes da esquerda democrática que não se submetem ao hegemonismo petista.
Além da pressão política, Lula, a presidente Dilma e o PT usaram a força da máquina estatal para esvaziar a candidatura de Campos. Tentaram cooptar líderes do PSB com vantagens governamentais, cortaram verbas ao estado de Pernambuco, retiraram do governador a autoridade para as concessões de ampliação do Porto de Suape e, por fim, mandaram agentes da Abin espionar Campos e sua família, numa tentativa torpe de intimidação.
Apesar disso, a candidatura do PSB cresceu com o apoio do PPS e com a participação de Marina Silva como candidata a vice-presidente. O trágico acidente de agosto de 2014 lançou a senadora para o centro da disputa política e a máquina caluniosa do PT se voltou contra ela. De “traidora”, “amiga dos banqueiros” e “ecocapitalista“, as mentiras aumentavam tanto mais a candidata crescia nas pesquisas: que ela acabaria com o Bolsa Família, com o Minha Casa Minha Vida, promoveria um tarifaço e um austericídio, retiraria o prato de comida da mesa dos brasileiros para fazer o jogo do mercado financeiro.
Passado o pleito, revelou-se o estelionato eleitoral: Dilma e o PT fizeram exatamente aquilo que imputava aos seus adversários, perdendo de imediato a legitimidade de sua vitória, cuja consequência lógica foram as gigantescas manifestações pelo seuimpeachment, tão logo ficaram claros o desastre econômico do seu governo e as manipulações das contas públicas, somadas às ilegalidades praticadas com o desvio de verbas da Petrobras para financiar a sua campanha eleitoral.
Após o mensalão, em 2005, Lula fez do PMDB seu principal aliado e continuou a excluir do centro decisório governamental tanto o PMDB quanto os partidos da esquerda democrática, o que levou o PDT e o PPS a deixarem o governo, respectivamente em 2003 e 2004. Fazendo forte pressão, Lula não conseguiu evitar as candidaturas de Heloísa Helena, pelo PSOL, nem a de Cristovam Buarque, pelo PDT, que, somadas aos escândalos de corrupção da ministra chefe da então Casa Civil Erenice Guerra, levaram a eleição de 2006 para o segundo turno.
O PDT e o PSB, juntamente com o PCdoB, articularam em 2007 o Bloco de Esquerda, de atuação parlamentar própria e não subordinadaao petismo. O bloco tentou atuar de forma conjunta na eleição de 2010, mas o PT pressionou e solapou a candidatura de Ciro Gomes a presidente pelo PSB. Nas eleições municipais de 2012, o PSB, em muitos lugares com o apoio do PPS, PDT, PV e PSDB, conseguiu eleger mais prefeitos das capitais do que o PT. E aí está uma das causas da agressividade petista: o temor de perder a liderança para os partidos da esquerda democrática.
Esta é uma das causa das agressões ao senador Cristovam Buarque desde que ele votou pela admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Cristovam possui o que os atuais líderes do PT não têm: respeitabilidade, credibilidade e coerência e é uma potencial ameaça às pretensões eleitorais petistas.
O senador tem uma trajetória retilínea, desde os seus tempos pernambucanos de militante estudantil na Ação Popular, grupo da esquerda católica que se aliou ao antigo PCB, para conquistar para as esquerdas a direção da UNE com a eleição de José Serra. Mesmo governador pelo PT, Cristovam jamais deixou de dialogar com outras forças políticas e personalidades democráticas, como o então ministro da Educação Paulo Renato, que foi convencido por ele a implantar, em nível federal, o exitoso programa Bolsa Escola, do DF. Lula nunca explicou porque demitiu por telefone o seu ministro da Educação enquanto este cumpria compromisso de trabalho no exterior.
Cristovam Buarque foi para o PDT de Leonel Brizola, que acusava o governo Lula de trair seus compromissos eleitorais ao promover uma política econômica monetarista comandada por Antônio Palocci, cujos cortes foram duas vezes superiores às tentativas de ajustes promovidas por Joaquim Levy e Nelson Barbosa no governo Dilma. Mesmas razões, além da ausência de diálogo, que levaram o PPS a ir para a oposição no ano seguinte. No PDT, Cristovam manteve-se numa posição crítica em relação aos dois governos petistas.
Mas a disputa de poder sem princípios do PT não é a única causa para as agressões ao bravo senador. Revelam o cacoete da velha esquerda autoritária, incapaz de se renovar e de conviver com a divergência e com o pluralismo político e partidário. Quando a deputada Luciana Genro, candidata do PSol a presidente, se declarou contrária ao impeachment mas reconhecia que a medida não era um golpe, um escriba petista correu para defender a “solução de 1940”, numa alusão ao assassinato do líder russo Leon Trotsky e aos fuzilamentos na União Soviética a mando de Josef Stalin. A mentalidade de partido único e o espírito de seita continuam no PT, um fiel representante da esquerda autoritária no Brasil.
Francisco Almeida é membro do Secretariado e da Executiva Nacional
Fonte: pps.org.br
Roberto Freire: Um novo Brasil irá às urnas
Com o início oficial da campanha para as eleições municipais de 2016, os brasileiros se preparam para participar de um processo que apresenta características muito peculiares, algumas delas jamais experimentadas em pleitos anteriores. As disputas que elegerão prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o país serão norteadas pelas novas regras impostas pela legislação eleitoral, entre as quais a proibição do financiamento empresarial e a redução do período de campanha de 90 para apenas 45 dias.
Ao contrário do que muitos imaginam, o novo modelo de financiamento não deve causar nenhum grande temor em relação ao aumento do caixa 2 nas campanhas. Haverá, na realidade, uma fiscalização muito mais eficiente e rigorosa sobre todos os candidatos – até mesmo por parte dos adversários –, e isso se deve à sociedade brasileira, hoje muito mais atenta e atuante, e a instituições como o Ministério Público e a Polícia Federal, que vêm funcionando plenamente no combate à corrupção. A Operação Lava Jato, que desnudou o esquema criminoso montado pelos governos lulopetistas na Petrobras e segue a todo vapor, é a maior prova disso.
Apesar de o pleito ser municipal, é evidente que as eleições de outubro também serão pautadas pela questão nacional. O Brasil vive um momento único em sua história, com intensa participação de uma cidadania mobilizada nas ruas e nas redes como nunca se viu. O processo de impeachment de Dilma Rousseff e o fim do tenebroso ciclo de poder do lulopetismo que levou o país a mergulhar em sua pior recessão econômica, além dos desdobramentos da Lava Jato, serão componentes fundamentais do debate e exercerão forte influência na decisão do eleitor.
Enquanto os partidos que compõem a base de sustentação do governo interino de Michel Temer registram um crescimento no número de candidaturas em todo o Brasil, o PT amarga uma redução de mais de 35% na quantidade de candidatos em relação ao pleito de 2012. Ainda não há dados consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas estimativas preliminares apontam que o PPS disputará as eleições municipais com 619 candidatos a prefeito, 155 a vice-prefeito e 6.233 a vereador, o que deve representar uma expansão média de 30% em comparação com os números apresentados há quatro anos. O partido crescerá especialmente em São Paulo, estado no qual deve lançar 67 postulantes à Prefeitura em pequenas, médias e grandes cidades.
Entre os nomes do PPS que disputam com chances reais em importantes municípios paulistas com mais de 100 mil eleitores, estão o deputado federal Alex Manente, candidato a prefeito em São Bernardo do Campo; a vereadora Pollyana Gama, em Taubaté; o vereador Marcelo Del Bosco, em Santos; o ex-prefeito Farid Madi, no Guarujá; Fábio Sato, em Presidente Prudente; Ricardo Benassi, em Jundiaí; Myriam Alckmin, em Pindamonhangaba; Cláudio Piteri, em Osasco; Raimundo Salles, em Santo André; Darinho, em Francisco Morato; Aurélio Alegrete, em Ferraz de Vasconcelos, entre outros. Na capital, o partido integra a candidatura de João Doria, do PSDB, e oferece aos paulistanos uma forte chapa para o Legislativo que conta, por exemplo, com as candidaturas dos ex-vereadores Soninha Francine e Cláudio Fonseca, que já exerceram excelentes mandatos na Câmara Municipal em outras legislaturas.
Nas demais capitais brasileiras, o PPS se faz muito bem representado principalmente em Vitória, no Espírito Santo, pelo prefeito e candidato à reeleição Luciano Rezende (responsável por uma administração ousada, moderna e premiada por sua eficiência); em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com Athayde Nery; e em São Luís, no Maranhão, com a deputada federal Eliziane Gama, líder em todas as pesquisas de intenção de voto. O crescimento do partido em todo o país, se tornando uma força política competitiva nas próximas eleições, certamente se deve à postura altiva do PPS como oposição firme, sem ódio e sem medo ao lulopetismo, tendo sido favorável ao impeachment desde o início do processo.
O Brasil que irá às urnas no dia 2 de outubro é um país bem distinto daquele que escolheu prefeitos e vereadores há quatro anos e também do que votou nas eleições presidenciais de 2014. A participação da cidadania está hoje muito mais presente, a fiscalização é maior e os candidatos precisam estar à altura da responsabilidade que este novo momento exige. A eleição deste ano será diferente de tudo o que já vivenciamos até aqui, e não só pelas novas regras eleitorais. A campanha mudou porque, afinal, o país mudou. É hora de arregaçar as mangas e trabalhar.
Roberto Freire é deputado federal por São Paulo e presidente nacional do PPS
Fonte: pps.org.br
Cristovam Buarque: O golpe da ideologia
Do ponto de vista do marketing, faz todo o sentido a narrativa de que o impeachment da presidente Dilma seria um golpe. Com esta interpretação, o PT ganha fôlego ao jogar sobre o novo governo a responsabilidade por todos os problemas que os governos Lula-Dilma criaram nos últimos anos, ficando livre para lembrar as boas políticas que fez e tendo a bandeira da vitimização.
Tanto no caso de Dilma, quanto de Collor, o impeachment é uma violência constitucional e pode-se duvidar se os crimes identificados seriam suficientes para justificar a destituição de presidentes eleitos. No caso de Collor, o crime teria sido enriquecimento ilícito, sem crime de responsabilidade contra a Constituição; e mesmo deste crime comum, não de responsabilidade, ele foi posteriormente inocentado pelo STF.
No caso de Dilma, o uso de banco estatal para financiar programas do governo e a assinatura de decretos orçamentários sem autorização do Congresso são crimes de responsabilidade que ferem a Constituição. Mesmo assim, faz sentido duvidar se estas ilegalidades seriam suficientes para sua destituição. Incomoda a falta de dosimetria para a sentença.
Mas, o que não pode ser aceito racionalmente é a falsa narrativa de que as pessoas se dividem em direita, se querem o impeachment, e esquerda, se defendem a volta da presidente Dilma. Nada mais falso. Ser de esquerda significa: em primeiro lugar, sentir inconformismo com a realidade social, política, econômica e ética do país; em segundo, ter expectativa de que é possível um mundo melhor, alguma forma de utopia; e terceiro, que este mundo melhor não ocorrerá naturalmente, por regras de mercado. Ele só será construído pela prática política progressista ou revolucionária.
É certo que muitos dos que defendem o impeachment são notórios conservadores, saídos do próprio bloco de apoio à presidente Dilma. Mas aqueles que se opõem ao impeachment são em geral acomodados politicamente em relação ao presente, comemoram pequenas conquistas sociais, perderam a capacidade de sonhar uma sociedade “utópica”, como, por exemplo, “os filhos dos pobres estudarem em escolas tão boas quanto às dos ricos”, e abriram mão do vigor transformador da sociedade. Além disso, ficaram coniventes com a ideia de que “se todos roubam, não há porque exigir honestidade dos aliados”. Ainda mais, olham pelo espelho retrovisor da história, sem perceberem que a realidade mudou e que as propostas e os processos políticos precisam levar em conta as mudanças.
A “esquerda do retrovisor” não percebe, por exemplo, que o aumento na esperança de vida e o esgotamento fiscal do Estado exigem reformas nos fundamentos do sistema previdenciário; que a globalização apresenta limites à autonomia das decisões nacionais; que a revolução científica e tecnológica, junto com a informática e a robótica, exige um aperfeiçoamento das leis trabalhistas. Não percebe que a economia tem limites fiscais e ecológicos; que o estatismo muitas vezes se divorcia do interesse público, do povo; que a democracia com liberdades plenas deve ser um compromisso absoluto, inegociável, e que a política de esquerda não pode ser feita com a arrogância de donos da verdade, nem pode tolerar corrupção, ou aceitar que os fins justificam os meios.
Com um mínimo de seriedade não é possível dividir as posições sobre este impasse como um debate entre esquerda e direita: há muitos “direitas” entre os que defendem o impeachment, mas também muitos “esquerdas do retrovisor” entre aqueles que se opõem ao impeachment, porque não querem fazer a história avançar. Mas, sobretudo há muitos de esquerda, que olham para frente, pelo para-brisa, que consideram necessário o impeachment para virar a página e avançar em direção a um novo tempo.
Não é difícil entender que a volta da presidente Dilma seria um gesto de retrovisor e não de avanço; e que sua substituição pelo vice conservador que ela escolheu, desde que seguindo os ritos constitucionais, possa possibilitar uma travessia para que a “esquerda do para-brisa” entenda as mudanças, se sintonize com o futuro e leve adiante a luta que os acomodados não fizeram, nem farão. E que tentam impedir o impeachment com o golpe da ideologia, sabendo das dificuldades políticas, econômicas, sociais, éticas que este acomodamento conservador da “esquerda retrovisor” provocaria. (Correio Braziliense – 16/08/2016)
Fonte: pps.org.br