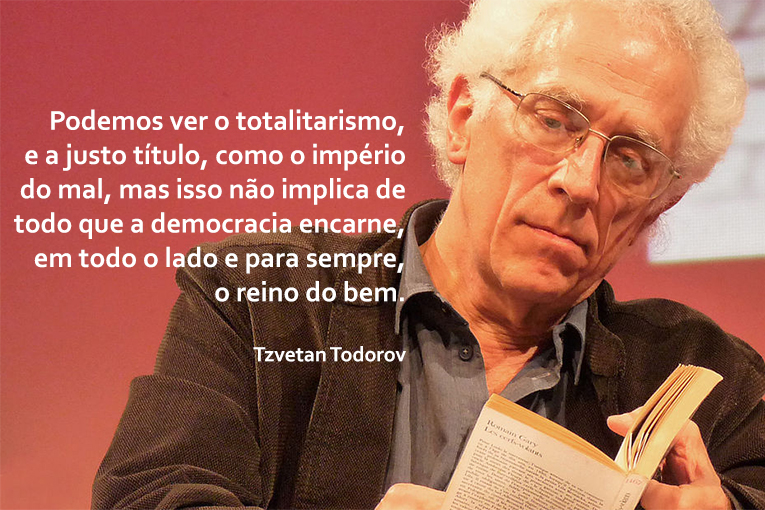democracia
Roberto Freire: Venezuela golpeada
Todos aqueles verdadeiramente compromissados com a defesa da democracia, da pluralidade e da liberdade vêm acompanhando com muita preocupação o desenrolar da gravíssima crise política e social pela qual passa a Venezuela. Infelizmente, o governo comandado por Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez, há muito ultrapassou todos os limites institucionais que ainda o distinguiam de um regime de exceção. O que existe hoje na Venezuela é uma ditadura instalada e escancarada que suprime direitos civis, mantém presos políticos e impede a separação e a independência entre os Poderes.
A escalada da tensão subiu muito nos últimos dias, especialmente desde que o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) decidiu simplesmente assumir as funções da Assembleia Nacional – cuja maioria é composta por parlamentares oposicionistas –, além de anular todas as decisões do Legislativo e retirar a imunidade dos deputados da oposição. Após tamanha arbitrariedade, diante da gigantesca repercussão negativa e da forte pressão da opinião pública internacional, o governo de Maduro recuou, e o TSJ suspendeu as decisões e restabeleceu as competências do Parlamento.
Entretanto, até mesmo essa atitude revela o caráter autoritário do regime venezuelano e a absoluta interferência do presidente da República no Judiciário, que está subordinado aos interesses do governo. Foi o próprio Maduro, afinal, quem convocou o chamado Conselho de Defesa, composto por representantes das diversas esferas de Poder, para que a medida fosse revogada. O presidente da Assembleia, Julio Borges, se negou a comparecer ao encontro e afirmou, corretamente, que o presidente venezuelano “é o responsável pela quebra da ordem constitucional” e que “não pode pretender, agora, ser um mediador”. Não restam dúvidas de que houve um autogolpe de Estado na Venezuela, perpetrado por um presidente que extrapolou suas prerrogativas constitucionais para instalar um regime ditatorial no país.
Em legítima resposta às sucessivas violações à Constituição, que infelizmente se tornou letra morta sob o regime chavista, as principais forças de oposição convocaram grandes manifestações no país. As imagens que rodam o mundo mostram Caracas e várias outras cidades venezuelanas tomadas por uma multidão pedindo a liberdade imediata dos presos políticos, a convocação de eleições gerais e, consequentemente, a saída de Maduro. É importante lembrar que, no fim do ano passado, o país já havia registrado aquelas que, muito provavelmente, foram as maiores mobilizações da história recente da Venezuela, talvez tendo até superado, proporcionalmente, os protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff no Brasil.
Na última segunda-feira (3), o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou por aclamação uma resolução em que aplica a Carta Democrática do bloco contra a Venezuela. Segundo o texto do documento, a decisão do TSJ de assumir as atribuições do Parlamento “é incompatível com a prática democrática” e configura “uma violação da ordem constitucional”. Uma das vozes mais críticas ao atual regime venezuelano, o secretário-geral da entidade, o socialista uruguaio Luis Almagro, já havia qualificado recentemente o governo de Maduro como uma “tirania”. Em mensagem publicada no Twitter em agosto de 2016 e direcionada ao opositor venezuelano Leopoldo López, um dos muitos presos políticos naquele país, Almagro afirmara que não há na Venezuela “nenhuma liberdade fundamental e nenhum direito civil ou político”. É importante destacar que se trata de um respeitado advogado, político e diplomata uruguaio, integrante da chamada Frente Ampla. Almagro foi ministro das Relações Exteriores do governo de José Mujica.
Em linhas gerais, trata-se de uma posição semelhante àquela adotada pelo Itamaraty, sob comando do chanceler Aloysio Nunes Ferreira, que vem dando continuidade ao bom trabalho realizado pelo ex-ministro José Serra. Sob o governo do presidente Michel Temer, a política externa brasileira foi reconduzida ao patamar em que sempre esteve e do qual se afastou durante os 13 anos de governos lulopetistas. Com uma postura firme, altiva e crítica em relação ao autoritarismo chavista, o Brasil hoje não é mais subserviente em relação aos abusos cometidos por Nicolás Maduro. Tanto é assim que, em reunião no último sábado (1º) com a presença dos chanceleres de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o Mercosul ativou a cláusula democrática contra a Venezuela em função da “falta de separação de poderes” e por ter identificado uma “ruptura da ordem democrática”.
Não há saída para a crise enfrentada por aquele país que não passe, de imediato, pela libertação de todos os presos políticos e abertura de um diálogo amplo e irrestrito entre o governo de Maduro, a sociedade civil e as oposições, além do cumprimento de um cronograma eleitoral. Manifestamos nossa solidariedade ao povo venezuelano, que tem coragem e determinação, apesar de todo o sofrimento, e certamente será bem sucedido ao final dessa árdua caminhada em direção à liberdade.
(Diário do Poder – 07/04/2017)
Roberto Freire é presidente licenciado do Partido Popular Socialista (PPS)
Luiz Carlos Azedo: Quem perdeu?
O governo e a oposição, o Congresso e os partidos políticos, talvez boa parte dos governos estaduais, caíram no descrédito popular
A geração de políticos formada na Segunda República (1945-1964) foi derrotada pela radicalização que a Guerra Fria fomentou numa sucessão de crises antecedentes ao golpe militar de 1964, que depôs o presidente João Goulart. As principais ocorreram em 1954 (suicídio de Getúlio Vargas), 1956 (posse de Juscelino Kubitschek) e 1961(renúncia de Jânio Quadros). Sucumbiram no processo quase todos os protagonistas, com exceção de Leonel Brizola, o incendiário, que após a anistia elegeu-se governador do Rio de Janeiro, em 1982, e Tancredo Neves, o bombeiro, que elegeu-se presidente em 1985, mas não chegou a tomar posse. José Sarney, o vice que assumiu a Presidência da República, e Ulysses Guimarães, o grande líder da oposição que presidiu a Constituinte eleita em 1986, eram políticos coadjuvantes no pré-64.
Do legado da geração de políticos que emergiu do regime militar, quase tudo foi volatilizado pela crise atual. Individualmente, é difícil reconhecer o próprio fracasso, mas, diante das revelações da Operação Lava-Jato e do buraco em que nos metemos, fica evidente o fracasso de uma geração. O governo e a oposição, o Congresso e os partidos políticos, talvez boa parte dos governos estaduais, caíram no descrédito popular. Como negar esse fracasso a 13 milhões de desempregados, outros tantos que vivem da economia informal, aos milhões de jovens sem perspectiva de emprego futuro — boa parte já fora da escola. Pela primeira vez na história, uma geração entregará o país em condições piores do que o recebeu.
Não é à toa a situação de esgarçamento social existente, que favorece a radicalização política. A Guerra Fria já não existe, mas o clima é de guerra quente por causa da crise na Síria. O país perdeu o consenso em torno de algumas ideias que balizaram a transição à democracia. Durante a Constituinte, havia grandes consensos em relação à política externa, ao modelo industrial, ao acesso universal à saúde e à educação, à legislação trabalhista, ao regime tributário, ao sistema partidário, ao sistema eleitoral, às questões agrária e indígena etc.
As posições extremas em relação a tudo isso estavam isoladas.Trinta anos depois, não há mais consenso sobre nada. O nosso Estado de direito democrático sustenta-se no que está escrito na Constituição de 1988 e não no amplo entendimento sobre a realidade social, para onde e como o país deve caminhar. Os indicadores de violência são um fator perturbador de que a convivência social é muito frágil, basta tirar a polícia da rua — ou dos estádios — para emergir a barbárie.
Quando se ouve a voz da maioria dos políticos, a sensação é de que estão repetindo os mesmos discursos há 30 anos. O que predomina no debate político são visões ideológicas, incapazes de abrir caminhos para o enfrentamento da crise atual, porque refletem de forma distorcida as reais contradições da sociedade. Ou, simplesmente, são carapaças políticas nas quais se escondem, sem acreditar nas próprias palavras. É impossível construir novos consensos quando não há diálogo e abertura para dar vazão ao novo.
O que fazer?
Um dos efeitos colaterais da reeleição de presidentes, governadores e prefeitos foi empurrar a fila para trás. Quando se compara nossas lideranças com as de outras nações — basta assistir aos telejornais —, é flagrante a diferença de gerações. Não se formou ainda uma nova geração de líderes. Nossos principais políticos são os mesmos desde a Constituinte, com raras exceções. E não foram capaze até agora de construir novos consensos em torno de ideias básicas que promovam o crescimento, combatam os privilégios, reduzam as desigualdades, enfrentem seculares iniquidades sociais, como o analfabetismo, a falta de moradia e a discriminação racial.
Essa dificuldade é maior porque muitas das ideias da nossa elite política estão sendo atropeladas pela revolução tecnológica e a economia do conhecimento. O mais dramático nesse aspecto é que a nova geração de políticos está numa gestação de risco, muitos dos quais já condenados às ideias anacrônicas. Assim como ficamos de fora das três revoluções industriais, fomos excluídos da quarta. O lugar cativo do Brasil na nova divisão internacional do trabalho é exportar alimentos in natura e granulados de minério. Se quisermos realmente ser mais do que isso, utilizando o potencial que temos, o país terá que se reinventar sob vários aspectos, a começar pelo Estado. É aí que está instalado o maior conflito.
O Estado no Brasil é anterior à nação. Foi o guardião da escravatura até 1888. A partir de 1930, transformou-se na alavanca da industrialização. A forma mais rápida e lucrativa de reprodução e concentração de capital no Brasil é a transferência de renda do Estado para o setor privado, desde sempre. Sua reforma pressupõe a reinvenção do capitalismo no país. Esse talvez seja o grande busílis do novo consenso a ser construído. Já existe uma opinião pública majoritariamente engajada na ideia de que os grandes interesses privados precisam ser apartados dos mecanismos de decisão do Estado, mas como traduzir isso na política? Sem os políticos e o Congresso, é impossível.
Luiz Carlos Azedo é jornalista
Fonte: http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-quem-perdeu/
Luiz Werneck Vianna: Manter fechada as portas do inferno
Fora a interrupção da vida democrática, a saída deste pandemônio parte da política que está aí
Parece que desse mato não sai cachorro, por mais alarido que se faça no Ministério Público, na Polícia Federal, na mídia e nas ruas. Cada agonia cede lugar a outra, agora é a das salsichas, mas também essa não promete durar.
Os desencontros se atropelam, anseia-se por uma saída, quem sabe uma reforma política, das relações trabalhistas ou da Previdência, um sonho de valsa ou qualquer coisa à toa, o que quer que seja é logo abafado pelo coro dos descontentes, e as propostas não se sedimentam nem se abre um debate racional sobre elas. O outro é um inimigo, não cabe diálogo com ele, e grassa o rancor, acolhido pela mídia, que não disfarça mais sua complacência com o azedume de suas manifestações em seus veículos.
A política tem horror ao vazio, e na cena pública em escombros já está à espreita a figura nossa arquiconhecida do messias, do personagem providencial, do sebastianismo que temos encravado em nosso DNA, avaliando se chegou a sua hora. Desta vez, por tropelias do destino, sua sombra não se projeta dos quartéis, mas, dentre outros lugares igualmente indesejáveis, também dos tribunais, como novo lugar de criação de heróis de salvação pública.
O juiz se apresenta como um intérprete geral da sociedade, chegando alguns a preconizar que se contorne a instituição do Legislativo, por designação constitucional, o lugar em que se deve expressar a soberania popular. Há pouco, não vimos uma eminente personagem dos nossos tribunais pontificar no sentido de que temas da reforma política, com a inextricável complexidade intrínseca a eles, deveriam ser confiados a uma deliberação popular? Não seria isso exemplar de um populismo institucional, jabuticaba nova no nosso repertório político?
Mas seria injusto julgar o atual protagonismo de alguns juízes e tribunais como uma prática buscada intencionalmente por eles. Chegou-se a esse cenário patológico de judicialização da política pela ação desastrada dos nossos principais partidos, inclusive, e talvez principalmente, por aquele que contava com a preferência do voto popular, o PT, os quais recorreram a métodos antirrepublicanos a fim de assegurar sua permanência no poder. Decerto que tais métodos foram facultados pela nossa mal concebida institucionalidade política, fruto de políticas sem lastro no conhecimento do País e de sua História, como se Assis Brasil, Oliveira Vianna, Vitor Nunes Leal e até a ficção de um Mário Palmério, para ficar apenas com esses nomes clássicos, tivessem refletido sobre uma realidade distante da nossa.
No caso, não se pode omitir o fato de que o legislador atentou, ainda tempestivamente, para o desastre que tal institucionalidade prometia, criando uma cláusula de barreira para que partidos com baixa representação eleitoral não encontrassem acesso no Parlamento. E também não pode ficar sem registro que tal legislação foi posta por terra pela Suprema Corte, por motivos de fundo populista, na crença de que o livre movimento dos interesses e das ideias acabaria, por si só, de secretar uma estrutura partidária capaz de favorecer a organização de uma sociedade que nasceu, como a nossa, sob o signo da fragmentação e de uma marcante heterogeneidade social e regional.
Se o nosso Estado-nação nasceu, como sustentou Euclides da Cunha, genial intérprete do País e de suas mazelas, de uma teoria política que deveria impor-se pela ação pedagógica de elites ilustradas sobre uma sociedade informe – caberia ao Estado moldar a Nação –, os movimentos que nos trouxeram a democracia e a Carta de 88, respondendo à cultura da época, optaram por conceder primazia aos temas sociais. A agenda da institucionalidade política cedeu lugar à da igualdade, confiando-se à ação do tempo o seu aggiornamento às circunstâncias do País.
Nesse sentido, boa parte das inovações de alcance mais fundo da nova Carta foram dirigidas à reformatação do Poder Judiciário, ao qual se confiou o papel estratégico de garantir efetivação dos direitos sociais criados por ela, recriando o Ministério Público sob um figurino inédito aqui e alhures, deslocando-o de suas tradições estatais e pondo-o a serviço da defesa da sociedade e dos seus interesses. Na mesma direção, institucionalizou a Defensoria Pública, que, com o tempo, passou a rivalizar com o Ministério Público em matéria de intervenções em políticas públicas.
Sob essa arquitetura robusta, amparada pelos seus vértices institucionais, como o Supremo Tribunal Federal, logo o Poder Judiciário veio a se contrastar com os Poderes políticos, em particular com um Legislativo que se deixou enredar pelo tipo de prática espúria a que passou a recorrer o nosso presidencialismo de coalizão na produção de leis, que sabemos agora, como no caso das salsichas, de que forma têm sido feitas. Devemos isso à intervenção da chamada Operação Lava Jato, que, a par de vir sanear a esfera pública de práticas atentatórias à vida democrática, traz consigo a denúncia incontornável do nosso sistema político, cujos males não têm como encontrar solução nos artigos do Código Penal.
Fora a interrupção da vida democrática, hipótese de que juízes nem sequer podem cogitar, sob pena de perjúrio – quando definitivamente as portas do inferno se abririam para nós –, a saída desse pandemônio que nos aflige não conhece outro ponto de partida senão o da política que aí está. Se a guerra é muito importante para ficar apenas nas mãos dos generais, igualmente a política não pode ser confiada a magistrados, com as luzes que tenham.
Não há remédio: temos de nos socorrer das salsichas de que dispomos, descartando pelo devido processo legal ou pelo voto, quando chegar a hora, as imprestáveis para o consumo. Como se dizia, o Brasil não se fez em um dia, e as lições que aprendemos agora são dessas que não se esquecem.
*Luiz Werneck Vianna é sociólogo
______________________________________________________________________________
Fonte: http://gilvanmelo.blogspot.com.br/2017/04/manter-fechada-as-portas-do-inferno.html
Luiz Sergio Henriques: A democracia em crise e seus partidos
Publicado no O Estado de S. Paulo em 19/03/2017
Os democratas estão sendo chamados a esconjurar um desvio para o inferno
Impossível predizer minimamente, no denso cone de sombra em que nos movemos, o futuro do sistema partidário, ainda e apesar de tudo elemento essencial de qualquer moderna democracia de massas que se preze. Partidos – diz a expressão famosa – são, ou devem ser, a democracia que se organiza e se afirma, elos decisivos, mas não exclusivos ou excludentes, de uma relação saudável entre sociedade civil e sociedade política.
Nunca tivemos tradições partidárias propriamente consolidadas, que encarnassem interesses e concepções de mundo relativamente estáveis e transmitidas de uma geração para outra. O peso do Estado na modernização brasileira não raro impossibilitou a emergência e a consolidação de partidos organizadores de opinião e formadores de quadros dirigentes. Basta lembrar que em 1964 se interrompeu bruscamente o sistema que bem ou mal se vinha constituindo nos marcos da Constituição de 1946. E, no ocaso do regime autoritário, Arena e MDB seriam dissolvidos ou mudariam de pele, dando origem ao pluripartidarismo afinal consagrado na Constituição de 1988.
Tradições interrompidas, vida política controlada “de cima” nos períodos autoritários recorrentes, tendência à fragmentação nos momentos de liberdade – tudo isso contribuiu para o caminho inóspito que teve entre nós a formação de partidos nacionais. E aqui se entende por partido nacional não só aquele que se espalha pelo território do País, ou por boa parte dele, como também, e talvez principalmente, aquele que ultrapassa a limitada fronteira de seus (legítimos) interesses próprios, procurando dar uma resposta minimamente coerente aos problemas do conjunto da sociedade. Sem esse movimento de autossuperação não há política, ou pelo menos não há grande política.
A explosão de partidos pós-1988 foi apenas um dos problemas deixados para trás ou ainda insuficientemente tratados. Não que se devesse impedir a livre criação de agremiações, mas certamente se devia obstar que as normas de acesso às formas de financiamento público, incluído o tempo na televisão, se tornassem tão frouxas que a proliferação de siglas virasse um capítulo bizarro do “empreendedorismo” nacional – muito útil na vida econômica, mas fator de desagregação na vida partidária e na parlamentar.
Os partidos com os genes de centro-direita, como o PP e o DEM, progressivamente entraram em declínio, com pouca capacidade programática e limitada inserção na sociedade, apesar de esforços do Democratas no sentido de estabelecer uma agenda econômica liberal. Reuniram-se aos partidos de vocação centrista ou de centro-esquerda, como o PMDB e o PSDB, na categoria de partidos basicamente parlamentares. É verdade que continuam a disputar com êxito eleições locais e empalmam milhares de prefeituras e governos estaduais, sem falar que ostentam milhões de filiados nos cartórios eleitorais, mas este último dado não significa enraizamento ou adesão consciente.
Em certos momentos, como o PMDB na saída da ditadura ou o PSDB na reforma liberalizante, representaram forças sociais vivas e propuseram programas de governo consistentes. Isso durou pouco e, a partir de 2002, na proposição de algum tipo de “projeto nacional” viram-se francamente ultrapassados pelo PT. Caso curioso, o deste último. Resultado de ampla mobilização – que se pense nas comunidades de base, no sindicalismo do ABC ou na adesão de parte significativa dos intelectuais –, quis credenciar-se como uma formação da nova esquerda e até em ruptura com a trajetória estatista e nacional-desenvolvimentista dos comunistas de 1950-1960. Uma pretensão, contudo, que feneceria antes do fim do primeiro mandato do presidente Lula e agora, aliás, se exacerba com o desarquivamento do queremismo para 2018.
Não se pode dizer que, ao afirmar-se como o mais sólido dos partidos, o PT tenha pensado no conjunto do sistema partidário, como seria de esperar de uma força madura. Hostil a alianças no período “heroico”, orgulhosamente isolado na hora de acumulação de forças, a elas se entregou sem nenhum pudor, atropelando requisitos legais, assim que se viu à frente do Executivo. Como resultado, parte considerável de seu grupo dirigente ainda há poucos anos terminaria ingloriamente condenada nos termos da Ação Penal 470, fato tremendo que, em condições normais, deveria desencadear profundo esforço de revisão de ideias e práticas.
À luz do que se seguiu e se prolongou até 2014, dificilmente se pode deixar de considerar aquele partido como fator de desestabilização dos demais, ao continuar a cooptar lideranças e a lotear pedaços do aparelho de Estado possivelmente “como nunca antes na História do País”. Um balanço melancólico, sem dúvida, ainda que se deva dizer que aperformance pateticamente convencional dos outros atores foi, ao longo do anos, um convite à investida que sofreram e a que se adaptaram de um modo ou de outro – ou, pior ainda, replicaram em tom menor nas realidades estaduais sob seu controle. Em síntese, os atores secundários não souberam reagir, organizando-se, e jamais estiveram à altura do desafio, contribuindo com seu anacronismo para o empobrecimento da democracia dos partidos a que hoje, atônitos, assistimos.
As sombras são espessas, a visibilidade é mínima. Tem de haver gente de todo o espectro, esquerda incluída, com um travo amargo na boca e disposta a reconstruir em novas bases seus partidos, suas lealdades e convicções. Admitamos sobriamente que uma possibilidade real, hoje, é a do surgimento de aventureiros a denunciar o jogo partidário como intrinsecamente corrupto e a buscar uma conexão direta e irracional com os eleitores. Esse seria o desvio para o inferno, que os democratas, sem exceção, estamos chamados a esconjurar, sob pena de revivermos, como diz o poeta, os mesmos tristes e velhos fatos que já deveriam estar recolhidos aos álbuns do passado.
* Tradutor e ensaísta, é um dos organizadores das 'obras' de Gramsci no Brasil.
Roberto Freire: Tempos de mudança
Em qualquer setor de atividade, um processo de mudança pode gerar reações da velha ordem estabelecida. O desconforto em relação ao novo é próprio do ser humano e, em certos momentos, expressa-se de forma virulenta.
Aqueles que, como eu, estão há muito tempo na vida pública têm de lidar frequentemente com o comportamento agressivo e exacerbado de alguns. De todo modo, é mais saudável e democrático preservar um diálogo civilizado, respeitoso e intelectualmente honesto com o interlocutor -especialmente quando dele se diverge no campo político.
Há mais de 40 anos participando da vida política brasileira, sempre me mantive na trincheira democrática. Lutei contra a ditadura militar, em defesa da liberdade de expressão, de organização e dos direitos civis e políticos.
Em uma época em que vivíamos tempos verdadeiramente sombrios, defender a democracia significava colocar a liberdade e a própria vida em risco. Todos aqueles que resistiram ao regime autoritário sabem perfeitamente a diferença entre um golpe, como o de 1964, e a narrativa falaciosa que qualifica como "golpista" um governo constitucional e democrático fruto de um processo de impeachment.
Temos acompanhado protestos esporádicos de setores ligados ao meio cultural denunciando um suposto "golpe" parlamentar, midiático e jurídico, entre outros devaneios. É evidente que, por mais descabido que seja tal posicionamento, ele demonstra o pleno direito à livre manifestação que deve ser respeitado por todos nós.
No bojo dessas críticas, está evidenciada uma posição refratária à mudança política no país. Em geral, são ataques desprovidos de qualquer sentido, como acusações de que o atual governo pretende retirar direitos ou anular algumas das importantes conquistas da sociedade brasileira das últimas décadas.
Nada disso ocorrerá. Na realidade, o que não haverá é um recuo nas mudanças levadas a cabo pelo Ministério da Cultura e pela administração federal. Ao contrário: continuaremos avançando em políticas que buscam recolocar o Brasil nos trilhos após os desmandos praticados pela gestão anterior.
Reiteramos a importância da Lei Rouanet, alvo de desconfiança de grande parte dos brasileiros em decorrência do desmantelo moral e das ilegalidades dos últimos 13 anos.
Faremos as modificações necessárias por meio de uma instrução normativa, ampliando os mecanismos de controle e fiscalização, fixando tetos para os projetos culturais e definindo critérios para a tramitação e análise do incentivo fiscal, o que proporcionará maior transparência.
Incentivaremos a descentralização regional, democratizando o acesso da população de todos os rincões do Brasil aos bens culturais. Programas abandonados, como os projetos Mambembão e Pixinguinha, serão retomados.
Os Pontos de Cultura serão mantidos, mas apenas aqueles que estiverem devidamente regularizados e com as suas prestações de contas em dia, já que se trata de recurso público. Além disso, restabelecemos o contato com alguns setores que estavam relegados a segundo plano ou eram discriminados pelo governo anterior em função de posições político-partidárias.
O processo de correção de rumos por que passa o Brasil não se restringe à área cultural. A economia começa a dar sinais de recuperação, e o governo Temer já logrou êxito ao aprovar medidas legislativas fundamentais para o país, entre as quais se destacam a PEC do teto dos gastos públicos, a reforma do ensino médio e o projeto que desobriga a Petrobras de participar de todos os consórcios de exploração do pré-sal.
A cultura brasileira e o país continuarão avançando. Vivemos tempos de mudança.
*Roberto Freire é ministro da Cultura. Foi deputado federal e senador pelo PPS
Fonte: gilvanmelo.blogspot.com.br
Alberto Aggio: Cultura, modernidade e democracia
Cultura, modernidade e democracia: O embate no Prêmio Camões só impediu que se discutisse o que deve ser discutido
As cenas de antidemocracia que ocorreram na entrega do Prêmio Camões a Raduan Nassar, promovidas por uma claque conhecida em determinados ambientes políticos, é mais um desserviço à cultura e à política democrática em nosso país. Os atos e especialmente sua repercussão nas redes e na opinião pública, negativos em si, retiram o foco do que seria essencial discutir, de forma mais produtiva, a respeito das relações entre cultura e política na contemporaneidade e no nosso país.
No passado havíamos muitas vezes provado que sabemos fazer essa reflexão, mas parece que precisamos reaprender, ultrapassando as inclinações instrumentais que, a partir de visões finalistas e autoritárias, querem anular a convivência entre diferentes. A natureza e os sentidos do debate cultural sempre foram muito vivos entre nós e precisam ser resgatados e expandidos para o conjunto da sociedade. Há que superar ideologismos rasteiros, posturas fechadas e diretrizes normativas preestabelecidas e ir ao encontro do pluralismo que marca nossas sociedades para se estabelecer uma relação fecunda entre cultura, modernidade e democracia.
As políticas públicas para a cultura são fruto do ambiente político em que vivemos, bem como da nossa presença nele. São objetivas e subjetivas, simultaneamente, e no caso brasileiro guardam um sentido preciso: a esperança de se construir um país mais democrático, com relações cada vez mais igualitárias, promotoras da alteridade e operadas a partir da plena liberdade de expressão e de manifestação. Seu objetivo principal é garantir a todos e a cada um o acesso amplo às manifestações culturais, bem como à possibilidade de produção simbólica, independentemente de sexo, etnia, credo religioso e origem.
Em termos culturais, um país democrático se constrói quando se pensa a partir de um princípio: o locus da produção cultural é e deve continuar sendo a sociedade civil. Uma política cultural de viés emancipador deve partir desse ponto, mobilizando a participação efetiva, independente e criadora dos produtores culturais. Enquadrar a política cultural a partir de uma lógica de grupos, partidos ou mesmo do Estado sempre criou mais problemas e disfunções do que o florescimento da cultura. Partidos políticos que se fundam nessa lógica não têm dado uma contribuição positiva à sociedade, muito ao contrário. Como afirmou Norberto Bobbio, “a política da cultura é uma posição de abertura máxima em direção a posições filosóficas, ideológicas e mentais diferentes, dado que é uma política relativa àquilo que é comum a todos os homens de cultura e não atinente ao que os divide”; é, no fundo, “uma política feita pelos homens de cultura para os próprios fins da cultura”.
Sabemos que a produção de cultura necessita do apoio do Estado para se tornar viável. O engajamento do poder público vem da consciência de que boa parte da produção cultural não é capaz de sobreviver a contento numa sociedade predominantemente mercantilizada. Por isso o impulso e o estímulo à criação artístico-cultural devem procurar combinar suas ações, sempre que possível, buscando um equilíbrio entre o Estado e as exigências do mercado.
Mas é importante compreender que a política cultural, ao incentivar, promover, proteger e difundir a cultura em todas as suas formas e expressões, visa também a aproximar cultura de cidadania, atribuindo às manifestações culturais o status de um direito. Um dos dados mais importante da conjuntura que vivemos é o fato de que o País assimilou a necessidade de se estabelecer uma conexão entre as instituições políticas da democracia e os desafios abertos com a atual “revolução cidadã” que a Nação vive desde as manifestações de 2013. Nada a estranhar: nossa cultura sempre foi mais criativa quando se abriu e realizou o embate político, sem receio e sem preconceitos, envolvendo, na criação e na crítica, intelectuais e artistas de diversos matizes.
Claro está, portanto, que uma política cultural supõe e exige comprometimento com a trajetória democrática do País, além de imparcialidade e incorporação de uma visão pluralista que brota da sociedade. Supõe também a recusa à famigerada barganha político-eleitoral que muitos governos – até os que se declaram de esquerda – acabaram por reproduzir, mesmo que embalada em maquiagens modernas, contribuindo com a reprodução de uma visão oligarquizada e patrimonialista do Estado, nefasta à democracia. Uma política cultural democrática deve ser aberta e projetada para servir à cultura e só a ela. Deve fazer jus à ideia de que a cultura é uma esfera social e humana que supre e, ao mesmo tempo, gera novas necessidades culturais.
Integrados ao mundo como sempre fomos, nós, brasileiros, invariavelmente nos inclinamos a promover uma perspectiva cultural de superação das fronteiras artificiais e reducionistas que opõem o caráter popular ao erudito, essa “muralha chinesa” mental que vem criando obstáculos à intersecção dessas duas dimensões culturais da nossa formação histórica. Algo que nunca fez muito sentido porque nossa cultura sempre expressou hibridismo e uma mescla étnica que impediram o estabelecimento de guetos culturais e populacionais, como em outras histórias nacionais.
Uma política cultural progressista se pauta, portanto, na máxima qualificação da produção cultural, seja ela de perfil popular ou não. O País precisa resgatar e dar um novo curso a essa visão. Trata-se de uma tarefa que depende – mas a supera – da esfera dos artistas e intelectuais e deve ser assumida por toda a sociedade.
O embate desastroso provocado na sessão do Prêmio Camões só contribuiu para impedir que se discuta com abertura, pertinência e profundidade o que deve ser discutido na área cultural. Foi, mais uma vez, a imposição de uma narrativa estapafúrdia que só faz consumir nossas melhores energias.
*Alberto Aggio é historiador, é professor titular da UNESP
Fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,cultura-modernidade-e-democracia,70001686453
“O que é ser de esquerda hoje” abre o primeiro dia de palestras no I Encontro de Jovens Lideranças
Com a presença do deputado Davi Zaia, deputado e presidente interino do PPS, e do diretor geral da FAP e jornalista Luiz Carlos Azedo se iniciaram hoje, domingo, as palestras do I Encontro de Jovens Lideranças do PPS/FAP, evento que reúne em média 50 estudantes oriundos de todo o Brasil e que consiste em um treinamento em formação de equipes e exercício de lideranças. Na abertura Davi Zaia disse da importância do jovem na política brasileira e da necessidade de novas lideranças. Logo após o jornalista Azedo palestrou sobre o tema: O que é ser de esquerda hoje?
Na palestra Azedo apontou que parte da esquerda precisa se atualizar deixando os dogmas no passado, afinal o mundo mudou, fronteiras foram vencidas, a informação se globalizou e a tecnologia tem modificado as formas de trabalho. A palestra foi finalizada com o jornalista dizendo que não há uma resposta concreta sobre o que é ser de esquerda atualmente, porém ela deve dar conta de abarcar temas principais que acometem a sociedade nos dias de hoje, como: meio-ambiente, igualdade de gênero e racial, sustentabilidade e democracia!
Após a palestra os jovens tiveram a oportunidade de fazer perguntas a mesa, dentre as principais, a preocupação com o governo Trump e como ele tem incentivado ondas nacionalistas na Europa. Também indagaram se hoje, de fato, há a necessidade de se declarar como sendo de direita ou de esquerda.
No decorrer do dia foi feita uma um dinâmica em duplas, na qual cada integrante da dupla após conversa para conhecer seu companheiro o apresentava para todo o grupo. A dinâmica foi bem animada e parte dela foi transmitida ao vivo pela Fanpage da FAP (na qual se pode acompanhar várias postagens diárias sobre o evento). Por fim, após o jantar foi realizado debate sobre o filme visto na noite anterior – Sentidos do Amor.
O evento sediado na colônia Kinderland, próxima a cidade do Rio de Janeiro, vai até a próxima sexta-feira, 24/02, e contará ainda com a presença de diversos intelectuais, atores e artistas que poderão contribuir na formação destes jovens.
Por Germano Martiniano - Formado em Relações Internacionais pela UNESP/Franca e assessor de comunicação da FAP
O totalitarismo e a democracia
Podemos ver o totalitarismo, e a justo título, como o império do mal, mas isso não implica de todo que a democracia encarne, em todo o lado e para sempre, o reino do bem.
Tzvetan Todorov
A anti-globalização: do subcomandante Marcos a Trump
O protecionismo triunfa nos países mais desenvolvidos do mundo ocidental, nos quais nasceu a ideologia neoliberal
Em 01 de janeiro de 1994 se levantava no México o Exército Zapatista de Libertação Nacional, chefiado pelo subcomandante Marcos. Trata-se do dia em que entrou em vigor o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, o Nafta. Alguns consideram que este evento foi a primeira resposta à globalização, ou seja, o marco fundacional dos movimentos altermundialistas.
Em seguida, vieram mais protestos: entre o final dos anos 1990 e início dos 2000, cada cúpula dos organismos propulsores da globalização, bem como os seus signos de identidade, como o livre comércio, a desregulamentação e a liberalização e, em última análise, a eliminação das fronteiras para o capital (Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial), se tornariam palco de protestos dos altermundialistas, como se denominavam seus protagonistas, uma vez que não propunham acabar com a globalização, mas sim construir um outro modelo para ela ("outro mundo é possível" era seu lema). No inventário de eventos, encontramos em Madrid, onde se celebrou o cinquentenário do FMI, a importantíssima contra-cúpula de Seattle, contrária à OMC, Génova, Gotemburgo, Barcelona, Praga. Ao mesmo tempo, os fóruns sociais surgiram como caminhos, sendo o mais importante o de Porto Alegre (Brasil), onde diferentes movimentos de todo o mundo se reuniram para discutir os problemas globais e, sobretudo, para se sentirem em comunidade.
Nestes encontros contrários a globalização neoliberal, que também eram reuniões internacionais de contestação a um sistema que se expandiu e se radicalizou desde os anos oitenta com Thatcher e Reagan e, especialmente, depois da queda da União Soviética, seu único e grande rival histórico, surgiram pessoas de muito brilho, de grande personalidade, e até mesmo com aura. Talvez pudessem ser comparados aos filósofos e ativistas de maio de 68. Entre os protagonistas da anti-globalização havíamos mencionado Marcos. Outro nome que merece ser apontado é o de José Bové, sindicalista agrário, ativista anti-globalização, defensor da soberania alimentar, e co-fundador da ATTAC, em 1998. Bové também foi candidato à presidência da República Francesa, porém com péssimos resultados.
A ATTAC, grande instituição antiglobalização ainda atuante, nascia como um grupo de pressão, que defendia a introdução de um imposto sobre as transações financeiras internacionais, a chamada taxa Tobin, com o duplo objetivo de, por um lado, reduzir a especulação nos mercados e, por outro, ajudar a compensar, ainda que minimamente, algumas sociedades que estiveram à margem dos predicados reais da globalização. A globalização era acusada de desestruturar economias nacionais e desprezar os princípios democráticos, impondo pressões sobre os Estados para liberalização e desregulamentação econômica, aumentado as desigualdades sociais. Estas eram mais ou menos as ideias expressas por Ignacio Ramonet em um editorial publicado no “Le Monde Diplomatique” em 1997, no momento da crise asiática. Ramonet, também co-fundador da ATTAC, foi um dos principais disseminadores da anti-globalização.
No rastro da queda do Muro de Berlim e, posteriormente, da URSS, quando o capitalismo se apresentava sem um modelo rival, de modo que se criavam condições para que se expandisse em todo o mundo em sua forma mais pura, a União Europeia dava o maior impulso de sua história para a sua integração: em 1992, firmou-se o de Tratado Maastricht e, em 2002, o euro começou a circular nas ruas de doze países europeus. A mini-globalização europeia também sofreu contestações, ainda que minoritariamente. Na Espanha, a “Esquerda Unida” se colocou contra Maastricht. Na França, houve uma mobilização relativamente importante contra o projeto de constituição europeia. Além disso, houve dois casos altamente divulgados: os da Dinamarca e do Reino Unido, que não renunciaram à sua soberania monetária. Hoje, esses dois países ainda seguem fora do euro e um deles iniciou o processo de auto exclusão da União Europeia.
O grande paradoxo
Muitos anos após os primeiros protestos contra a globalização passamos a falar de “desglobalização”. Não se trata apenas de reclamações e protestos da sociedade civil. Agora se trata de vitórias que estão apontando forças do próprio sistema (o Partido Republicano americano, por exemplo) apoiadas em determinadas ocasiões por outsiders (Donald Trump, um homem de negócios que apresenta sua faceta mais heterodoxa se tornando um político anti-elites). Além disso, a ideia de desglobalização triunfa em países centrais, nos maiores do mundo ocidental, nos mesmos locais de nascimento da ideologia liberal.
O paradoxo é enorme: 23 anos após o levante zapatista, é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaça as empresas americanas com as tarifas para os produtos fabricados no México a serem vendidos nos EUA. Ademais, Trump alerta para uma futura renegociação do NAFTA e apela pela saída norte americana do Tratado Transpacífico (TPP). Somado a isso, em seu primeiro discurso como presidente, Trump fez um apelo para que as empresas dessem prioridade aos trabalhadores americanos. Prometeu recuperar os empregos perdidos e a riqueza para a classe média americana, perdidos, em sua análise, em consequência da globalização. No Reino Unido, os cidadãos decidem, em um referendo chamado pelo primeiro-ministro do Partido Conservador, se excluir da União Europeia. A Frente Nacional de Marine Le Pen aproveita as “vitórias” de Trump e do Reino Unido para declarar que a próxima ocorrerá na França, que também procura retrair-se para as limitadas fronteiras do Estado nacional. E talvez poderemos ver algo semelhante na Itália, onde a Liga do Norte, o Movimento Cinco Estrelas e Forza Italia planejam, mais ou menos abertamente, um referendo para deixar o clube europeu. Como dito no fim de semana passado, a extrema-direita europeia se reunia, encorajada pelos bons agouros que Trump lhes transmitiu dias antes: haverá mais rupturas na Europa similares ao “Brexit”.
O descontentamento gerado pela globalização está se manifestando nos países que eram considerados os grandes vencedores do livre mercado global. Explica-se, talvez, porque tenham negligenciado que mesmo dentro destes países beneficiados pelo desaparecimento das fronteiras do capital haveria grupos sociais excluídos, ou seja, às margens da globalização. Estes grupos não são apenas afetados na vida material (as deslocalizações os deixaram sem trabalho e as migrações fazem com que o valor de sua força de trabalho seja reduzido), mas também na vida "espiritual": as diluições das fronteiras parecem ameaçar a identidade dos grupos mais fracos. Daí a retração das identidades ante a novos fenômenos, como o afluxo de refugiados para países onde a imigração tem sido quase inexistente, como a Hungria e outros países da Europa Central e Oriental, outro foco geográfico principal da desglobalização.
A anti-globalização que venceu as eleições no Sul a que vence no Norte
A anti-globalização, por sua vez, teve sucessos institucionais nos países emergentes, particularmente na América Latina, como escreveu o vice-presidente boliviano Álvaro García Linera, no jornal argentino Página 12: "Os primeiros passos em falso da ideologia da globalização são sentidos no início do século XXI na América Latina, onde os trabalhadores, plebeus urbanos e rebeldes indígenas se aglutinam para tomar o poder do Estado. Combinando maiorias parlamentares com ação de massa, os governos progressistas e revolucionários implementaram uma variedade de opções pós-neoliberais mostrando que o livre mercado é uma perversão econômica passível de ser substituída por modelos de gestão econômica muito mais eficientes para reduzir a pobreza, criar igualdade e promover o crescimento econômico".
“Existe alguma relação entre o altermundialismo de vinte anos atrás com as estratégias nacionalistas de hoje?” Jaime Pastor, professor do Departamento de Ciência Política e Administração da Universidade Aberta, afirma que o movimento de duas décadas atrás foi uma resposta à globalização financeira e neoliberal, a concentração de poder nas mãos de grandes empresas multinacionais, ao ataque à propriedade comunal indígena; foi um movimento contra a "globalização feliz". Por outro lado, em sua opinião, Trump e Brexit representam uma reação à crise dessa "globalização feliz". Ambos, surgem, diz Jaime Pastor, para defender a prioridade nacional na sua qualidade de grandes potências. Há também neles, na opinião do professor, razões competitivas: querem sair com o mínimo de danos possíveis da desaceleração econômica. Os desglobalizadores atuais se apoiam, continua Pastor, no sentimento de piora nas condições de vida de uma parcela da população, a saber, as vítimas da desindustrialização do norte. Em suma, o que estamos testemunhando agora, como afirma Pastor, é uma combinação de egoísmo nacionalista de grande potência que se apoia no mal estar popular daqueles que perderam com as deslocalizações de empresas que percorriam o mundo em busca de redução de custos e maximização do lucro.
Na mesma linha, Jorge Fonseca, Professor de Economia Internacional da Universidade Complutense de Madrid e membro do Conselho Científico da ATTAC, afirma: "Por enquanto, o que existe é luta pela hegemonia na globalização em que os Estados Unidos perderam seu status de potência hegemônica absoluta e que agora buscam recuperá-la “renegociando a globalização”, que permanecerá neoliberal, a menos que uma crise profunda como a dos anos trinta tenha força para romper com este cenário”. Continua Fonseca: "Na verdade, os movimentos anti-sistêmicos são altermundialistas e a suposta atitude anti-globalização de Trump é, na verdade, uma chantagem para renegociar com mais vantagem os termos dos acordos de livre comércio num momento em que os Estados Unidos estão socialmente divididos. E não são comparáveis as políticas de soberanias "defensivas" dos países latino-americanos com as ofensivas nacionalistas de países como os EUA ou o Reino Unido. Enquanto uma procura limitar espoliação internacional, a outra procura irá aumentá-la".
O economista Ramón Casilda observa que, na verdade, Donald Trump não fez campanha contra a globalização, de modo que o presidente dos EUA está apenas lançando propostas para resolver os sintomas gerados por seus efeitos negativos sobre a economia dos EUA, recorrendo a um modelo antigo, o da industrialização por meio de substituição de importações.
Miguel Angel Diaz Mier, professor da Universidade de Alcalá, sintetiza uma possível resposta ao que está acontecendo: "Uma questão importante é definir o que se entende por globalização, cuja principal característica é se tratar de um processo dinâmico. Consequentemente, parece claro que a globalização do século XXI tem algumas das características em comum, ainda que não todas, com a globalização do século XX. Nesse sentido, é possível falar de desglobalização, embora pareça claro que a ideia de globalização será definida novamente". Assim, as características da nova globalização podem responder, de acordo com Diaz Mier, a novas situações como a luta contra as alterações climáticas, as respostas à migração, com o seu impacto sobre a divisão internacional do trabalho. O capitalismo entrou, portanto, em uma dinâmica que deve ser acompanhada de perto.
Porém, frente aos recentes acontecimentos, a questão é saber se houve mais vítimas no norte do que no sul, dado que no norte a antiglobalização agora triunfa, enquanto que no sul, gradualmente, governos que a ascenderam na América Latina agora se dissolvem.
"Vítimas existiram no norte e no sul", disse Pastor. Mas talvez se manifestaram em diferentes momentos históricos. No sul, a antiglobalização explodiu com a força institucional na década de noventa, após as imposições de políticas de ajuste e de super-exploração de recursos e trabalho praticadas ao longo dos anos oitenta. A queda de alguns líderes de esquerda nos últimos anos na América Latina se deve, de acordo com Gonzalo Berrón, pesquisador associado da TNI (Transnational Institute), falando do Brasil, ao fato de que a crise econômica impediu que se cumprissem as promessas de bem-estar. Tais promessas não foram cumpridas sobretudo para as classes médias. "Estamos em uma inversão de ciclo. A primeira onda anti-globalização levou ao poder governos progressistas, que não corresponderam às expectativas, de modo que agora estamos tornando a opções liberais", descreve Berrón.
Em comparação com o sul, continua Pastor, os trabalhadores do norte foram privilegiados, embora estes últimos parecem ter acabado por deflagrar um movimento que Pastor chama de “o chauvinismo do declínio do bem estar". Mas de qualquer modo, como afirmou Fonseca, "esta globalização, neoliberal e de predomínio das finanças e domínio monopolista das grandes multinacionais, é prejudicial para o desenvolvimento não só dos países do Sul, mas também para os desenvolvidos, onde crescem a desigualdade e a pobreza. A exceção é a China, que está passando por um processo de industrialização contínuo de mais de trinta anos e mais limitadamente seus países vizinhos, como Malásia e Vietnã, que melhoraram seu nível de desenvolvimento humano de acordo com as Nações Unidas, mas também encaram limites difíceis de se superar. "
Os últimos movimentos que surgiram nos países desenvolvidos são muito institucionalizados e procuram ganhar poder de forma convencional em parte porque seus protagonistas saem do próprio poder. Há vinte anos, a anti-globalização, como Pastor Jaime define, foi um movimento de nômades, com pouco alcance em território nacional. E sua força sempre limitada se esgotou rapidamente. Talvez, como Pastor observou, seu último episódio foi a mobilização contra a guerra no Iraque. Desse modo, terminou a onda de antiglobalização progressista no norte. "Não houve tempo para um alcance a nível de estado nacional no norte, ao contrário Sul", afirmou Pastor. Os movimentos antiglobalização não se concretizaram no norte e pareciam sempre minoritários. Isto, para além da suas idiossincrasias horizontais e quase espontâneas, também se deu por outras razões, como explica Gonzalo Berrón: "O primeiro lugar da antiglobalização foi o Sul, a América Latina, porque se opôs mais fortemente ao Consenso de Washington, que impunha desregulamentação e liberalização. No norte, é verdade que naqueles anos houve uma realocação significativa de empresas para outros países com custos trabalhistas mais baratos, mas isso pôde ser compensado pelo crescimento no setor de serviços e o forte crescimento do consumo. A reação à globalização entrou em vigor na América do Sul com governos progressistas que detiveram seu fluxo. O próprio Morales era parte do movimento anti-globalização, por exemplo. Acrescenta Berrón: "Agora parece que os efeitos nocivos da globalização chegaram ao norte e foram acentuados pela crise que eclodiu em 2008 e trouxe não só uma longa recessão, mas também cortes e ajustes". Os anos oitenta da América Latina correspondem à segunda década de 2000 na Europa?
Há vinte anos, os movimentos antiglobalização partiam de dentro da esquerda. Agora aqueles que triunfam são patrimônio da direita. Nos países desenvolvidos, em vez de se atacar o neoliberalismo ataca-se os imigrantes, vistos como os perdedores ocidentais da globalização, ou os chineses, que produzem mais barato, o que leva a uma guerra entre pobres e empobrecidos, como observa Pastor.
E, ainda de acordo com Pastor, a social-democracia tem sido um dos motores da globalização, enquanto que outros setores da esquerda se concentraram mais em outros movimentos. Por outro, lado, movimentos como o Podemos se encontra enraizado em movimentos antiglobalização. Na verdade, muitos de seus líderes participaram da sua mobilização e também de sua institucionalização na América Latina. Berrón aponta também o sucesso de líderes de esquerda, como Bernie Sanders nos EUA ou Jeremy Corbyn no Reino Unido. O primeiro quase venceu a batalha contra Hillary Clinton para a candidatura à Presidência pelo Partido Democrata. O segundo se consolidou como líder do Partido Trabalhista britânico, sendo seu representante mais à esquerda das últimas décadas, embora às vezes pareça dar credibilidade às inquietudes das posturas anti-imigração, atribuídas as bases tradicionais do trabalhismo.
De qualquer forma, Jaime Pastor acredita que o verdadeiro fracasso, a responsabilidade pela globalização que se arruína e que agora fará esses perdedores se sentirem um pouco órfãos da esquerda (ou mesmo capturados pela nova direita nacionalista?) está no movimento operário: "os sindicatos apontaram para o neocorporativismo competitivo nacional. Na melhor das hipóteses, eles deram um ‘sim crítico’ para eventos tais como o Tratado de Maastricht na Europa. Eles não responderam à desvalorização da força de trabalho, tanto dos salários diretos quanto indiretos".
Evidências da Desglobalização?
A anti-globalização tem se consolidado na cena política do norte, mas é possível visualizar evidências quantificáveis mundo afora de desglobalização? A verdade é que os bancos de investimento e o mundo financeiro como um todo estão preocupados com esta questão. Em relatório recente do Bank of America, Merrill Lynch diz: "A era do comércio livre e da mobilidade de capital e trabalho que se desenvolveu entre 1981 e 2015 parece estar chegando ao fim. Eleitorados estão virando para uma direção anti-imigração. O populismo contrário ao livre-comércio está crescendo (a pesquisa recente mostrou que 65% dos americanos dizem que as políticas comerciais têm levado a uma queda do emprego nos EUA, em comparação com 13% que acreditam que estas criaram trabalho). As eleições do Brexit e dos norte-americanos representam reações de repúdio populista do status quo global”. Martin Wolf, do Financial Times, também se mostra preocupado com este assunto: "Com a era da globalização chegando ao fim, o protecionismo e o conflito irão definir a nova fase?", pergunta em um artigo recente. E Nouriel Roubini encabeçando outro artigo diz: "América primeiro e, depois, conflito global ".
Para David Lubin, de Citi, a desglobalização é uma evidência. Desde 2012, ele observa um crescimento dos limites ao livre comércio, bem como uma nova reação dos países emergentes que realizam estratégias de redução da dependência econômica em relação ao estrangeiro, isto é: estratégias econômicas nacionalistas. Não só Polônia, Hungria e Rússia seguiram esse caminho. A China também está tentando depender menos das exportações para o exterior em troca de reforço do consumo interno. Por isso, para Lubin, a Argentina de Macri ou o Brasil de Michel Temer parecem um anacronismo por continuarem tentando adotar políticas para parecerem confiáveis aos olhos do capital estrangeiro. Embora o nacionalismo econômico traga taxas de crescimento modestas, ao que parece, aos olhos de Lubin, é o mais apropriado para o contexto atual.
O analista financeiro Juan Ignacio Crespo cita a Organização Mundial do Comércio demonstrando que, entre outubro de 2015 e maio 2016, o G-20 adotou 145 leis para levantar barreiras protecionistas. Desde 2008, 1.500 medidas deste tipo foram aprovadas. Crespo aponta também para as estimativas do economista britânico Simon Evenett, segundo as quais qual existem cerca de 4.000 leis e regras protecionistas registradas no mundo, 80% destas no G-20, que são responsáveis por 90% do comércio mundial. Ou seja, antes de Trump e Brexit, já existiam medidas para limitar o livre comércio, que agora podem ir mais longe.
É a crise ou a globalização?
Para Juan Ignacio Crespo, os resultados políticos que estamos vendo no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Áustria, onde a extrema direita chegou às portas do governo, resultam da pequena desglobalização que havia começado por conta da crise. Crespo recorda que em 2008 o comércio mundial desabou completamente e agora está crescendo a taxas mais baixas do que o PIB, embora isso se explique também pelo arrefecimento da China e seu menor consumo de matérias-primas. O declínio no comércio mundial é uma das manifestações da crise econômica e piorou as condições de vida de certos grupos sociais, que votaram nestas novas forças políticas, mais por cansaço que por convencimento. Neste fato encontram-se as razões pelas quais houve uma rebelião contra as elites, mas que, ainda assim, de acordo Crespo, não é muito grande: o Brexit venceu por pouco e nos EUA em voto eleitoral, Hillary Clinton venceu.
Para Crespo, a precarização e a insegurança coletivas que estão por trás das novas vitórias eleitorais não se devem à globalização, mas a crise econômica e as novas tecnologias. O mal-estar é oriundo da crise econômica que levou a canalização de forças como o Podemos na Espanha e Donald Trump nos Estados Unidos. Talvez, poder-se-ia ter evitado todo esse processo que estamos vivendo nos últimos anos se não houvesse eclodido a crise financeira, o que poderia ter sido evitado caso o setor financeiro não houvesse sido desregulamentado, o que, como diz Crespo, teria sido muito difícil de alcançar em um contexto de prosperidade econômica.
O economista Ramón Casilda, que acaba de publicar Crise e reinvenção do capitalismo, nos dá uma outra visão. Na verdade, a globalização é uma consequência do capitalismo. E, talvez, se a globalização não passa por seu melhor momento é por conta da crise do capitalismo. Em sua opinião, o que precisa ser abordado é se esta crise é temporária, se é uma fase passageira para recuperar a forças ou se está anunciando o declínio do próprio sistema.
Uma desglobalização favorável para o desenvolvimento interno dos países?
Em qualquer caso, esta desglobalização, que já pode demonstrar alguma evidência, pode contribuir para o desenvolvimento interno dos países até agora excessivamente dependentes de outros? Pode-se fixar isso criticando a injusta divisão internacional do trabalho que emergiu da globalização ou esta tornou-se crônica por sua culpa? Para Crespo, o auto-desenvolvimento não é mais útil, porque a globalização faz com que todos no mundo se tornes dependentes. Se os países emergentes precisam de capital, os desenvolvidos possuem a necessidade de colocar seu excesso de liquidez. Foi construído um sistema, em sua opinião, em que todos tiram proveito de todos. A própria Espanha, diz ele, viveu este processo de desenvolvimento: a Espanha também era um país emergente que se abriu para o exterior, atraindo investimentos e, em seguida, sofreu deslocalizações para substituir aquelas indústrias por um setor de serviços altamente desenvolvido, ainda que, acrescentamos, nunca de maneira suficiente, de acordo com a elevada taxa de desemprego, que tem sofrido a economia doméstica.
Mas Berrón acredita que a globalização não resultou no desenvolvimento das economias latino-americanas. A indústria que chegou não foi capaz de gerar cadeias produtivas. O Cone Sul foi condenado a uma inclusão subordinada e dependente do norte. Sua inserção internacional era apenas como um fornecedor de matérias-primas ou bens de pouco valor agregado. Embora, em seguida, as estratégias de desenvolvimento interno que os governos progressistas colocaram em prática foram ineficazes na sua implementação, em seu desenho, ou porque o ambiente global impediu seu sucesso. Por isso Berron não confia no sucesso das estratégias de re-nacionalização. Especialmente porque é possível que a onda desglobalizadora não dure o suficiente para países da periferia global desenvolverem suas próprias estratégias. E se acaso prolongar-se no tempo, antecipará grandes movimentos nas placas tectônicas dos processos do sistema e de transformação que não vão ser nada suaves. No final, todos eles se rearmariam para uma nova realidade, embora possa levar anos, já que a globalização tem desmantelado modelos de auto-desenvolvimento e de desenvolvimento regional. "Se Donald Trump se consolidar enquanto um líder nacionalista e fizer o que diz, o mundo pode ser outro", resume Berron.
Uma nova onda anti-globalização progressista?
No norte, ou talvez globalmente, tem havido uma retomada da anti-globalização progressista, apesar de seu pequeno reavivamento contra TTIP e CETA, mas Gonzalo Berrón antecipa uma nova onda, que deve ser contrária a Trump e contra a globalização neoliberal enquanto sistema, e não em relação suas manifestações concretas sob a forma de acordos de livre comércio. Esta última, diz, é insuficiente. Assim, começa-se a apostar em medidas para desprivatizar a democracia tornando-a pública, de modo que o Estado passe a financiar as eleições e campanhas eleitorais em vez de o mercado, com vistas a impedir que magnatas como Trump não iniciem a disputa em vantagem. Ademais, também têm-se empreendido uma luta na ONU para que se imponham obrigações às empresas multinacionais no intuito de reequilibrar as desigualdades geradas pela globalização; também há comprometimento em relação a um severo questionamento da propriedade intelectual e das patentes sob as quais se construíram grandes impérios que mercantilizam a vida; além disso, também se aposta na recuperação do acesso a natureza como um bem comum que agora se encontra nas mãos de companhias ligadas à indústria alimentícia e a exploração de recursos minerais. Com estas reinvindicações o movimento anti-globalização das esquerdas pretende capitalizar a revolta global. Chega tarde? Não sabemos, mas como disse Jorge Fonseca, o que agora está em causa no mundo é se se aposta na humanidade ou na depredação selvagem: “uma globalização humanizada deve ter o objetivo de favorecer as pessoas com um modelo econômico socialmente justo e ambientalmente sustentável. Na verdade, nem sequer devemos falar sobre "globalização", que é uma categoria desprestigiada. Caminhemos rumo a uma sociedade mundialmente humanizada.”
Cristina Vallejo é jornalista especializada em finanças e socióloga.
Fonte: http://ctxt.es/es/20170118/Politica/10625/globalizaci%C3%B3n-Seattle-Zapata-Trump-portoalegre-nafta.htm#.WIivOQkMya0.facebook
Tradução e revisão de texto: Germano Martiniano, Marcus Oliveira e Victor Missiato
Luiz Werneck Vianna: O caminho difícil para 2018
Publicado no Estado de S. Paulo em 05/02/2016
Nesse ano temos um encontro com o destino e não se deve chegar a ele de mãos vazias
No ano de 2018, ainda tão distante de nós, temos um encontro marcado com o destino, e não se deve chegar a ele de mãos vazias. O tempo não para, advertia o bardo, e se o futuro a Deus pertence, a ação da providência não nos subtrai a liberdade, na primorosa argumentação de Giorgio Agamben no capítulo final deO Reino e a Glória. Como o autor procura demonstrar, “liberdade ( livre-arbítrio) e servidão ( necessidade) se esfumam uma na outra”, tal como na metáfora famosa de Adam Smith sobre a ação de uma mão invisível que atuaria sobre o mercado de modo benfazejo, mas se suportaria na livre atividade dos homens. Tocqueville, por sua vez, tratou do avanço dos valores e instituições da igualdade como um movimento irresistível guiado providencialmente, cabendo aos contemporâneos, pela ação consciente, torná-la compatível com os valores da liberdade, que somente poderiam subsistir se ancorados em instituições que os defendam.
Naquele ano deveremos comemorar 30 anos da Carta de 1988 – a mais longeva da nossa História republicana, o que não é pouco para um país com nossas tradições – e a agenda política do País prevê a abertura do processo de sucessão presidencial, para não falar da Copa do Mundo na Rússia, quando teremos a oportunidade de um acerto de contas com o fiasco da Copa que sediamos. Tirante esta última, até aqui bem encaminhada, sobre as outras, vitais para a democracia brasileira, sobram dúvidas, como se estivéssemos sendo arrastados por processos irrefreáveis para uma convulsão política e social que nos levaria à interrupção da ordem constitucional com que nos desprendemos, nos idos dos anos 1980, a partir das ações de movimentos sociais e de uma ampla coalizão política, da cultura e das instituições autoritárias então dominantes.
Com efeito, temos vivido sob o império da necessidade, entregues ao protagonismo dos fatos. Entre nós, o ator como que se retirou da cena e, sem partidos e lideranças políticas que se façam ouvir, os debates migraram para balbúrdia das redes sociais, que se têm mostrado impermeáveis ao diálogo, empenhadas em lutas de guerrilha estéreis em que a expressão de opiniões mais se apresenta como manifestações narcísicas do que tentativas de busca da persuasão.
O clima de balbúrdia instalou-se também na vida institucional, pondo em risco o equilíbrio entre os Poderes republicanos, evidente nas sucessivas intervenções do Poder Judicial de todas as instâncias em matérias afetas aos demais Poderes – casos mais recentes, a decisão de um juiz, felizmente já revogada, de uma vara federal de Brasília sobre o processo sucessório da presidência da Câmara dos Deputados, lugar de manifestação da soberania popular, e a pretensão de uma entidade da vida corporativa de magistrados de submeter uma lista tríplice à Presidência da República para ocupar a vaga aberta com o trágico falecimento do ministro Teori Zavascki, cuja indicação é prerrogativa constitucional do chefe do Executivo.
Se é verdade, como sustenta Mauro Cappelletti, autor de obra justamente cultuada não apenas por juristas, que o Poder Judiciário se elevou em nosso tempo à posição de Terceiro Gigante na ordem republicana, tal processo veio na esteira de contínuos avanços democráticos a fim de garantir princípios e valores da cidadania respaldados pela ação do Poder Legislativo. Disso são exemplares, entre outros casos, a Carta de 1988 e toda a criação de direitos que se seguiu a ela, inclusive essa figura inédita de um Ministério Público autônomo, dotado da capacidade de provocar o Judiciário em defesa dos direitos por ela criados.
Dessa forma, não responde à verdade efetiva das coisas supor que a crescente presença dos juízes na esfera política se deva unicamente a seu ativismo. Aqui e alhures, tal como Dieter Grimm, ex-presidente da Corte Federal da Alemanha, pontuou em seminário de notáveis especialistas sobre o tema das relações entre o Judiciário e a política no Ocidente. Segundo esse reputado jurista, “na origem, a decisão de autorizar o Poder Judiciário a resolver conflitos” – de natureza política – “não foi devida ao juiz, mas ao poder político. Sem a vontade do político de delegar a resolução de tais conflitos ao juiz, o ativismo judiciário se encontraria destituído de fundamento institucional” (em Les Entretiens de Provence, R. Badinter e S. Breyer, orgs., Fayard, 2003, pag. 24; há versão em inglês).
Os direitos que hoje amparam os brasileiros, principalmente os mais vulneráveis, são obra do Poder Legislativo, ora exposto a injusta execração pública. Decerto que muitos dos seus membros, em cumplicidade com autoridades do Executivo, se deixaram enlaçar por interesses espúrios e praticaram delitos. Tais delitos, contudo, envolvem pessoas singulares e estão sendo objeto de apuração na chamada Operação Lava Jato e julgados pelos tribunais. Mais do que a revelação da prática de crimes, o processo que a desencadeou pôs a nu a má arquitetura de nossas instituições políticas, que somente, aliás, a ação do Legislador pode vir a corrigir.
A balbúrdia de tempos recentes, que já nos acenava para a convulsão social e política, foi dramatizada pela infausta morte do relator do processo da Lava Jato no STF, ministro Teori Zavascki, que detinha em si a confiança generalizada de que esse caso tormentoso encontraria em sua decisão uma solução justa. Tragédia que nos acontece em meio à revelação da barbárie imperante no nosso sistema penitenciário. Estaria aí o momento da agonia final da democracia do regime de 88?
A estridência dos sinais de alarme trouxe de volta a presença do ator. Os vértices do Executivo e do Judiciário passaram a agir de modo a convergir em busca de soluções – caso forte, a recente substituição do relator da Lava Jato –, evitando impasses institucionais.
Ainda não é o caminho de Damasco para 2018, mas já se tem a convicção de que há quem o procure.
* Luiz Werneck Vianna é sociólogo, PUC-Rio
Fonte: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-caminho-dificil-para-2018,70001653359
Sérgio Fausto: A Lava Jato e a ordem democrática
Ao longo da História o Brasil experimentou mais o arbítrio do que a lei. Não apenas porque vivemos a maior parte do tempo sob regimes não democráticos, mas também porque mesmo na democracia a lei foi aqui aplicada desigualmente. Seu peso recaiu, em geral, sobre quem tinha pouco ou nenhum dinheiro, prestígio social e/ou poder político. Contra esse pano de fundo, a Lava Jato representa a possibilidade de uma mudança de época. É um daqueles processos que podem separar um antes e um depois na História.
Sem ser especialista no ramo, não me convenço das críticas feitas à atuação da força-tarefa do Ministério Público (MP) e do juiz Sergio Moro. Advogados criminalistas renomados apelaram a analogias descabidas entre a prisão preventiva e a tortura, como se o País tivesse retrocedido aos anos de chumbo. Pode ter havido abusos no uso daquela, mas a maioria das delações premiadas foi negociada com delatores em liberdade. Tudo sob a tutela do STF.
Curiosamente, o PT adotou argumento semelhante, acusando a Lava Jato de proceder de forma arbitrária, porque supostamente seletiva. Na retórica de combate ao suposto golpe parlamentar contra a presidente Dilma, a Lava Jato e o impeachment foram apresentados como parte da mesma orquestração que visaria a criminalizar o PT e tirá-lo do poder. A alegação se desmoralizou à medida que a operação alcançava outros partidos e lideranças partidárias, incluídos os que passaram a ser governo após o impeachment.
Mais plausível é a crítica dos que apontam os riscos de um certo moralismo salvacionista atribuído aos protagonistas da Lava Jato. Ao exacerbar o senso comum de que “todo político é ladrão” e toda política se resume a um jogo sujo de poder, feito à revelia do cidadão e do interesse público, os promotores de Curitiba e o juiz Moro estariam minando o terreno da política democrática.
O sociólogo Luiz Werneck Viana, que escreveu textos pioneiros valorizando a renovação geracional do Judiciário e o papel do Ministério Público, disse em entrevista a este jornal (25/12/2016) que “tenentes togados” comandam “uma balbúrdia política” com objetivos corporativos. Comparou juízes e promotores de hoje aos suboficiais do Exército que ao longo dos anos de 1920 lideraram revoltas militares contra os governos da República Velha. Ressalvou que os tenentes de farda pelo menos tinham um programa de reforma econômica e social para o País, ao passo que os “togados” não têm a oferecer senão uma “reforma moral”.
A preocupação com a concentração de poder no Judiciário não é descabida, mas Werneck força a barra no argumento. Exagera ao apontar a existência de uma “inteligência organizando essa balbúrdia”. A ideia de que há uma orquestração visando a desmoralizar o sistema político e defender interesses corporativos espúrios desconsidera as rivalidades existentes entre Polícia Federal, promotores de Curitiba e Ministério Público Federal, magistrados de segunda instância e juízes de tribunais superiores, etc. Como o próprio autor reconhece, o aumento do poder do Judiciário é antes consequência do que causa da deterioração do sistema político.
Não resta dúvida de que a loquacidade e o personalismo de alguns membros do Judiciário têm adicionado ruído à balbúrdia institucional. O exemplo mais recente foi a decisão monocrática do ministro Fux declarando inconstitucional, em caráter preliminar, a forma como a Câmara deliberou sobre as dez medidas anticorrupção apresentadas pelo MP. Caso claro de indevida judicialização da política.
Coisa muito diferente é a atuação dos protagonistas da Operação Lava Jato. Em que pesem erros e exageros cometidos, alguns mais na forma que na substância, a força-tarefa sediada em Curitiba e o juiz Moro não se movem por interesses corporativos. Desenvolvem seu trabalho nos limites do devido processo legal, tensionando-os, é verdade, mas em geral sem ultrapassá-los, como atesta o fato de que foram poucas as decisões do juiz Sergio Moro reformadas por instâncias superiores do Judiciário.
Ao contrário dos tenentes nos anos 20 do século passado, eles não agem inspirados em ideologias autoritárias nem visam à derruba do governo pelas armas. Ao ler a realidade de hoje com a lente daquele período, Werneck escorrega no anacronismo e minimiza a importância da Lava Jato para o aperfeiçoamento e mesmo a manutenção da ordem democrática. Computados seus créditos e débitos, sobra, a meu ver, um significativo saldo positivo: um grupo de servidores do Estado brasileiro deslindou e desbaratou um esquema colossal de corrupção, com ramificações no exterior, envolvendo não poucas das maiores empresas do País e vários políticos de destaque, de variados partidos. Como nunca antes na História deste país.
Seria ingênuo minimizar os riscos da Lava Jato. Tanto o de jogar na vala comum do descrédito, quando não das punições indistintas, delitos de gravidade diferente e políticos que não são farinha do mesmo saco, quanto o de terminar em alguma forma de pizza, pela ação do Congresso ou inação do STF.
Concluindo, acreditar que a salvação do País depende de uma “reforma moral” conduzida por “justiceiros” é perigoso. Não se justifica, porém, minimizar o potencial da Operação Lava Jato para enraizar na sociedade a crença no princípio da igualdade perante a lei e para estabelecer um padrão mais rigoroso para a política e os negócios públicos em geral. Sem avanços nessas duas dimensões da moralidade pública, o déficit de credibilidade das instituições e da autoridade do Estado continuará perigosamente alto, assim como os desincentivos para que um número maior de pessoas comprometidas com o interesse público participe da política profissional. A Lava Jato não é condição suficiente, mas é condição necessária para mudar esse quadro, que ameaça a ordem democrática do País.
*Superintendente executivo da Fundação FHC, colaborador do Latin American Program do Baker institute of Public Policy da Rice University, é membro do Gacint-USP
Luiz Carlos Azedo: Refúgios ideológicos
Não é verdade que lutavam pela democracia. Lutavam para tomar o poder e implantar uma ditadura à moda cubana
Não é somente a narrativa do golpe que serve de refúgio para os setores da esquerda ultrapassada que meteu os pés pelas mãos e se lambuzou durante os governos Lula e Dilma. Há outros refúgios ideológicos, como a bandeira do nacionalismo, embora um tanto desmoralizada pelo assalto à Petrobras. Curiosamente, essa foi a trincheira da direita mais xenófoba na Europa desde o fim da Guerra Fria e, agora, mais recentemente, a essência de acontecimentos que colocam em xeque a esquerda mundial. Principalmente dois: a vitória do Brexit na Inglaterra, que está abandonando o projeto da Comunidade Europeia, e a de Donald Trump, nos Estados Unidos, que acaba de anunciar uma nova corrida nuclear.
No Brasil, chegou-se a dizer, no governo Dutra (PSD), que o país não se industrializaria sem a nacionalização do capital estrangeiro e a reforma agrária. No governo de Juscelino Kubitschek (PSD), eleito a partir de uma aliança com trabalhistas e comunistas, aconteceu exatamente o contrário. Anos mais tarde, durante a crise que resultou no golpe militar de 1964, a grande ameaça à hegemonia da esquerda na sucessão de João Goulart (PTB), prevista para 1965, não era a candidatura do então governador da antiga Guanabara, Carlos Lacerda (UDN), mas a volta de Juscelino. Por essa razão, o líder comunista Luiz Carlos Prestes articulava a reeleição de João Goulart.
Às vésperas do golpe, as forças políticas que davam sustentação ao governo de João Goulart estavam profundamente divididas: de um lado, as que defendiam a “política de conciliação” do ex-primeiro ministro San Thiago Dantas, deslocadas do eixo do governo desde o plebiscito que pôs fim ao parlamentarismo; de outro, a chamada “frente nacionalista”, na qual pontificavam Leonel Brizola (PTB), que defendia a nacionalização das empresas estrangeiras e pleiteava a candidatura à Presidência — “Cunhado não é parente!” —, e Francisco Julião, criador e líder das Ligas Camponesas, com sua “reforma agrária na lei ou na marra.”
É meia-verdade a afirmação de que o golpe militar foi obra do imperialismo ianque, cuja frota estava ao largo da costa brasileira. Sim, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos estavam à espreita e seus agentes atuaram intensamente ao lado dos golpistas. Mas o marechal Castelo Branco não era um entreguista, era legalista e patriota.
“Deu o golpe na nossa frente, porque a posição da esquerda era golpista”, disse o último secretário-geral do PCB, Salomão Malina. O erro da esquerda em 1964 foi acreditar que a grande ameaça era Juscelino. E subordinar a questão democrática às bandeiras nacionalistas, porque acreditava que a revolução era nacional libertadora como nos países que lutavam pela independência do colonialismo.
Esse debate é mais atual do que muitos imaginam. Foi ele que dividiu a esquerda após o golpe de 1964, levando seus setores mais radicais à opção pela guerrilha urbana e rural, uma trágica tolice. Os mesmos setores que viam um agente imperialista em cada esquina acreditavam que seria possível resistir ao golpe militar, caso Jango não tivesse deixado o país. Jamais aceitaram que a derrota estava anunciada, porque a maioria da sociedade já havia derivado para a solução de força. E subestimaram o fato de que o Exército brasileiro foi constituído a partir da defesa da integridade territorial, contra dezenas de rebeliões e movimentos insurrecionais.
Saída liberal
Mesmo assim, anos depois, esses setores optaram pela aventura da luta armada. Não é verdade que lutavam pela democracia. Lutavam para tomar o poder e implantar uma ditadura à moda cubana, a começar pela Ação Libertadora Nacional (ALN), de Carlos Marighella. O que deu certo na luta contra o regime militar foi a defesa das reivindicações econômicas, dos direitos sociais e das liberdades políticas. As bandeiras da anistia, da liberdade de imprensa e da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. As Diretas Já foram uma invenção liberal, à qual a esquerda aderiu com gosto. Mesmo assim, muitos acreditavam que a queda da ditadura se confundiria com uma revolução. A derrota dos militares, porém, só veio mesmo com a eleição de Tancredo Neves (PMDB) no colégio eleitoral. Ou seja, a hegemonia da transição foi dos políticos liberais. Daí decorre a democracia que temos e na qual precisamos resolver os nossos problemas.
Feliz ano-novo!
Fonte: http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-refugios-ideologicos/