cultura
Dia Internacional dos Povos Indígenas foca no papel da mulher
ONU News*
Este 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. O tema deste ano é o papel das mulheres indígenas na conservação e transmissão dos conhecimentos tradicionais.
Em mensagem de vídeo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, lembra que elas são as guardiãs de sistemas tradicionais de alimentação e remédios naturais.
Desenvolvimento sustentável e voz das mulheres
Para Guterres, são também as mulheres indígenas que transmitem as línguas e as culturas dos povos indígenas e defendem o meio ambiente e os direitos humanos.
O chefe da ONU afirma que sem dar voz às mulheres indígenas será impossível alcançar equidade e sustentabilidade como previsto na Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável.
A ONU News ouviu a indígena e filósofa brasileira, Cristine Takuá, que falou do estado de São Paulo, sobre a data.
"Se hoje existem florestas, é porque os indígenas são guardiões, grandes sabedores, que dialogam com os espíritos, com as montanhas, os rios, as árvores, com todos os seres, animais, vegetais e minerais. O dia 9 de agosto deve ser lembrado como uma forma de resistência. Uma resistência onde todas as avós, todas as mães, no momento do parto, trazem as crianças ao mundo com uma sabedoria ancestral."
A ONU Mulheres lembra que a transmissão do conhecimento indígena é passada de geração a geração pelas mulheres como um valor imensurável.
Exploração de recursos indígenas sem autorização
E apesar do compromisso internacional para preservar e proteger a cultura e tradições indígenas, ainda existe exploração desses recursos. Em alguns países, objetos sagrados dos indígenas são usados, ameaçados ou patenteados para uso comercial sem autorização.
Para a agência da ONU, é preciso criar regimes legais para garantir que as mulheres indígenas possam ser beneficiadas de seu próprio conhecimento com reconhecimento internacional, evitando o uso ilegal por terceiros.
Por isso, as mulheres indígenas têm que ser parte do processo de decisão de como sua própria herança é usada, mantida e gerenciada.

Biodiversidade e perspectivas
Em março, a Comissão sobre o Estatuto da Mulher encorajou Estados-membros a assegurar que as perspectivas de todas as mulheres e meninas indígenas e rurais fossem levadas em consideração.
A agência da ONU afirma que o conhecimento tradicional dos indígenas tem potencial na erradicação da pobreza, na segurança alimentar biodiversidade e para expandir o desenvolvimento sustentável.
*Texto originalmente publicado no ONU News. Título editado
Revista online | O falso moralismo do neosertanejo
Henrique Brandão*, especial para a revista Política Democrática online (45ª edição: julho/2022)
Recentemente, uma polêmica tomou as páginas dos jornais e invadiu as redes sociais. Tudo por conta do discurso autocelebrativo do cantor sertanejo Zé Neto: "Nós somos artistas que não dependemos da Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no 'toba' para mostrar se a gente está bem ou mal", disse, referindo-se a uma tatuagem da cantora Anitta. Ela retrucou, denunciando que os sertanejos recebiam cachês milionários das prefeituras.
De fato, a frase de Zé Neto foi dita durante um show em Sorriso, cidade de Mato Grosso, com pouco mais de 90.000 habitantes, pelo qual recebeu R$ 400 mil da prefeitura.
O desafio de um país que trata cultura com descontinuidade política
A inflamada declaração do cantor e a reação de Anitta acabaram repercutindo nas redes e chamaram a atenção do Ministério Público (MP), que puxou o fio da meada e descobriu que Zé Neto e seu parceiro de dupla, Cristiano, recebem verbas milionárias de prefeituras de pequenas e médias cidades do interior para se apresentar.
O esquema revelou uma prática explorada com frequência pelos músicos sertanejos. Só em Mato Grosso, o MP anunciou que vai investigar outras 23 prefeituras do Estado que pagaram mais de R$ 1 milhão por shows do gênero.
Atacar a Lei Rouanet e denunciar outros artistas que recebem dinheiro por meio de seu mecanismo é o esporte preferido de artistas bolsonaristas. No caso de Zé Neto, faltou ele dizer que o seu cachê foi pago com dinheiro público.
A coisa funciona assim: a prefeitura decide qual cantor ou grupo quer contratar e o faz sem licitação. A dispensa ocorre porque há apenas um fornecedor do serviço, que é o artista em questão. Rastrear a origem do dinheiro e, principalmente, descobrir a planilha de gastos desses eventos é difícil, pois as prefeituras dão pouca transparência aos gastos. E, assim, de município em município, os agraciados com a verba pública enchem o bolso.
A comparação desse esquema com a Lei Rouanet é, no mínimo, equivocada. Ao contrário da facilidade com que a verba municipal usufruída pelos artistas sertanejos é liberada, quem pretende levantar recursos, por meio da lei federal, enfrenta uma via crucis na burocracia até ter seu projeto aprovado. No momento em que faz a proposta, é preciso detalhar todos os gastos para a realização do projeto. Tudo é checado e controlado, além de publicado em um portal. Concluído o projeto, há uma rigorosa prestação de contas.




















Com autorização do governo, o produtor tem que correr atrás de empresas aptas a financiar o projeto, com recursos de impostos devidos, advindos de renúncia fiscal.
A Lei Rouanet surgiu em contraposição à débâcle que foi o governo Collor para a cultura. Contra o estrangulamento do setor, lançou-se mão de uma lei de uso do imposto devido para o financiamento de projetos para a área. Há regras públicas e critérios para a seleção. A lei vinha, ao longo do tempo, sendo debatida e aperfeiçoada. Com Bolsonaro, e suas fake news, foi tudo jogado ao mar e estigmatizado.
Se Zé Neto soubesse que atrairia os holofotes por seu comentário indelicado a respeito de Anitta, provavelmente teria ficado de boca fechada. O rebuliço acabou atingindo outros figurões desse gênero musical. Que o diga Gusttavo Lima, bolsonarista que lota shows em feiras agropecuárias, onde é comum defender Deus, pátria e família entre uma música e outra. Surpreendido com a mão na cumbuca, fez chororô nas redes ao saber que o MP investigaria suas apresentações.
O Brasil deixou há muito de ser um país essencialmente agrário. O caipira de hoje não é mais aquele ingênuo personificado por Mazzaropi nos cinemas. O sucesso do agronegócio moldou um novo perfil. O cowboy norte-americano moderno é agora o ícone – self made man com uma pistola na cintura, vastas terras, hipervalorização do dinheiro e valores conservadores. Preservação ambiental, para ele, é pasto para o gado. A referência é J.R. Ewing, o magnata texano da série “Dallas”, sucesso mundial dos anos de 1980.
Tudo isso trouxe à baila uma estética também nova: saem Pena Branca e Xavantinho, já falecidos; adeus Milionário e Zé Rico, com um Brasil cantado em moda de viola. Foram substituídos por um sertanejo anódino, que cresce que nem mato ruim.
Mas, curiosamente, hoje existe um Brasil caipira que é um contraponto às duplas sertanejas. Ele é consumido na tela de TV, na novela “Pantanal”. Começa pela trilha sonora, repleta de Almir Sater, Renato Teixeira e outros poetas do sertão. A natureza aparece em todo seu esplendor, valorizada.
O que vemos na telinha não é um Jardim do Éden, longe disso, nem tampouco um retrato realista do país. Se tivesse que escolher, no entanto, arriscaria dizer que é melhor para a saúde do brasileiro assistir a um capítulo de “Pantanal” do que ter que encarar um show do neosertanejo, com suas consoantes repetidas e a hipocrisia do falso discurso moralista,
Sobre o autor
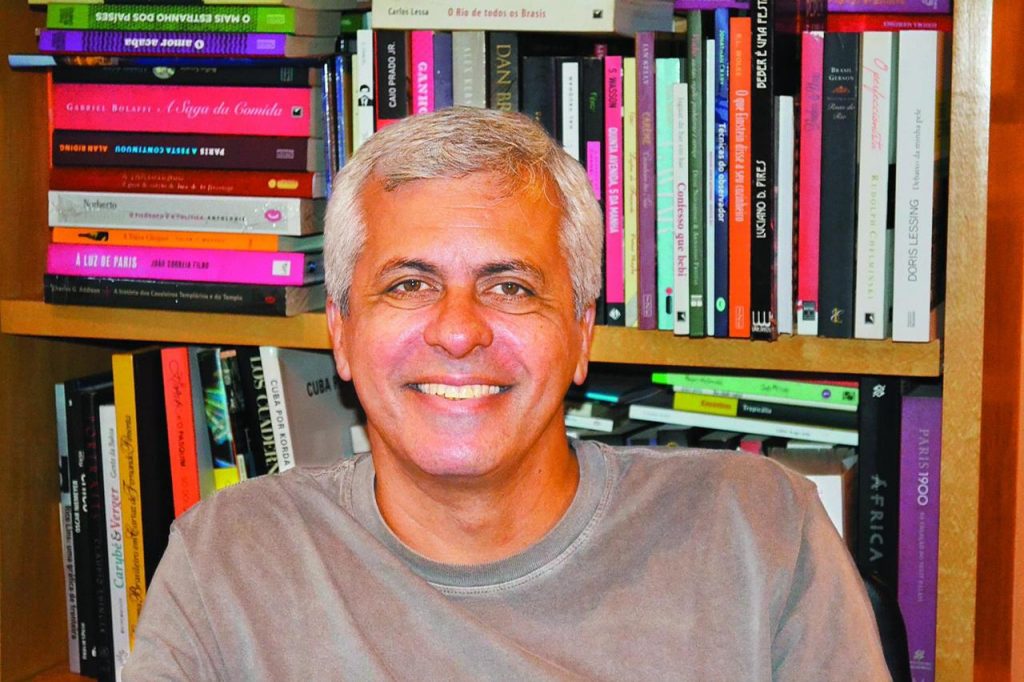
*Henrique Brandão é jornalista e escritor
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de julho/2022 (45ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.
Leia também
Revista online | Bolsonaro nos Estados Unidos: a normalização diplomática como narrativa de campanha
Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online
Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online
Morre, no Rio, Sergio Paulo Rouanet, diplomata autor da lei que beneficia a cultura no Brasil
Raoni Alves e Daniel Silveira, g1 Rio*
Morreu, neste domingo (3), no Rio de Janeiro, aos 88 anos, o diplomata e ex-ministro da Cultura Sergio Paulo Rouanet, autor da Lei de Incentivo à Cultura no Brasil. Ele deixou a mulher, a filósofa alemã Barbara Freitag, e três filhos - Marcelo, Luiz Paulo e Adriana.
A informação foi confirmada pelo Instituto Rouanet, fundada por ele e a mulher, Barbara Freitag. Segundo a instituição, ele foi vítima do avanço da síndrome de Parkinson.

"É com muito pesar e muita tristeza que informamos o falecimento do Embaixador e intelectual Sergio Paulo Rouanet, hoje pela manhã do dia 3 de julho. Rouanet batalhava contra o Parkinson, mas se dedicou até o final da vida à defesa da cultura, da liberdade de expressão, da razão, e dos direitos humanos. O Instituto carregará e ampliará seu grande legado para futuras gerações", dizia a nota do instituto.
“Diplomata, filósofo, professor universitário, tradutor e ensaísta brasileiro”. Assim é descrito o criador da lei brasileira de incentivos fiscais à cultura que por 27 anos levou o seu nome. A Lei Rouanet foi criada por ele durante o governo de Fernando Collor e modificada, quase três décadas depois, pelo presidente Jair Bolsonaro.
Sérgio Paulo Rouanet nasceu no Rio em 23 de fevereiro de 1934, filho de Paulo Luís Rouanet e Hebe Cunha Rouanet. Viveu quase nove décadas, dedicando a maior parte de sua trajetória à área acadêmica e, sobretudo, à cultura.
"Rouanet foi um dos grandes intelectuais do país", destacou a Academia Brasileira de Letras (ABL), em nota de pesar pela sua morte.
Rouanet tinha 20 anos quando, em 1954, estreou no jornalismo cultural, colaborando com um artigo semanal para o jornal Suplemento Literário. Quase 40 anos depois, em 1992, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Era o oitavo ocupante da Cadeira nº 13, na sucessão de Francisco de Assis Barbosa, tendo sido recebido pelo acadêmico Antonio Houaiss.
Ao longo de sua carreira, Rouanet assinou artigos para prestigiadas revistas brasileiras e internacionais. Coordenou a série de livros “Correspondência de Machado de Assis”, editada pela ABL. Por suas traduções de livros de Walter Benjamin, ganhou a Medalha Goethe. É autor dos livros “O homem é o discurso - Arqueologia de Michel Foucault”, “Imaginário e dominação”, “Itinerários freudianos em Walter Benjamin”, “Teoria crítica e psicanálise”, “A razão cativa”, “Riso e melancolia”, entre outros.
Trajetória acadêmica e diplomática
A primeira formação de Rouanet foi pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Aos 21 anos, formou-se no curso de preparação à carreira de diplomata do Instituto Rio Branco. Em universidades dos EUA fez pós-graduações em economia, filosofia e ciência política, área na qual veio a doutorar-se pela Universidade de São Paulo (USP).
A carreira diplomática começou, no Brasil, em 1957. Logo depois foi para os Estados Unidos, onde estagiou na Organização dos Estados Americanos (OEA), serviu na embaixada brasileira em Washington e atuou na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque.
Já na década de 1970 foi transferido para a Suíça, onde chegou ao posto de cônsul-geral, em Zurique. No final dos anos 1980 foi nomeado embaixador da Dinamarca, cargo que ocupou por quatro anos, até ser chamado de volta ao Brasil para se tornar ministro de Cultura do então presidente Fernando Collor.
Pai da Lei de Incentivo à Cultura
Foi Sérgio Paulo Rouanet o autor da Lei de Incentivo Fiscais à Cultura, promulgada por Collor em 1991, que autoriza produtores a buscarem investimento privado para financiar iniciativas culturais. Em troca, as empresas podem abater parcela do valor investido no Imposto de Renda.
Na campanha eleitoral de 2018, o então candidato a presidente Jair Bolsonaro defendeu mudanças na lei, afirmando que "ninguém é contra a cultura", mas que a Lei Rouanet teria de ser "revista" caso ele fosse eleito. E assim o fez.
Em abril de 2019 a Lei Rouanet foi alterada pelo governo de Jair Bolsonaro – passou a se chamar Lei de Incentivo à Cultura e sofreu um corte drástico no limite para captação de recursos – de R$ 60 milhões para apenas R$ 1 milhão por projeto.
Depois de deixar o governo, Rouanet fez parte do Consulado Geral do Brasil em Berlim, como Cônsul Geral, entre 1993 e 1996.
*Texto publicado originalmente no g1
Revista online | Top Gun: Maverick – um voo de nostalgia
Lilia Lustosa*, especial para a revista Política Democrática online (44ª edição: junho/2022)
Recentemente, uma sequela (sequel, em inglês) vem arrasando quarteirões e dando o que falar justamente por despertar na plateia aquela sensação gostosa de reviver o passado, de voltar no tempo, de reencontrar ídolos ou crushes da juventude. Top Gun: Maverick é uma explosão de nostalgia, com direito a Tom Cruise, Val Kilmer, Danger Zone (música de Kenny Loggins) e aquele sentimento de anos 1980 que invade por completo tela e mente.
Trinta e seis anos depois do sucesso de Top Gun: Asas Indomáveis (1986), longa-metragem que lançou Tom Cruise ao estrelato e garantiu seu lugar na cultura pop mundial, o novo Top Gun veio ainda melhor, mostrando que o tempo, às vezes, pode aprimorar uma obra, assim como faz com bons vinhos.
Veja todos os artigos desta edição da revista Política Democrática online
Para dirigir essa sequela de peso, Joseph Kosinski foi o escolhido. Conhecido por sua aptidão no uso da computação gráfica – Tron: O Legado (2010) e Oblivion (2013) –, desta feita, o diretor americano optou por manter a estética e o estilo de seu predecessor, Tony Scott, filmando in loco, sem fundo verde. As cenas de abertura são exatamente como as do primeiro filme, incluindo a fonte utilizada para apresentar os créditos. Kosinski parece não ter querido deixar dúvidas sobre a filiação de seu Top Gun, prestando, ao mesmo tempo, bela homenagem ao diretor britânico que tirou sua própria vida em 2012. Kosinski agrega, porém, verniz de modernidade ao filme, aliando o que há de melhor na tecnologia atual ao realismo do cinema daqueles tempos. Em Top Gun: Maverick, os atores voam mesmo! Não é CGI. E mais, eles filmam também, já que nem diretor nem cinegrafista podiam acompanhá-los nos voos.
















Para que os atores pudessem enfrentar tantos desafios, o próprio Maverick – ops! Tom Cruise – preparou um boot camp de três meses para deixar todos no ponto para subir nos aviões. Kosinski, por sua vez, instalou quatro câmeras dentro de cada jato, duas viradas para os atores e duas para fora, e ainda lançou mão de drones e aviões com a equipe de filmagem voando ao lado dos protagonistas. Uma proeza de realização e, sobretudo, de montagem, ponto alto do filme. As sequências de voos são de tirar o fôlego. Super-realistas e editadas à perfeição para fazer os espectadores voarem junto naqueles caças supersônicos.
O roteiro, talvez, seja o ponto mais fraco do longa. Mas isso já era no original. Afinal, a trama de Top Gun 1 é bem simples: piloto rebelde, com muito talento, mas que não gosta de obedecer às ordens. Entra para a equipe de elite da Marinha americana, a Top Gun. Por seu temperamento, vai acumulando inimigos e perdendo oportunidades na carreira. Para piorar a situação, em um momento de rebeldia aérea, acaba perdendo seu melhor amigo e parceiro de voo, Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards). Uma ferida difícil de cicatrizar e que vai apagar um pouco a chama de rebeldia de Pete “Maverick” Mitchell.
No filme atual, o capitão Maverick é um piloto de testes, estagnado na carreira e na vida. Ele é chamado para treinar a equipe escolhida para uma missão quase impossível. Os seis pilotos selecionados da Top Gun terão que eliminar um inimigo que não tem cara (russos, chineses?). Entre eles está Bradley “Rooster” Bradshaw (Miles Teller), filho de seu amigo Goose. Maverick vai viver um dilema: treinar o rapaz para que ele participe dessa missão suicida ou eliminá-lo do grupo, protegendo sua vida, mas impedindo-o, com isso, de alcançar seus sonhos?
Top Gun 2 traz à tona velhos sentimentos, fantasmas e medos, além de propor uma reflexão sobre a maturidade e a passagem do tempo. Não que Maverick tenha perdido a rebeldia, mas agora ela é mais pensada, contida, controlada. As transformações físicas também têm destaque. Nesse quesito, um momento especial é a aparição de Tom “Iceman” Kasansky (Val Kilmer), antigo inimigo de Maverick, que, por seu talento e conformação às regras, chega à diretoria da Top Gun. Na vida real, sabe-se que Val Kilmer passa por um momento difícil, tendo perdido a voz depois de um câncer de garganta. Mas a tecnologia do século 21 torna sua participação possível e emocionante.
Quem ficou de fora mesmo foi a música-tema do primeiro Top Gun, Take My Breath Away, interpretada pela banda Berlin. Para seu lugar, Hold My Hand foi especialmente composta, interpretada por ninguém mais, ninguém menos que Lady Gaga. Será que ela também leva o Oscar, como fez sua predecessora?
Mas o melhor de Top Gun: Maverick é que ele prescinde de conhecimento prévio do filme de 1986, sendo assim um excelente entretenimento também para os jovens de hoje. As explicações necessárias estão todas ali, permitindo que todos desfrutem dessa aventura banhada de sol oitentiano. Mas, se der, vale assistir ao primeiro Top Gun e, também, ao documentário Val (2021), dirigido por Ting Poo e Leo Scott. Eles podem acrescentar um tom de sépia às emoções do presente, fazendo tudo ganhar mais alma e sentido.
Sobre a autora

*Lilia Lustosa é crítica de cinema e doutora em História e Estética do Cinema pela Universidad de Lausanne (UNIL), Suíça.
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de março de 2022 (44ª edição), editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores. Por isso, não refletem, necessariamente, as opiniões da publicação.
Leia também
Revista online | “Bolsonaro é um bom exemplo de degradação”, diz Carlos Melo
Revista online | Povos quilombolas: invisibilidade, resistência e luta por direitos
Revista online | Guerra às drogas e a insistência no fracasso
Revista online | A reinvenção da democracia brasileira e as eleições de 2022
Revista online | O que o Brasil pode ganhar com o novo mercado regulado de carbono
Revista online | Apoie mulheres
Revista online | As implicações da educação domiciliar
Revista online | Cenário eleitoral e guerras de narrativas
Revista online | Voltaremos a Crescer?
Revista online | O que nos dizem aquelas tatuagens nazistas do batalhão Azov
Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online
Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online
"A vida seria muito difícil sem música", diz curador de concertos da FAP
João Vítor e Luciara Ferreira*, com edição do coordenador de Publicações da FAP, Cleomar Almeida
Além de ser o ganha-pão do violoncelista Augusto Guerra Vicente, de 50 anos, a música mostra, para ele, o lado bom da vida, entretém e o ajuda a confortar as pessoas. “É uma forma de arte muito sublime e necessária. A vida seria muito difícil sem ela. As pessoas estão sempre escutando música”, afirma.
Mestre em música Brasileira pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Vicente participa de vários grupos musicais e integra a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. Ele diz que lhe faltam palavras para definir o que é música. Isto porque ele ressalta que a arte tem vários sentidos. “Tudo que tenho, devo à música", agradece.
A melodia corre nas veias. De avô para pai, de pai para filho, Vicente é o terceiro violoncelista de uma família que espalha musicalidade por onde vai. Antônio Guerra Vicente, pai de Augusto, por exemplo, saiu do Rio de Janeiro, em 1972, e foi para Brasília ajudar a criar o curso de violoncelo da Universidade de Brasília (UnB).
Série de concertos
Entre os grupos que Vicente compõe, está o Quarteto Capital, que se apresentará no Espaço Arildo Dória, dentro da Biblioteca Salomão Malina, mantida pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília. O evento será no dia 30 de julho, a partir das 16 horas, para todo o público. A entrada é gratuita.
O evento é organizado pelo próprio violoncelista. O projeto Em Torno de 22: Cem Anos de Modernismo na Música Brasileira é parte das comemorações pelo Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, que marca um divisor de águas na história da arte no Brasil e na área de música, em particular.
Com início marcado para o dia 25 de junho, a série de cinco concertos terá sua primeira apresentação com o pianista Fernando Calixto, de 37, interpretando as obras do carioca Heitor Villa-Lôbos e Debussy.
Veja, abaixo, vídeo de Fernando Calixto:
A Semana de Arte Moderna teve como compositor “oficial” Villa-Lôbos, responsável maior pela introdução do modernismo e do nacionalismo na música brasileira. Embora não tenha sido o único precursor, o carioca mostrou-se como o maior divulgador das novas técnicas musicais chamadas modernas e teve, no palco do Teatro Municipal de São Paulo, um privilegiado cenário para seus objetivos.




















"A música me escolheu"
Nascido em Uberaba (MG), o pianista Calixto diz que a música o escolheu e não ele a escolheu. “Desde de que eu ganhei um tecladinho de brinquedo quando eu tinha apenas 13 anos, eu sabia que seria músico”, afirma.
Ele diz não ver a menor possibilidade de viver sem a música. "É algo essencial quase como ar", ressalta.
O pianista tem um instituto que leva seu nome. Mais do que ensinar música, segundo ele, o Instituto Fernando Calixto busca transformar vidas por meio da arte, da percepção do mundo sonoro e da individualidade de cada um.
O projeto mostra Villa-Lobos como o principal artista representado, de modo que se fará notar tanto por meio de suas próprias obras quanto pelas de compositores que o influenciaram ou que por ele foram influenciados.
De acordo com Vicente, pode-se dizer que Villa-Lobos é o primeiro compositor preocupado em dar à música brasileira uma cara própria. “Muito influenciado pelas ideias de Mário de Andrade”, analisa.
O curador do evento ressalta a participação de Fernando Calixto, que também tocará algumas das peças executadas pelo pianista Guiomar Novais na Semana de Arte Moderna de 1922. “Serão peças de Villa-Lobos e do compositor francês Claude Debussy, que foi a grande influência que Villa-Lobos recebeu no que diz respeito à técnica composicional”, afirma.
Organizado em cinco programas, a série de concertos sobre a origem do modernismo do Brasil será tratada, na primeira apresentação, com algumas das obras apresentadas pela pianista Guiomar Novaes na Semana de 22, em um recital de piano solo. A seguir, em um recital de violão solo, será tratada a escolha deste instrumento como representante da nacionalidade, por meio de peças de compositores do século XX, alguns deles oriundos da música popular urbana.
No terceiro recital, será abordado um dos desdobramentos do modernismo na música brasileira, que foi o nacionalismo, por meio de um recital do Quarteto Capital. Em seguida, a quarta apresentação vai mostrar uma miscelânea de obras de música de câmera de Heitor Villa-Lobos, trazendo o instrumento favorito do compositor, o violoncelo, como fio condutor. Por fim, o compositor Cláudio Santoro, considerado o principal de Brasília, fechará a série em Brasília, que, por si só, é um dos principais marcos do modernismo no mundo.
Programação
Veja, abaixo, detalhes da série de concertos Em torno de 22: Cem Anos de Modernismo na Música Brasileira, com a curadoria de Augusto Guerra Vicente, no Espaço Arildo Dória, dentro da Biblioteca Salomão Malina, no Conic, região central de Brasília (DF).
25/06, às 16h
Concerto 1: As Origens
Piano Solo: Fernando Calixto – Obras de Villa-Lobos e Debussy
09/07, 16h
Concerto 2: O violão como instrumento nacional
Violão Solo: Álvaro Henrique – Obras de Villa-Lobos, Guerra-Peixe, Dilermando Reis e Baden-Powell
30/07, 16h
Concerto 3: Desdobramentos do modernismo: o nacionalismo brasileiro
Quarteto Capital - Obras de Villa-Lobos, Osvaldo Lacerda, Glauco Velásquez, Ernst Mahle, Aurélio Melo e Vicente da Fonseca
Violino I: Daniel Cunha
Violino II: Igor Macarini
Viola: Daniel Marques
Violoncelo: Augusto Guerra Vicente
13/08, 16h
Concerto 4: Obras de música de Câmara de Villa-Lobos para violoncelo
Obras de Heitor Villa-Lobos com:
Violoncelo: Norma Parrot
Violino: Daniel Cunha
Flauta: Thales Silva
Piano: Larissa Paggioli
27/08, 16hEm torno de 22: Cem Anos de Modernismo na Música Brasileira
Concerto 5: Desdobramentos do modernismo: Cláudio Santoro em Brasília
Obras de Cláudio Santoro com:
Viola: Mariana Costa Gomes
*Integrantes do programa de estágio da FAP, sob supervisão do jornalista, editor de conteúdo e coordenador de Publicações da FAP, Cleomar Almeida
Arsenal mítico é destaque na Semana de Arte Moderna de 1922, segundo professor
Luciara Ferreira e João Vitor*, com edição do coordenador de Publicações da FAP, Cleomar Almeida
Um “arsenal mítico” com simbolismo, lendas e cultura indígena fez a Amazônia protagonizar o modernismo para além das divisas de São Paulo. O doutor em história Aldrin Figueiredo, professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), destaca a importância dos mitos na década de 1920, que, segundo ele, tentavam romper o “cordão umbilical” responsável por ligar o Brasil à Europa.
O “cordão umbilical” está relacionado às tradições europeias descritas pelo professor de artes da Universidade de São Paulo (USP) Tadeu Chiarelli. “As ligações com a Europa são desejadas. Você pinta o tema brasileiro, mas a visualidade e a tradição são europeias”.
Figueiredo dá ênfase ao mito de Macunaíma e ao da Cobra Norato. Ele confirmou presença no evento virtual sobre identidade e diferenças da Semana de Arte Moderna de 1922, organizado pelo jornalista Sergio Leo. O webinar será transmitido, na quarta-feira (4/5), a partir das 18 horas, nas redes sociais e no portal da Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília.
Também confirmou participação na live o artista visual Luis Quesada. Ele ressaltou a importância das apropriações culturais indígenas, que, conforme acrescentou, foram vitais para o modernismo brasileiro. “Nelas encontramos o que há de mais revolucionário dentro da Arte moderna brasileira”, disse.
Mitos
Escrito por Mário de Andrade, Macunaíma conta a história de um índio que viaja até São Paulo para recuperar sua muiraquitã, nome dado pelos índios a pequenos amuletos trabalhados em forma de animal, geralmente representando sapos.
Já o mito Cobra Norato é a lenda amazônica que inspirou o poema de Raul Bopp, publicado em 1931. Trata-se de uma gigantesca serpente que habitava os rios caudalosos da Amazônia. Ligada à criação do mundo, a Boiuna podia mudar o curso das águas e dar origem a muitos animais.
Identidade nacional
Figueiredo diz que a Amazônia é considerada um lugar de destaque na construção da identidade nacional a partir de uma concepção moderna. Porém, de acordo com ele, não como um polo destacado de debate, mas como um repertório da tradição das lendas e dos mitos. Um lugar fora da história.
A Semana de Arte Moderna, realizada entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, foi um dos marcos do modernismo no Brasil. A Fundação Astrojildo Pereira tem realizado atividades desde o ano passado para celebrar o centenário.
Confira aqui matérias e artigos do organizador do evento
Serviço
Webinário sobre Semana de Arte Moderna - Identidade e Diferenças.
Dia: 4/5/2022
Transmissão: a partir das 18h
Onde: Redes sociais (Facebook e Youtube) e portal da Fundação Astrojildo Pereira
Realização: Fundação Astrojildo Pereira
*Integrantes do programa de estágio da FAP, sob supervisão do jornalista, editor de conteúdo e coordenador de Publicações da FAP, Cleomar Almeida
Revista online | Veja lista de autores da edição 42 (Abril/2022)

*Marco Antonio Villa é o entrevistado especial da edição 42 da Revista Política Democrática online. é historiador, escritor e comentarista político brasileiro. Villa é bacharel e licenciado em história, mestre em sociologia e doutor em história social pela Universidade de São Paulo. É professor aposentado da Universidade Federal de São Carlos.

*Luiz Sérgio Henrique é autor do artigo A frente democrática, aqui e agora. É tradutor e ensaísta.

*Vinicius Müller é autor do artigo Lições da Itália ao Brasil de 2022. É Doutor em História Econômica e membro do Conselho Curador da FAP.

*Lilia Lustosa é autora do artigo Oscar e a tentação das majors. É crítica de cinema e doutora em História e Estética do Cinema pela Universidad de Lausanne (UNIL), Suíça.

*Ivan Alves Filho é autor do artigo Com Claude Lévi-Strauss: a arte plumária dos índios. É historiador e documentarista.

*Luiz Ricardo Cavalcante é autor do artigo Políticas de desenvolvimento regional no Brasil: entre a fragmentação e a resiliência das desigualdades. É consultor legislativo do Senado Federal e professor do Mestrado em Administração Pública do IDP.

*Arlindo Fernandes de Oliveira é autor do artigo Balanço do mês da janela partidária. É consultor do Senado e especialista em Direito Eleitoral.
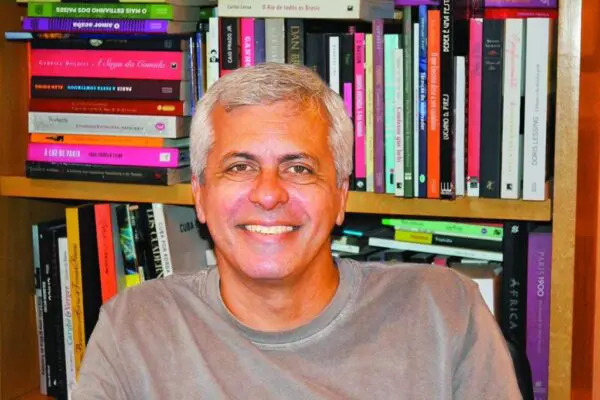
*Henrique Brandão é autor do artigo 50 anos de alguns discos maravilhosos. É jornalista e escritor.

*Julia de Medeiros Braga é autora do artigo Política fiscal para a expansão energética. É economista e professora da Universidade Federal Fluminense (UFF).

*André Amado é autor do artigo Sherlock Holmes redivivo. É escritor, pesquisador, embaixador aposentado. É autor de diversos livros, entre eles, A História de Detetives e a Ficção de Luiz Alfredo Garcia-Roza.

*Cleomar Almeida é autor da reportagem especial Guerra na Ucrânia coloca refugiados na via-crúcis pela vida. É graduado em jornalismo, produziu conteúdo para Folha de S. Paulo, El País, Estadão e Revista Ensino Superior, como colaborador, além de ter sido repórter e colunista do O Popular (Goiânia). Recebeu menção honrosa do 34° Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos e venceu prêmios de jornalismo de instituições como TRT, OAB, Detran e UFG. Atualmente, é coordenador de publicações da FAP.
Slam-DéF: “Poetas são cientistas da nossa atualidade”, diz coordenador cultural
João Vitor, com edição do coordenador de Publicações da FAP, Cleomar Almeida
Cultura, inclusão, lirismo e a valorização do artista é o foco do Slam-DéF, grupo cultural que vai realizar mais uma batalha de poesia, de forma online, na quarta-feira (23/2), a partir das 19 horas. No total, há 16 vagas para a disputa, e a inscrição pode ser realizada, por meio de formulário virtual, até um dia antes do evento. Pessoas de outros estados e países podem se inscrever.
“Costumo dizer que os poetas são cientistas da nossa atualidade, porque eles estudam a maneira como as pessoas agem e transformam tudo isso em poesia”, afirma o coordenador cultural do Slam-DéF, professor de língua portuguesa Will Júnio.
O webinar será realizado em parceria com a Biblioteca Salomão Malina, mantida pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília. Neste ano, o vencedor receberá premiação de R$ 100 e um troféu personalizado com a data da edição.
O evento terá transmissão na página da biblioteca no Facebook, assim como nas redes sociais (Facebook e Youtube) da fundação. “O artista está sempre em constante trabalho, analisa e observa as coisas que acontecem ao seu redor e transforma tudo em palavra”, afirma o coordenador.

Segundo Will Júnio, os integrantes do grupo estão trabalhando firme para que o evento cresça cada vez mais. “Mesmo com os casos de covid-19 aumentando, nós podemos, de forma virtual, espalhar a palavra e a cultura do Slam”, disse.
“Somente o campeão de cada edição terá a premiação. Antes, primeiro, segundo e terceiro recebiam, além da pontuação no ranking que dava acesso à final do Slam-DéF”, afirmou Will. “
Will trabalha com a cultura desde 2012. Foi representante do DF no Slam-BR e da Festa Literária das Periferias, em 2015, assim como jurado do Duelo Nacional de MC’s, em 2017, em Belo Horizonte.
Batalha de Poesias Slam-DéF
Dia: 23/02/2022
Horário da transmissão: 19h
Onde: Perfil da Biblioteca Salomão Malina no Facebook e no portal da FAP e redes sociais (Facebook e Youtube) da entidade
Realização: Slam-DéF, em parceria com Biblioteca Salomão Malina e Fundação Astrojildo Pereira (FAP)
Luiz Carlos Azedo: Histórias que se cruzam na resistência ao regime militar
Dois filmes e duas histórias que mostram um passado de radicalização política que não deve se repetir
Luiz Carlos Azedo / Nas Entrelinhas / Correio Braziliense
Vale a pena ver o filme Marighella, dirigido por Wagner Moura, com Seu Jorge esbanjando talento na telona, no papel de Carlos Marighella, em 1969, no auge da atuação da Ação Libertadora Nacional (ALN), o grupo guerrilheiro que liderava e foi dizimado pelo delegado Sérgio Fleury.
Em contraponto, sugiro também o documentário Giocondo Dias, Ilustre Clandestino, de Vladimir de Carvalho, disponível no Canal Brasil, que reúne depoimentos sobre o líder comunista que substituiu Luiz Carlos Prestes na Secretaria-Geral do PCB. Ambos mostram um passado de radicalização política que não deve se repetir.
Moura dirigiu um blockbuster político, que utiliza os recursos da ficção e dos filmes de ação para fazer um recorte histórico da vida de Carlos Marighella, inspirada na excelente biografia de Mario Magalhães sobre o líder comunista carismático que arrastou para a luta armada jovens militantes do antigo PCB e um grupo de padres dominicanos.
Carvalho fez um garimpo de imagens, a partir dos depoimentos de militantes que participaram do resgate de Giocondo Dias, o líder comunista clandestino que havia ficado isolado, após o desmonte da estrutura do velho Partidão, em 1975, quando 12 integrantes do Comitê Central foram assassinados e milhares de militantes foram presos.
Marighella e Giocondo fizeram parte do chamado “grupo baiano”, que lideraria a reorganização do PCB no final do Estado Novo, em 1943, tecendo uma aliança pragmática com Getúlio Vargas para o Brasil entrar na II Guerra Mundial contra o Eixo: Armênio Guedes, Moisés Vinhas, Aristeu Nogueira, Milton Caíres de Brito, Arruda Câmara, Leôncio Basbaum, Alberto Passos Guimarães, Jacob Gorender, Maurício Grabois, José Praxedes, Osvaldo Peralva, Boris Tabakoff, Jorge Amado, João Falcão, Fernando Santana, Mário Alves e Ana Montenegro, nem todos baianos.
O cabo Giocondo Dias era um mito comunista, somente ofuscado por Luiz Carlos Prestes. Havia liderado a tomada do poder em Natal (RN), no levante comunista de 1935, no qual Prestes fora preso. Na ocasião, levou três tiros de um dos comandados, ao proteger com o próprio corpo o governador do Rio Grande Norte, Rafael Fernandes Gurjão, a quem Giocondo havia dado voz de prisão.
Escondido para se recuperar dos ferimentos, sobreviveria a 13 facadas, em luta corporal com um capanga do proprietário da fazenda onde estava. Preso, cumpriu um ano de cadeia até a anistia de 1937, a chamada “Macedada”, concedida para legitimar o golpe do Estado Novo. Essa experiência influenciaria sua visão sobre a luta armada.
Estudante de engenharia, Marighella largou a faculdade em 1934 para atuar no PCB no Rio de Janeiro, sendo preso a primeira vez em 1936. Também foi libertado na “Macedada”, porém, acabou novamente preso em 1939 e foi libertado em 1945, com a redemocratização. Voltou para a Bahia e se elegeu deputado federal, integrando a bancada comunista na Constituinte de 1946.
Giocondo viria a ser eleito deputado estadual. Com a cassação de seus mandatos, foi encarregado da segurança do líder comunista Luiz Carlos Prestes, na clandestinidade, enquanto Marighella se destacaria na liderança do PCB em São Paulo, durante os governos Dutra e Vargas.
As divergências
Após a morte de Joseph Stalin, em 1953, com a realização do XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), em 1956, a cúpula do PCB entrou em crise. O Comitê Central somente se reuniria dois anos depois, para destituir a Executiva liderada por Arruda Câmara e João Amazonas, que mantivera em segredo as denúncias dos crimes de Stalin feitas por Nikita Kruschov, o novo líder soviético.
Giocondo, que fora um dos artífices da aliança do PCB com Juscelino Kubitscheck (PSD) nas eleições de 1955, com Alberto Passos e Armênio Guedes, articulou a Declaração de Março de 1958, na qual o PCB assumiu o compromisso com a defesa da democracia. E emergiu da crise como segundo homem na hierarquia partidária, sob a liderança de Prestes. Giocondo e Marighella, porém, divergiram quanto à “política de conciliação com imperialismo” de Juscelino.
No governo Jango, Marighella defendeu a reforma agrária “na lei ou na marra”, Giocondo condenou o radicalismo das ligas camponesas. O primeiro apoiou a “revolta dos marinheiros”, o segundo considerou o movimento de cabo Anselmo uma provocação.
Quando os militares destituíram Jango, Marighella acreditou que bastaria o brigadeiro Francisco Teixeira bombardear as tropas do general Mourão Filho, que marchavam em direção ao Rio de Janeiro, para derrotar os golpistas, enquanto Prestes, o “Setor Mil” (militares da ativa), Giocondo e outros dirigentes concluíram que Jango estava politicamente derrotado e a resistência armada resultaria num inútil de banho de sangue.
Para Giocondo, a derrota da ditadura exigia longa resistência, a partir da formação de frente democrática, como de fato ocorreu. Inspirado na Revolução Cubana, Marighella acreditava que poderia transformar a derrubada do regime militar na revolução socialista. Em tempo: às vésperas do golpe de março de 1964, Prestes articulava a reeleição de Jango.
Luiz Carlos Azedo: Txai Suruí é a minha candidata ao Nobel da Paz de 2022
A jovem Walelasoetxeige Suruí tem apenas 24 anos e confirma a quebra do monopólio da política internacional de chefes de Estado, diplomatas e militares
Luiz Carlos Azedo / Nas Entrelinhas / Correio Braziliense
Criado em 1901, o prêmio Nobel da Paz não foi capaz de impedir as duas grandes guerras mundiais do século passado, mas contribuiu muito para que a política internacional deixasse de ser monopólio dos chefes de Estado, diplomatas e militares, projetando personalidades que efetivamente contribuíram para que a paz se consolidasse como um valor universal. Ironicamente, seu criador, Alfred Nobel, era um industrial, inventor e fabricante de armamentos sueco. Por sua decisão, um comitê de cinco pessoas indicadas pelo Parlamento da Suécia anualmente escolhe aqueles que se destacaram por trabalhar pela fraternidade entre as nações, pela abolição ou redução de exércitos permanentes e pela paz. Polêmico, nos últimos anos, o prêmio vem sendo destinado a pessoas que enfrentam situações limites em seus respectivos países, como os jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov, nas Filipinas e na Rússia, respectivamente, os premiados de 2021.
A jovem Walelasoetxeige Suruí, mais conhecida como Txai Suruí, de 24 anos, filha de Almir Suruí, 47, líder dos Povos Suruí de Rondônia, confirma a quebra do monopólio da política internacional. Até então, era conhecida apenas por ambientalistas e outras jovens lideranças indígenas, mas encantou o mundo ao discursar em inglês na abertura da Conferência da Cúpula do Clima (COP26), em Glasgow, na Escócia, para uma plateia que reunia entre outros o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. Foi a única brasileira a participar da abertura, num inevitável confronto de imagem e objetivos com o presidente Jair Bolsonaro, que gravou uma mensagem e foi passear pela Itália, desprestigiado. Tornou-se uma personalidade mundial na luta contra o aquecimento global. É minha candidata ao Nobel de 2022.
O veterano líder indígena Marcos Terena, um dos fundadores da Aliança dos Povos da Floresta, com Aírton Krenak e Chico Mendes, não se cansa de me falar que as jovens lideranças indígenas são a grande esperança, e que a causa indígena chegará a um outro patamar. “Nós agora temos índios doutores, médicos, advogados, antropólogos, biólogos, cineastas… São lideranças jovens que mantêm suas ligações com as aldeias e respeitam as lideranças mais velhas, somam os antigos saberes aos novos conhecimentos”. Terena foi o primeiro “índio piloto”, viveu os conflitos da tradução de identidade. Quando jovem, era chamado de “japonês” pelos colegas de escola e por seu próprio instrutor de voo. Mas a consciência indígena falou mais alto: “Indígena é potência de saberes. Seu conhecimento é a universidade do mundo”.
Aquecimento
A jovem Txai ainda está no último semestre do curso de direito, mas já atua no departamento jurídico da Associação de Defesa Etnoambiental (Kanindé), em Rondônia. Em Glasgow, na Escócia, enquanto a jovem ativista sueca Greta Thunberg criticava o blablablá sobre o clima dos líderes mundiais, Txai roubava a cena no plenário, ao falar da importância dos povos indígenas na proteção da Amazônia. Na hora, lembrei-me das conversas com Marcos Terena sobre esse encontro de gerações indígenas: “Meu pai, o grande cacique Almir Suruí, me ensinou que devemos ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores. Hoje, o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo, nossas plantações não florescem como antes. A Terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempo”, disse Txai.
Os suruís de Rondônia são 2 mil indígenas, mas são articulados, combativos e plugados nas redes sociais. Ao discursar na COP26, Txai relembrou a morte do seu amigo Ari Uru-EU-Wau-Wau, jovem como ela, que trabalhava registrando e denunciando extrações ilegais de madeira dentro da aldeia onde morava. Segundo Txai, ele foi morto por defender a floresta. “Vamos frear as emissões de promessas mentirosas e irresponsáveis, vamos acabar com a poluição de promessas vazias e vamos lutar por um futuro e presente habitáveis”, defendeu. Na extensa pauta da COP26, o eixo da discussão é a necessidade de conter o aquecimento global.
Energia, empoderamento público e da juventude, natureza e uso da terra, ciência e inovação, transporte e cidades, regiões e espaços organizados estão sendo debatidos até o próximo dia 12, por cientistas, ativistas, autoridades governamentais, executivos de empresas da nova economia, mas, nesse debate, a Amazônia tem lugar de destaque. Cerca de 40 lideranças indígenas, de diversos países, estão participando do encontro. O mundo está descobrindo que eles são os verdadeiros guardiões da floresta e têm um papel de destaque na solução dos problemas ambientais. Oficialmente, o Brasil está representado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que apresentou uma nova meta climática, com redução de 50% das emissões de gases do efeito estufa até 2030.
RPD || Lilia Lustosa: Belmondo, Nouvelle Vague e cia
Movimento cinematográfico mostrou uma França mais moderna, dinâmica. Jean Paul Belmondo era seu grande ícone
Em setembro, o mundo perdeu um de seus grandes atores, Jean-Paul Belmondo. Símbolo maior da Nouvelle Vague, movimento cinematográfico francês revolucionário que, inspirado no neorrealismo italiano e no cinema-verdade de Jean Rouch, acabou por influenciar diversos novos cinemas em todo o mundo.
Desde o lançamento de Acossado, naquele março de 1960, o cinema mundial nunca mais seria o mesmo. Não por ter sido esta a pedra fundamental do movimento, mas, mais precisamente, por ter se convertido em uma espécie de manifesto da Nouvelle Vague, ao apresentar na telona estética e temática totalmente novas. O filme, dirigido por Jean-Luc Godard e baseado em argumento de François Truffaut, mandou às favas as regras já consolidadas do cinema comercial, trocou o tripé pela câmera na mão, usou película fotográfica ultrassensível para escapar da obrigatoriedade dos estúdios e ainda transformou bandidos em protagonistas, levando plateias inteiras a torcerem para que Michel (Belmondo), mesmo depois de ter roubado um carro e matado um policial, escapasse para Roma com a bela Patricia (Jean Seberg).
A partir dali, o mundo começava a entender que já não era mais preciso se render à predatória indústria cinematográfica norte-americana, nem à francesa, nem a qualquer outra. E que era possível, sim, realizar bons filmes com poucos recursos, câmeras leves, ao ar livre, equipe reduzida, tratando de temas moralmente questionáveis. Foi a retomada do “cinema de autor”, preconizado pelos vanguardistas dos anos 1920/30.
No Brasil, um dos herdeiros da Nouvelle Vague foi o Cinema Novo, que adotou a câmera na mão como slogan e levantou a bandeira da independência dos grandes estúdios, nacionais e internacionais. A liberdade era o grande lema dos jovens cinemanovistas que viam nessa nova maneira de fazer cinema uma forma de descolonizar também sua cultura. Filmes como Os Cafajestes (1962), de Ruy Guerra, beberam diretamente da fonte do movimento francês, sendo vistos com admiração até mesmo pelos próprios críticos do Cahiers de Cinéma, berço da Nouvelle Vague. No filme de Guerra, Norma Bengell protagonizou o primeiro nu frontal da história do cinema brasileiro. Um escândalo para a época!
Mas o Cinema Marginal também assimilou características da “marginalidade” do movimento francês, levando-os, porém, a um paroxismo nunca visto no Brasil. O crítico e cineasta Jean-Claude Bernardet aponta várias influências de Godard em O Bandido da Luz Vermelha (1968), de Rogério Sganzerla, filme-marco deste movimento que sucedeu o Cinema Novo. Para ele, Acossado teria sido o filme que mais influenciara o cineasta paulista em sua obra. O anti-herói Jorge (Paulo Villaça) tinha muito de Michel-Belmondo, seu suicídio tendo sido moldado, porém, a partir da morte de outro personagem de um filme de Godard, Ferdinand de O Demônio das Onze Horas (1965), também interpretado por Belmondo.
Já nos Estados Unidos, a Nouvelle Vague impulsionou o nascimento da New Hollywood, deixando como herança a liberdade temática adotada a partir de então, com tramas que passavam a dialogar mais diretamente com o contexto sociopolítico daqueles rebeldes anos 60. Tópicos como igualdade racial e de gênero, pacifismo e liberdade sexual passaram a aparecer sem pudor nas telas de cinema. Anti-heróis viraram protagonistas e foram ganhando espaço no coração dos espectadores. Algo impensável até a estreia de Bonnie e Clyde (1967), de Arthur Penn, filme que abriu portas para uma nova geração de cineastas, composta por Scorsese, Coppola, Spielberg, Georges Lucas e outros. Diretores que mergulharam Hollywood em outra dimensão estética, sendo até hoje venerados e idolatrados por um sem-número de cinéfilos mundo afora. Cineastas que influenciaram, por sua vez, outras gerações que seguem trabalhando em busca de novas inspirações e tecnologias que possam revolucionar ainda mais a sétima arte.
Mas, voltando à França e ao grande ícone da Nouvelle Vague, Belmondo nunca hesitou em assumir que não era lá muito fã daquele tipo de cinema que ele considerava “intelectual” demais… Um dos filmes em que mais gostou de atuar foi O Homem do Rio (1964), de Philipe de Broca, uma aventura nada nouvellevaguiana, rodada em Paris e no Brasil, uma espécie de live-action de Tintim, em que Adrien (Belmondo) viaja por terras tupiniquins para salvar sua amada Ignès (Françoise Dorléac), raptada por índios sul-americanos. Certamente, um retrato-clichê de nosso país, mas que serviu para conquistar espaço nas telas e nos corações dos franceses e de todo o mundo.
Merci et au revoir, Belmondo!

*Lilia Lustosa é formada em Publicidade, especialista em Marketing, mestre e doutora em História e Estética do Cinema pela Universidade de Lausanne, França.
RPD || Henrique Brandão: Salve o eterno Zé Kéti!
Zé Kéti encantou o país com obras que se destacaram pelo combate ao preconceito e a desigualdade
Há 100 anos, em 16 de setembro de 1921, nascia em Inhaúma, bairro da cidade do Rio de Janeiro, José Flores de Jesus, um dos maiores sambistas que o Brasil já teve. Seu nome artístico? Zé Kéti. Lamentavelmente, foram escassas as alusões a seu centenário: a grande imprensa deu pouca repercussão à data, e, nas redes sociais, o tema teve baixo “engajamento”.
Zé Kéti foi um artista excepcional. Sua obra é conhecida e reverenciada por todos os grandes sambistas do país. Melodista de mão cheia, autor de belíssimos sambas – alguns de lavra própria, outros em parceira –, suas obras são regravadas periodicamente e, o que é mais importante, permanecem sendo cantadas, geração após geração, nas rodas de samba que renovam e mantêm vivas, na ponta da língua, os clássicos que são referências do que há de melhor neste gênero musical.
Seu nome artístico é uma corruptela de um apelido de infância, “Zé Quieto". Mas se era quieto no comportamento quando criança, Zé Kéti soube aproveitar com desenvoltura as chances que, graças a seu talento, a vida artística lhe proporcionou ao longo da vida. Além de sambista inspirado, Zé Kéti participou de momentos decisivos da cultura brasileira.
Foi, por assim dizer, artista multimídia, num tempo em que o uso da palavra não era tão corriqueiro como hoje.
No cinema, por exemplo, teve papel importante nos primeiros filmes de Nelson Pereira dos Santos. “Eu sou o Samba”, seu primeiro sucesso, é o tema de abertura de “Rio 40 graus” (1956), onde atuou também como assistente de câmera. No filme seguinte de Nelson Pereira, “Rio Zona Norte” (1957), Grande Otelo vive um personagem inspirado nas histórias que o compositor contou ao cineasta, sobre um atravessador que tira proveito de sambistas. O samba em questão é “Malvadeza Durão”. Em 1962, participou de outro filme de Nelson Pereira, “Boca de Ouro”. Zé Kéti ainda atuou em “A Falecida” (1965), de Leon Hirszman e em “A Grande Cidade” (1966), de Cacá Diegues.
No teatro musical, em 1964, Zé Kéti foi personagem de um espetáculo que marcou época, tanto pela contundência crítica ao regime militar, como pela inovação da encenação, e que reuniu na ribalta de um palco de Copacabana três vertentes da música brasileira: a Bossa Nova, representada por Nara Leão (depois substituída por uma jovem recém-chegada da Bahia, Maria Bethânia); um artista oriundo do Nordeste, João do Vale; e um sambista de origem popular, o próprio Zé Kéti.
O nome do show, “Opinião” – escrito por Oduvaldo Vianna Filho, Ferreira Gullar e Armando Costa, com direção de Augusto Boal – foi inspirado na música homônima de Zé Kéti (“Podem me prender/podem me bater/Podem até deixar-me sem comer/que eu não mudo de opinião/Daqui do morro eu não saio, não”). O sucesso foi tanto, que o nome da música acabou batizando o nome de um jornal de oposição, o teatro onde o espetáculo foi encenado e, também, o grupo teatral responsável pela encenação.
Essa habilidade em construir pontes entre públicos diferentes ficou clara ainda em 1963, na época do restaurante Zicartola, acrônimo do casal Cartola e Dona Zica. Localizado em um sobrado da Rua da Carioca, no Centro do Rio, era ponto de encontro de sambista dos subúrbios e dos estudantes e intelectuais da Zona Sul. Zé Kéti teve grande participação no empreendimento. Atuou como diretor artístico da casa, que tinha shows às quartas e sextas, após o expediente comercial. Foi ali, apadrinhado por ele e pelo jornalista Sérgio Cabral, que o jovem compositor Paulo Cesar Batista de Faria virou Paulinho da Viola.
Morto em 1999, aos 78 anos, Zé Kéti, acima de tudo, será sempre reverenciado como compositor de sambas antológicos. Está, sem sombra de dúvida, entre os maiores de todos os tempos. “Eu sou o samba” (1955), “Opinião” (1964), “Diz que fui por aí “ (1964), “Nega Dina” (1964), “Acender as Velas” (1964), “Mascarada” (1965), “Leviana” e a marcha-rancho que virou clássico nos carnavais Brasil afora, “Máscara Negra” (1967), fazem parte de qualquer antologia.
Seu centenário devia ter sido comemorado com toda festa que um compositor do tamanho de Zé Kéti merece. Inclusive com homenagens oficiais. Mas o governo do Brasil atual é tacanho, pequeno, mesquinho. A cultura, área em que o sambista brilhou, é deliberadamente maltratada.
“Deixa andar”, diria ele, repetindo um dos versos do samba “Opinião”. Se Zé Kéti não recebeu as devidas homenagens, com certeza as rodas de samba continuarão a cantar suas obras-primas, que alegram o coração da moçada.

*Henrique Brandão é jornalista e escritor

















