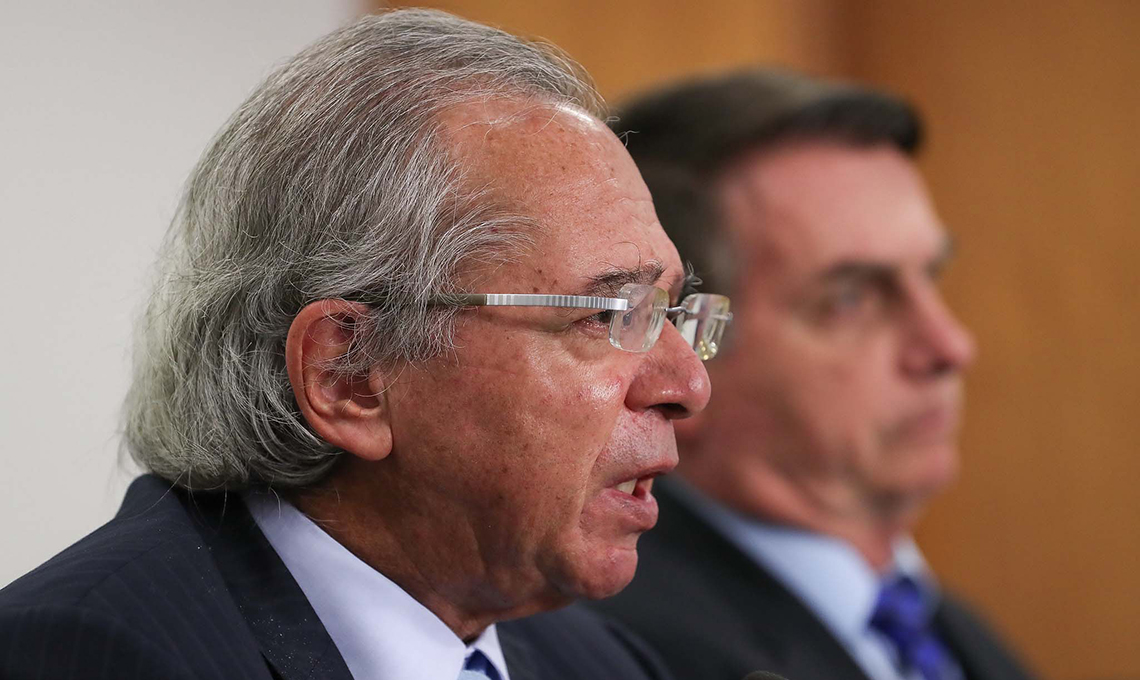crise fiscal
Arminio Fraga: ‘Não é só uma crise fiscal, há crise política e institucional’
Ex-presidente do BC ressalta que, enquanto não for superada, pandemia continuará sendo um freio para a recuperação da economia
Cassia Almeida, O Globo
RIO - Ex-presidente do Banco Central e sócio fundador da Gávea Investimentos, o economista Arminio Fraga diz que o Brasil passa por uma crise que vai além da área fiscal. Segundo ele, o Brasil é percebido hoje como um país de visão atrasada, que passa ao largo de grandes debates, como meio ambiente e qualidade da democracia.
Arminio diz que nenhum país cortaria o auxílio à população de forma abrupta. Ressaltou que mesmo em uma situação econômica e sanitária não tão negativa, a saída teria seria “suavizada”.
Tivemos a maior recessão desde o Plano Collor. O que nos espera?
O Brasil, na verdade, sofreu dois tombos. Tivemos o de 2014, 2015 e 2016, e agora esse. Olhando o gráfico com os dados trimestrais do PIB, é qualquer coisa de extraordinário: desde 2012, o PIB caiu mais que subiu. A queda do PIB per capita chegou a bater quase 10%. É um sinal muito ruim.
E a pandemia?
É um momento que requer muita reflexão. A economia só vai ter chance de se recuperar quando a pandemia estiver dominada. Há um consenso de que a reação do governo deixou muito a desejar, custando caro em número de vidas e em termos de PIB. Há a visão clara e pacífica de que, enquanto a pandemia não estiver superada, vai funcionar como um freio.
Há outras fontes de incerteza?
Outra fonte de incerteza é a política geral. Já falei isso no passado e continuo achando que os efeitos qualitativos, como a questão ambiental, a resposta à crise sanitária e temas em geral ligados à qualidade da nossa democracia, como esses vários decretos sobre armas, criam um pano de fundo tenso.
Do lado da economia, o investimento vem muito parado, a taxa de investimento é muita baixa. A do setor público caiu de 5 % do PIB para 1%. Mesmo um liberal como eu consegue imaginar um espaço importante de investimento tipicamente público complementar ao do setor privado.
Há outros pontos de preocupação?
Ao lado, temos um quadro fiscal precário, a respeito do qual pouco se fez. A reforma da Previdência foi aprovada, é importante, mas teremos déficit primário a perder de vista. Com a inflação arregaçando as mangas, o lado fiscal pode ficar ainda mais preocupante. Isso é algo para o que não está se encontrando resposta.
O vento a favor está muito forte lá fora, preço das commodities subindo, uma situação, para o Brasil, rara. Mesmo assim, a taxa de câmbio foi para R$ 5,70. As pessoas deveriam se perguntar o que está acontecendo. É um quadro geral extremamente preocupante, dificílimo, não há como negar.
O auxílio emergencial deve ser mantido?
Como parecia previsível, o governo não tomou nenhuma medida considerada antipática para viabilizá-lo, mas antipático é jogar o país em outra recessão. A situação sanitária recomenda auxílio. Não há a menor dúvida: nenhum país cortaria esse auxílio, nas circunstâncias atuais, de maneira radical. Mesmo em uma situação nem tão ruim, haveria uma saída minimamente suavizada do auxílio.
Sou a favor, mas correr mais risco na economia, caminhar para outra recessão é um risco social incalculável. Algumas pessoas esquecem que a crise do real em 1998 e 1999 foi equilibrada com o tripé macroeconômico (câmbio flutuante, meta fiscal e de inflação), que o colapso da economia entre 2014 e 2016 veio na esteira de um colapso fiscal.
Corremos o risco de colapso fiscal?
A irresponsabilidade do governo não foi surpresa. Vejo o Congresso ansioso, mas mais reativo e não proativo. O que quero dizer é que, quando a chapa esquenta, o Congresso se move. Não vejo o Congresso pensar na estrutura tributária, na reforma do Estado para valer. Cerca de 80% do gasto vão para folha de pagamento e Previdência.
Na esmagadora maioria dos países, inclusive os de renda média, a parcela corresponde a 60%. É um trabalho de uma década. Não é só uma crise fiscal, é muito mais que isso. No Brasil hoje, há elementos de crise política, institucional, da credibilidade do nosso arcabouço maior. O Brasil está com uma imagem externa ruim e, pior, com uma imagem interna também ruim, por isso o investimento aqui, que é o mais importante, está tão fraco.
Como fica a imagem lá fora?
O Brasil fica mal. Em muitas dimensões, é visto como um país que tem visões atrasadas e incompatíveis com as grandes questões existenciais do planeta, sobre meio ambiente, da qualidade da democracia.
Cristiano Romero: Encruzilhada fiscal e social
Retomada desigual do PIB e fim do auxílio fomentam crise social
Não é desprezível o risco de o país enfrentar nos próximos meses uma grave crise social. Todos sabemos que 2020 só não foi mais trágico, do ponto de vista econômico, porque o Congresso Nacional e o governo federal agiram rapidamente para instituir novo mecanismo de transferência de renda e, assim, compensar o fato de que, devido à pandemia, milhões de trabalhadores formais e informais perderam subitamente seu ganha-pão
O auxílio emergencial funcionou razoavelmente bem e impediu que a contração da economia fosse muito superior à esperada. Muitos analistas chegaram a projetar queda acima de 9% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. Segundo cálculos do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da FGV-Rio, o PIB pode ter caído 4,7% no ano passado e crescerá 3,6% em 2021.
O que evitou um mergulho maior do PIB foram os bilhões de reais transferidos a pouco menos de 70 milhões de brasileiros entre abril e dezembro. Uma parte significativa desse contingente - cerca de 45 milhões de pessoas - é beneficiária do programa Bolsa Família e, por essa razão, continua recebendo o benefício, embora num valor bem inferior ao do auxílio emergencial - aproximadamente, R$ 150 por pessoa, em vez de R$ 600 (quantia paga entre abril a setembro) e R$ 300 (de outubro a dezembro).
O auxílio expirou em 31 de dezembro. Neste mês, ainda há um resíduo a ser transferido, mas, depois disso, acaba. Enquanto isso, assistimos, apreensivos, ao recrudescimento da pandemia no país. Seus efeitos negativos sobre a economia logo aparecerão, comprometendo a recuperação esperada. Grosso modo, 30 milhões de cidadãos viverão doravante sem renda alguma.
A equipe econômica do governo alega que a situação fiscal do país já era claudicante antes da pandemia e tornou-se desesperadora ao longo de 2020. O setor público consolidado, isto é, as contas de União, dos Estados e municípios, registrou déficit primário, nos 12 meses acumulados até novembro, de R$ 664,6 bilhões (8,93% do PIB).
Chama-se esse conceito de “primário” porque não inclui a despesa com juros da dívida. É a diferença entre o que o Estado arrecada por meio de tributos e o que gasta. Desde 2014, essa diferença é negativa. No ano passado, por causa da pandemia, é compreensível que, por causa do enfrentamento da pandemia, o rombo tenha aumentado.
Bem, se o setor público da Ilha de Vera Cruz não consegue arrecadar o suficiente para cobrir as despesas do Estado, como faz para honrar despesas como aposentadoria e pensões de mais de 30 milhões de brasileiros, salários do funcionalismo e gastos obrigatórios com saúde e educação? Ora, endividando-se.
Nos 12 meses até novembro de 2021, o déficit nominal, conceito que inclui o serviço da dívida, isto é, a despesa com juros, alcançou R$ 978,0 bilhões (13,14% do PIB). A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), que compreende governo federal, INSS e governos estaduais e municipais, alcançou R$ 6,559 trilhões em novembro (88,1% do PIB). Em apenas um ano, cresceu mais de dez pontos percentuais de PIB.
Ninguém em sã consciência dirá que a situação fiscal deste país não é grave. O problema é justificar o fim da ajuda humanitária a quem precisa com o argumento de que, se houver deterioração adicional das finanças públicas, o país quebrará, investidores (nacionais e estrangeiros) fugirão daqui, a cotação do dólar visitará a estratosfera, haverá calote da dívida...
Não se tente convencer um pai de família desempregado a entender esse argumento ou de que sua situação é esta por não ter estudado) ele pode mostrar que, felizardo (porque a maioria não chega tão longe), estudou, sim, em escola pública durante toda a sua vida, ganhou bolsa do Fies para cursar ensino “superior” em faculdades com ação na bolsa e sócio estrangeiro, mas de péssima qualidade, e ainda assim está na miséria, como outros milhões de compatriotas neste momento terrível do país e da humanidade.
Por que não se usa o mesmo argumento fiscal para “convencer” grupos de interesse específico a entregar parte do butim, que faz deste imenso território um lugar rico habitado por uma minoria rica e uma maioria esmagadora, pobre?
“O Brasil chega a 2021 mais enredado do que nunca nas complexidades e contradições de múltiplas expectativas e demandas. É preciso voltar a crescer, mas também há que se responder a uma teia cada vez mais ampla de direitos democráticos em temas como saúde, segurança, transporte de qualidade, meio ambiente, combate ao racismo, empoderamento feminino, reconhecimento de identidades de gênero etc.”, observa Luiz Guilherme Schymura, presidente do Ibre-FGV.
Há uma visão, diz Schymura, segundo a qual, a retomada do crescimento seria suficiente para que os rendimentos do mercado de trabalho preenchessem a lacuna deixada pelo fim do auxílio emergencial. O impacto social, portanto, não seria dramático. O problema é que, talvez, muitos dos que acreditam nessa possibilidade não tenham considerado dois fatores: o aumento exponencial dos casos de covid-19, algo que pode obrigar prefeitos e governadores a reinstituir regras de isolamento social, e o fato, inacreditável, de que o governo Bolsonaro simplesmente não planejou a vacinação dos 210 milhões de viventes que moram neste canto do planeta. Sem vacina e imunização planejada, não teremos recuperação econômica. Teremos, sim, o agravamento da crise sanitária que já ceifou a vida de 210 mil brasileiros.
Há um terceiro problema. A economista-chede do Ibre, Sílvia Matos, conta que a retomada pós choque econômico da pandemia é muito desigual. “Chegou-se a criar a expressão ‘recuperação em k’ para se referir ao fato de que, enquanto a indústria e o comércio saíram na frente, os serviços, mais afetados pelo distanciamento social, ainda dão sinais de fraqueza”, diz Schymura.
Exemplo da heterogeneidade no próprio setor de serviços. Os que são prestados às famílias e que empregam bastante, medidos pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), estavam em outubro 32% abaixo do nível pré-pandemia, em fevereiro do ano passado. Já os serviços de tecnologia da informação registraram avanço de 12% na mesma comparação, beneficiados pelo trabalho em casa, a comunicação a distância.
“É nessa encruzilhada extremamente difícil que se encontra o país neste início de 2021, e não se deve nutrir a esperança de que a retomada econômica pós covid resolverá os muitos dilemas e impasses. Mais do que nunca, será preciso um grande entendimento nacional para que se encontre um caminho viável que evite simultaneamente crises agudas no campo fiscal e social”, comenta Schymura.
Rogério F. Werneck: Entalo fiscal
Governo finge que quer preservar o teto de gastos
Neste final de ano, a política fiscal do governo está fadada a ter um encontro marcado com a verdade. Já não há mais espaço para autoengano sobre suas reais possibilidades. Ao cabo de meses e meses de ilusionismo, falta de foco e escancarada procrastinação do anúncio das medidas de ajuste nas contas públicas que se fazem necessárias, o Planalto se descobre, agora, com não mais que três semanas e meia para escapar do entalo fiscal em que se meteu.
O governo nem mesmo conseguiu que o Congresso aprovasse a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). E a apreciação do Orçamento ainda inspira cuidados. Vem sendo tumultuada pela disputa precoce pelo controle das mesas do Congresso, instigada pelo próprio Planalto. Vai-se entrar em dezembro sem que Comissão Mista de Orçamento tenha sido sequer instaurada. É espantoso.
Salta aos olhos que, prestes a completar a primeira metade de seu mandato, Bolsonaro já não tem mais qualquer intenção de levar adiante um esforço sério de ajuste fiscal no que lhe resta de mandato. Não é isso que preconiza a ala desenvolvimentista do governo, nem o que acalenta a bancada que lhe dá apoio no Centrão nem, tampouco, o que defende o círculo mais próximo de conselheiros do presidente.
O que se viu até aqui foi um jogo de aparências, em que o governo finge que quer preservar o teto de gastos. De um lado, porque continua a temer que qualquer discurso mais ostensivo contra o teto possa desencadear reações implacáveis dos mercados. E, de outro, porque continua assombrado pelo temor de dar margem a um processo de impeachment, caso se disponha a violar abertamente uma regra fiscal claramente inscrita na Constituição.
Sobram razões para a preservação do teto de gastos, especialmente num governo que já não esconde sua falta de compromisso com o ajuste fiscal. E é improvável que as forças do Congresso que já se articulam em torno de projetos políticos de enfrentamento do bolsonarismo, em 2022, estejam dispostas a ajudar o governo a se desvencilhar da camisa de força constitucional que vem tolhendo, com eficácia, seus excessos fiscais.
É bem sabido que, encantado com o ganho de popularidade que lhe trouxe o auxílio emergencial, Bolsonaro continua fixado na ideia de poder implantar um programa similar no início do ano que vem, quando o pagamento do auxílio tiver sido suspenso, ao fim do período de vigência do estado de calamidade.
Dada a dificuldade de acomodar um programa dessas dimensões sob o teto de gastos, a “solução” fácil que, agora, vem sendo contemplada é a simples prorrogação do estado de calamidade que, supostamente (há quem discorde), permitiria estender o pagamento do auxílio por alguns meses mais.
Como tal “solução” só seria minimamente defensável se de fato estivesse havendo claro recrudescimento da pandemia no país, não falta agora, no governo, quem esteja pronto a interpretar qualquer oscilação para cima nos números nacionais de casos ou mortes como evidência inequívoca do avanço de uma “segunda onda” pandêmica no Brasil. Quem te viu, quem te vê. O negacionismo que pautou a postura do governo na primeira onda da pandemia cedeu lugar, agora, a um alarmismo oportunista acerca da suposta segunda onda. “Não tem como não prorrogar” (o auxílio emergencial) é a palavra de ordem que ganha força no Centrão.
Quanto a medidas de ajuste fiscal de mais fôlego, é difícil discernir, em meio ao discurso caótico do governo — seja no Planalto, seja no Ministério da Economia —, algo que se assemelhe, ainda que remotamente, a um plano claro de jogo.
Findo o segundo turno das eleições municipais, a ser disputado em 57 cidades no domingo, o país testemunhará o despreparo com que o governo se verá obrigado a enfrentar, afinal, no apagar das luzes do ano legislativo, as alarmantes indefinições fiscais que, há meses, vem se permitindo manter.
Zeina Latif: Sem meias palavras
A crise fiscal explode diante de nossos olhos e a cada dia novos riscos aparecem
Faz parte da nossa cultura buscar sempre um lado positivo em tudo. Temos baixa tolerância a más notícias. Não é incomum os noticiários na televisão terminarem a edição com algum assunto ameno, provavelmente para não perder audiência.
É possível que esse traço cultural atrapalhe o enfrentamento de problemas. Ao negá-los ou atenuá-los, a busca por soluções tende a ser protelada. A reforma da Previdência saiu porque paramos de dourar a pílula.
O momento atual pede o enfrentamento da dura realidade fiscal, que se agravou. A recomendação de muitos de fazer tudo que fosse possível na pandemia, sem se preocupar com a qualidade e calibragem dos gastos, foi imprudente. Gastamos muito em comparação aos emergentes e não tão bem, como já discutido em outro artigo.
A PEC do orçamento de guerra poderia ter incluído a possibilidade de redução de jornada e vencimentos do funcionalismo, que tem estabilidade. De acordo com o IBGE, foi o grupo que mais reduziu as horas trabalhadas na pandemia. Em julho e agosto, elas foram em média 75% do habitual, ante 85% no setor privado e 81% nos informais.
Foram transferidos em torno de R$125 bilhões aos Estados, entre recursos diretos e suspensão de dívidas. No entanto, as contrapartidas exigidas foram tímidas. O congelamento de salários do funcionalismo por um ano e meio é muito pouco, até porque muitos Estados já haviam feito reajustes este ano.
A pandemia anestesiou os problemas nas finanças dos Estados, pois os pagamentos de serviço da dívida à União foram suspensos, o auxílio emergencial puxou a volta da arrecadação (+5,5% em setembro na variação anual) e a transferência de recursos da União ajudou a honrar a folha. Os problemas voltam todos em 2021.
Não por outra razão, a Câmara está propondo um novo projeto de socorro a Estados e municípios. Será crucial inserir boas contrapartidas e garantir sua manutenção, diferentemente do que ocorreu no acordo de 2016, quando a maioria foi derrubada no Congresso, como a suspensão de ajustes salariais e a redução de incentivos tributários (representam em média 17% da receita do ICMS). Ficou apenas o estabelecimento de uma regra do teto por dois anos, sem que instrumentos para seu cumprimento fossem previstos. O teto não foi atendido por 11 Estados e outros 9 não assinaram o aditivo. Para inglês ver?
As regras atuais que regem os orçamentos estaduais dificultam e até inviabilizam o cumprimento do teto, como aponta Cristiane Alkmin, pois geram crescimento automático das despesas obrigatórias. É o caso dos gastos com a folha de ativos e inativos, as vinculações de gastos de saúde e educação à receita corrente líquida (e não à variação do IPCA, que corrige o teto) e o piso do magistério (204% de ajuste desde 2009 ante uma inflação de 83%).
As contrapartidas são essenciais, portanto, inclusive para fortalecer politicamente o ajuste fiscal de governadores. Caso contrário, não sairemos da armadilha de frequentemente renegociar as dívidas de Estados.
A crise fiscal explode diante de nossos olhos e a cada dia novos riscos aparecem, como os crescentes precatórios, que afetam as 3 esferas de governo.
A reação dos mercados ao risco fiscal em alta – só não é maior por conta do teto de gastos – é didática para alertar a classe política. Ajuda a conter retrocessos e equívocos, como na proposta de adiar o pagamento de precatórios para financiar o Renda Cidadã.
Porém, não se pode depender do mau humor dos mercados para avançar com a agenda fiscal. Os investidores não costumam mapear bem os riscos. Tanto é assim que se encantaram com as promessas liberais de campanha. Muitas vezes, as reviravoltas no mercado acabam ocorrendo quando o quadro já é muito grave, como em 2015. Além disso, a pressão dos mercados não faz milagre quando não há plano estruturado a entregar.
Quando o Executivo está desarticulado, prevalecem os interesses difusos do Congresso. O primeiro antídoto contra isso é não negar os problemas.
*Consultora e doutora em economia pela USP
Rogério Furquim Werneck: Atalhos e mágicas
Em meio à grave crise fiscal que vive o país, a perda da receita proveniente de encargos sobre a folha terá de ser compensada
Com o país à espera da proposta de reforma da Previdência que o governo afinal submeterá ao Congresso, a Secretaria Especial da Receita vem adiantando alternativas de reforma tributária com que vem trabalhando. Duas delas causam preocupação.
O governo quer desonerar a folha de pagamentos. Mundo afora, a Previdência Social vem sendo financiada com encargos sobre a folha. Mas o governo está convencido de que são os encargos sobre a folha que vêm preservando a informalidade no mercado de trabalho e entravando a expansão do emprego.
Em meio à grave crise fiscal que vive o país, a perda da receita proveniente de encargos sobre a folha terá de ser compensada. A questão é encontrar fonte alternativa de financiamento numa economia já escandalosamente sobretaxada. Algo mais terá de ser onerado para que a folha seja desonerada. Quem arcará com a tributação compensatória que terá de ser imposta? Não é uma indagação que parece preocupar o governo. O que se aventa em Brasília é recorrer a tributos primitivos, de coleta fácil. Impostos cumulativos, cobrados em cascata, altamente ineficientes e com incidência sabidamente difusa e incerta.
A contribuição patronal sobre a folha seria preferencialmente substituída ou por um imposto de alíquota única incidente sobre faturamento das empresas ou por um “imposto sobre pagamentos, que atingiria todo o fluxo de caixa das empresas”, como esclareceu o secretário especial da Receita (“Valor”, 21/1). Tanto uma alternativa como outra representariam retrocessos lamentáveis, na contramão do esforço de reforma tributária que hoje se faz necessário no país.
Contribuição patronal cobrada sobre faturamento das empresas não chega a ser novidade. Foi introduzida pela inesquecível equipe de Dilma Rousseff, num arranjo de alíquotas fixadas caso a caso, ao sabor da grita e do lobby de cada setor. Implantada inicialmente em setores escolhidos a dedo, teve de ser estendida a muitos outros, sob pressão do Congresso.
A experiência configurou deplorável degradação do sistema tributário, na contracorrente de anos de esforço de eliminação da tributação cumulativa no país. E, não obstante o louvável empenho da equipe econômica do governo Temer, a cobrança de contribuições patronais sobre faturamento não pôde ser completamente eliminada. Subsiste ainda em setores com mais influência no Congresso. É espantoso que volte agora a ser contemplada pelo governo.
Tampouco chega a ser novidade a tributação sobre movimentação financeira, agora disfarçada sob o manto de um “imposto sobre pagamentos, que atingiria todo o fluxo de caixa das empresas”, talvez para escapar da notória ojeriza de Jair Bolsonaro à CPMF, forjada no embate de 2007, quando o Congresso, em boa hora, negou-se a aprovar a prorrogação da cobrança do tributo proposta pelo presidente Lula.
Nunca é demais lembrar, recorrendo a uma conta simples, o que há de errado com a CPMF. Quando deixou de ser cobrada em 2007, com alíquota de 0,38%, a contribuição permitia arrecadar R$ 38 bilhões. Dividindo-se a arrecadação pela alíquota chega-se à fabulosa base fiscal sobre a qual incidia a contribuição. Nada menos do que R$ 10 trilhões. Valor correspondente a quase quatro PIBs da economia brasileira em 2007.
A mágica decorre da incidência em cascata da CPMF, que dá lugar a uma base fiscal fictícia, sem contrapartida econômica real, em contraste com o que ocorre com formas mais civilizadas de tributação, que incidem sobre renda, consumo, valor adicionado, folha de pagamento e riqueza. Uma alíquota “pequena” sobre uma base gigantesca e artificial. O sonho da tributação populista. É inacreditável que, a esta altura, ainda haja quem continue a defender a recriação de tributos sobre movimentação financeira.
São propostas impensadas, que pecam pelo escapismo, ao tentar passar ao largo da complexidade do problema. Não há atalhos e soluções mágicas no duro caminho de racionalização do sistema tributário que o país tem pela frente.
Everardo Maciel: Incertezas e desafios da competição fiscal
Se tributo é meio para extração de renda da sociedade, em nome do interesse coletivo, não o cobrar, por ação deliberada do Estado, promove uma competição fiscal que pode vir a ser um importante instrumento na atração de investimentos privados, em desfavor, contudo, do princípio da neutralidade fiscal, que preconiza a minimização da interferência dos tributos na alocação de recursos.
A competição fiscal entre distintas jurisdições, entretanto, é tão antiga quanto a história dos impostos. Sempre prevaleceu o entendimento, por vezes falacioso, de que sem ela os investimentos não se concretizarão.
Para prevenir a competição predatória, são editadas regras, em leis internas ou convenções internacionais, com fixação de limites e requisitos para competição. Sua inobservância configura a guerra fiscal.
No Brasil, a guerra fiscal do ICMS parece caminhar na direção de um armistício, com a edição da Lei Complementar nº 160, de 7.08.2017, e sua regulamentação mediante convênios, celebrados pelos secretários estaduais de Fazenda.
Não foi a melhor solução, mas, nas circunstâncias, a possível, podendo ser aperfeiçoada no processo de implementação. Ao menos, já não se poderá falar mais em guerra fiscal do ICMS.
No plano internacional, a União Europeia (UE), no início de dezembro do ano passado, deflagrou a primeira ação concreta contra os chamados paraísos fiscais, ao incluir 17 países e dependências em uma lista negra (blacklist) e 47, em uma lista cinzenta (greylist).
No que se refere aos países e dependências incluídos na lista negra, os membros da UE ficaram autorizados a adotar contramedidas ou sanções retaliatórias e dissuasórias, inclusive a retenção de imposto na fonte (como já faz o Brasil, há muito tempo).
Já em relação aos que constam da lista cinzenta, foi estabelecido um prazo de um a dois anos, conforme o caso, para melhorar os padrões de transparência, promover a tributação justa, introduzir requisitos de substância e aplicar as medidas recomendadas pela OCDE, no contexto do BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – programa de integridade tributária chancelado pelo G-20.
A despeito de alvissareira, por constituir um passo inicial no enfrentamento dos paraísos fiscais, a iniciativa da UE é claudicante nos seguintes aspectos: a) o critério para qualificação dos paraísos fiscais não é objetivo, assumindo caráter impressionista, ainda que represente algum consenso; b) as contramedidas e sanções podem ser pouco eficazes, porque certamente não serão uniformes; c) as listas não contemplam conhecidos paraísos fiscais integrantes da UE, como: Irlanda, onde se encontram as sedes da Apple e Google, empresas com baixa disposição para pagar impostos, e que, por pouco, não recepcionou a brasileira Friboi; Luxemburgo, palco de recorrentes escândalos fiscais; Holanda, que adota um favorecido regime para holdings, e Malta.
Os paraísos fiscais, que concentram 1/6 da riqueza mundial, representam a mais grave enfermidade tributária da história. Um caso teratológico de competição nociva e concentração de renda.
As atividades das multinacionais em paraísos fiscais, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em inglês), resultam em perdas anuais de US$ 100 bilhões para os países não desenvolvidos, o que corresponde a 1/3 de sua base potencial de imposto de renda corporativo.
Em contrataste com a leniência da UE, desde 1996, o Brasil adota critérios objetivos para definir paraísos fiscais e contramedidas específicas para compensar perdas de receitas.
Sou cético, todavia, quanto à eficácia das medidas que serão adotadas pelos países da UE, pois há uma clara indisposição para cooperar por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido, justamente porque abrigam paraísos fiscais, como Samoa Americana, Guam, Cayman, Guernsey, Jersey, Ilha do Homem.
A despeito de não ser uma boa temporada para o multilateralismo, a única via para enfrentar o problema ainda é negociar um tratado.
* Everardo Maciel é ex-secretário da Receita Federal
Como a irresponsabilidade fiscal fez a PEC do teto alçar vôo
A PEC do teto, ou PEC 241, está nas ruas, nas páginas dos jornais, nas redes, no rádio e na televisão, mas o cidadão comum não faz ideia do que está causando tanta polêmica. Três fatores ajudam a que entendamos as razões disso.
Um é a imperícia governamental. A PEC tem muitos furos e buracos negros, parecendo ter sido redigida basicamente para abrir um debate e ser a partir dele corrigida. São muitas as vozes que dizem que a medida está mal formulada e que tenderá ao abandono no médio prazo, como desdobramento de sua inconsistência.
Além disso, o governo é péssimo em comunicação. Não fala com a sociedade, não explica suas propostas, operando como se não estivesse com os pés na Terra. Falta-lhe vocação pedagógica mínima.
Outro fator são os economistas. Eles aprisionaram a PEC e parecem querer utilizá-la para testar seus esquemas teóricos e suas elucubrações analíticas.
Tanto os neoclássicos liberais quanto os neokeynesianos progressistas ou marxistizantes cometem o mesmo erro: o da empáfia e da falta de comunicação, mesmo quando uns criticam a “retórica tecnicista” dos outros, e vice-versa.
Além de pedagogia democrática, falta-lhes disposição para levar o debate para o terreno político, só o fazendo de modo marginal. Falam como se não existisse povo.
O terceiro fator está associado às corporações e às áreas específicas das políticas sociais, cada uma das quais luta para preservar seu status, perder menos ou ganhar mais.
O argumento da “perda total” é utilizado de forma intensiva: os prejuízos sociais serão incomensuráveis, direitos serão simplesmente pisoteados, os pobres terminarão por ser exterminados, as conquistas atiradas no lixo.
O exagero retórico, aqui, ainda que válido como recurso de combate, não ajuda ao esclarecimento, pois sobrepõe um tratamento passional e “parcial” a toda e qualquer consideração de ordem mais “racional” e “geral”.
Se agregarmos a isso o fato de que os partidos pouco produzem – quando muito, agitam sem muito critério –, conseguimos entender as razões que fazem o debate fiscal ficar na estratosfera, ainda que seja vital para todos. O ajuste vai andando, sem que ninguém se dê ao trabalho de traduzi-lo em termos compreensíveis.
A opinião pública no seu conjunto fica paralisada pelo maniqueísmo simplificador do debate, como se não existissem outras opções e como se o pacote governamental fosse a única e perfeita saída.
Perguntas que não querem calar:
- O governo tem somente uma única bala?
- Não haveria outras formas de aumentar receitas sem que se tivesse de apelar para o aumento de impostos universais?
- E a progressividade tributária, que faria com que os mais ricos pagassem mais para poupar a sangria dos mais pobres?
- E as grandes fortunas?
- Não seria possível “empoderar” o Congresso para que ele mesmo fizesse cortes e realocasse gastos conforme o andar da carruagem?
- Não há despesas desnecessárias ou mal calibradas, não há privilégios ou benefícios socialmente negativos que, se extintos, ajudariam de modo importante?
- Por que 20 anos, e não 10 ou 15?
Precisamos urgentemente de alguém que ponha os pingos nos iis.
Uma primeira coisa, por exemplo, é compreender que a PEC 241 não caiu do céu. Em outros formatos, algo similar a ela foi tentado antes, por Lula e Dilma, bem como por FHC.
O país vive assombrado por demônios recorrentes: o crescimento constante dos gastos públicos, a dificuldade de arrecadar mais, a inflação, a má qualidade dos políticos, seguidos problemas de financiamento de políticas, a corrupção, o imediatismo e a descontinuidade, para lembrar alguns bem conhecidos.
Nos últimos anos, e especialmente durante o governo Dilma, a gestão pública decaiu muito em termos éticos, políticos, institucionais e econômicos. A inadimplência é elevadíssima, há falências sendo anunciadas em cascata, as finanças de estados e municípios estão no osso, a recessão é real.
Tudo isso, querendo-se ou não, ficou associado aos últimos governos, que se mostraram pouco responsáveis em termos fiscais.
Os governos petistas de Lula e Dilma sempre se apresentaram como sendo de esquerda, e isso facilitou o aparecimento de uma onda de caráter neoconservador, ou neoliberal, que elegeu o corte de gastos estatais como bandeira. Coisa que, de resto, se mostra indispensável e deve ser de fato posta na mesa, para ser negociada.
A capacidade de negociação política da sociedade, porém, é baixa. Fica tudo concentrado nas mãos da chamada classe política, que também anda mal das pernas. Explode nas disputas eleitorais, mas quase sempre de modo imperfeito.
O debate é pouco racional e invariavelmente se divide entre intervenções tecnicistas e intervenções passionais. Com isso, muita coisa sobra e não é processada de forma a ser compreendida socialmente.
Por exemplo: gastos sociais com saúde e educação não são obrigações predominantemente federais. Estados e municípios participam em cerca de 25% deles, assim como o setor privado, que arca com quase 60% do total.
O teto da PEC 241, portanto, afetaria aproximadamente 15% do que se gasta com saúde e educação, e nessa faixa haverá de fato perdas e riscos sérios. Mas é razoável que se imagine que uma contração no governo central irradie contrações para os demais níveis federativos.
A conta, porém, precisa ser feita com cuidado, considerando o tamanho do país, a desigualdade dos estados e municípios, o volume da dívida e do rombo fiscal em cada um deles, e assim por diante. Não dá para passar por cima disso tudo e simplesmente dizer que a educação e a saúde serão baleadas de morte.
Outra coisa: a PEC 241 pretende operar no longo prazo, o que é um de seus aspectos mais discutíveis e enigmáticos.
Por que 20 anos? A medida admite que se façam revisões depois de 10 anos ou a qualquer momento, desde que haja alguma recuperação econômica e o Congresso decida de que área do orçamento serão transferidos os recursos.
Os parlamentares poderão deslocar recursos da infraestrutura, por exemplo, para contemplar a ciência, a saúde ou a educação. O que não poderão fazer é aumentar os gastos globais, ou seja, inchar o orçamento e endividar o Estado mediante empréstimos que financiem gastos adicionais.
É um problema? Com certeza, pois radicaliza a disputa por recursos públicos num quadro em que os mais pobres, que são também os que têm menos voz e representação, tenderão a perder mais. Mas não é o fim do mundo. Até porque o real efeito da medida é controvertido e não pode ser claramente estabelecido por antecipação.
Há também a variável demográfica, que precisa ser equacionada. A população brasileira continua a crescer, cerca de 0,8% ao ano. E está envelhecendo rapidamente, cerca de 3,5% ao ano.
Isso significa que esse fator ”natural” continuará a pressionar os gastos públicos. Algo deve ser feito para que a PEC considere o problema.
No caso da educação, pode-se até admitir que alguma “economia” seja feita na medida em que o número de jovens for diminuindo, o que é uma tendência clara.
Mas no caso da saúde a situação é terrivelmente complicada, seja porque com o envelhecimento os gastos com saúde crescerão, seja porque as doenças vão mudando de perfil (hoje o câncer é mais grave que as enfermidades cardíacas, e as doenças crônicas estão a aumentar) e onerando os tratamentos, seja porque aumenta o custo dos próprios serviços médicos, que são crescentemente mais tecnológicos.
O problema mais grave da crise fiscal (e, portanto, da PEC) está precisamente aí.
A PEC prevê teto e mecanismos de expansão orçamentária (a inflação do ano anterior), mas não admite que se deixe de honrar compromissos estabelecidos.
Isso poderá ser uma vantagem.
Ela, no fundo, protege as áreas sociais mais relevantes, tentando evitar que o custo delas cresça artificialmente ou seja reduzido arbitrariamente. Palavras do economista especializado em contas públicas Raul Velloso:
“Na realidade, é uma proteção para não haver corte nas áreas, mas está sendo interpretado como o contrário. Nenhum outro item poderá crescer às custas de educação e saúde. Quem trabalha nas duas áreas estará protegido, porque são pagos pelos orçamentos de ministérios protegidos. É só não contratar tanto e dar reajuste pela inflação”.
Por que 20 anos? Não seria mais razoável vincular o teto aos mandatos presidenciais, de modo a possibilitar que cada governo possa fixar critérios conforme suas políticas e especialmente conforme as circunstâncias políticas e a condição da economia?
Algo assim poderia dar maior flexibilidade ao teto e deixaria de engessar tanto os gastos. O risco seria o teto ser manipulado política e eleitoralmente, mas esse é um risco inerente às democracias. Pior que ele é o risco de tudo ficar sob o controle de técnicos e burocratas.
A PEC é omissa na questão de saber como se gasta, onde se gasta, quanto há de desperdício e ineficiência, qual o impacto real da corrupção e o que fazer para contê-la. Sem abrir essa caixa preta, todo esforço poderá ser inútil ou produzir pouca coisa.
Se se fixar um teto para os gastos sem avaliar a qualidade global dos gastos, o conjunto não ficará de pé. Esclarecimentos a esse respeito serão fundamentais para que a PEC seja aprumada, fique clara e eventualmente obtenha adesão social.
Supondo que alguma perda orçamentária haverá, como calibrar a qualidade dos serviços — a gestão — para que não haja prejuízo para a população? Nem tudo se resolve com mais verbas.
O que será feito, por exemplo, com o custo da Previdência, terreno delicadíssimo e potencialmente impopular? Alguma reforma é indispensável, isso parece claro.
Conforme for seu desenho, maior ou menor será seu impacto na gestão orçamentária global, até mesmo porque o custo da Previdência não está submetido à PEC e é corrigido por critérios próprios.
Junto com a assistência, a Previdência consome cerca de 50% dos gastos federais, o que significa que o governo administra somente metade do orçamento, que é precisamente aquilo que obedecerá ao teto. E aí a disputa por recursos será encarniçada.
Como disse Raul Velloso, a “chiadeira” será monumental.
“Não virá da saúde nem da educação, porque o piso deles está protegido. A única disciplina dos componentes do gasto é o piso de saúde e educação, que será corrigido pela inflação. Mas haverá chiadeira no investimento, no custeio geral, porque vão ter que cortar alugueis, contratos de prestação de serviço. Agricultura, reforma agrária, Justiça, Relações Exteriores estarão no alvo do ajuste. Enquanto as reformas que possam diminuir os gastos em Previdência não acontecem, o único jeito será pegar a arraia-miúda. Os que normalmente são arrochados serão muito mais arrochados”.
O que ocorrerá com as isenções fiscais, que consomem uma massa absurda de recursos de utilidade social bastante discutível? Tais desonerações beneficiam empresas, que em princípio dão retorno com a criação de empregos, mas também premiam igrejas, e isso num país em que o Estado é laico!
É preciso por tudo isso na mesa, e reunir juntamente com o crédito subsidiado, o crédito facilitado, certos mecanismos protecionistas, as licitações e compras do setor público.
Trata-se, em suma, de reforma tributária.
A estrutura brasileira de tributação é perversa e injusta. Tem vetores de progressividade, mas no fundamental cai sobre o consumo e a renda do trabalho com muito maior força do que sobre a renda do capital.
Diz-se que é assim para que se possa fazer a economia crescer e favorecer a arrecadação, explicação meio cínica. O problema está exposto há décadas.
E os governos – tanto os de Lula e Dilma, quanto o de Temer – ficam paralisados diante da situação, porque simplesmente não conseguem contar com correlação de forças mais favorável, ou seja, não dispõem de suportes políticos efetivamente reformadores.
Preferem manter o padrão em vez de mexer com os mais fortes, que alegam suportar uma carga tributária que bloqueia a expansão econômica (o “custo-Brasil”) e continuam a pagar proporcionalmente menos impostos, pondo muitas vezes em prática artimanhas de sonegação que a grande maioria desconhece.
Será preciso que alguém demonstre, por a mais b, como financiar o gasto público que não cessa de aumentar, num quadro de recessão e queda de arrecadação. Sem isso, ficaremos todos paralisados pelo monstro do quanto se gasta. Veremos a dívida pública permanecer em expansão, transferindo renda para o setor financeiro e arruinando o futuro.
A joia da Coroa é o crescimento econômico, obsessão socialmente justificada. Será preciso que se explique, portanto, por que é que a economia não cresce.
Trata-se de uma falha da política macroeconômica, das circunstâncias da economia internacional, do padrão do capitalismo nacional? Ou de tudo isso misturado? Estamos reprimarizando a economia sem permitir que a industrialização avance?
Alguém deve contar direito essa história, encaixando na explicação, por exemplo, a questão da produtividade e da carga tributária, o tal custo-Brasil.
É ou não verdade que temos problemas de produtividade e que isso amarra e deforma o crescimento? Há defeitos e limitações no planejamento e na gestão das empresas, mas também limites derivados da baixa escolaridade e da estrutura institucional que faz interface direta com a economia (sistema judiciário, sistema financeiro, sistema de crédito, etc.).
Quando é que se atacará essa frente de forma vigorosa?
E mais: como minimizar o risco de que ganhos tributários derivados do crescimento não sejam devorados por desvios, trambiques e esquemas ilícitos?
O crescimento desafogará e irrigará os cofres públicos, mas é justamente aí que mora o perigo caso não sejam tomadas as devidas providências. Não se trata só de bloquear os dutos da corrupção, mas de aperfeiçoar as práticas, as estruturas, os processos de gestão.
Tudo somado, a PEC 241 pode ter seus méritos, mas também tem seus buracos, especialmente no que diz respeito ao modo como será executada e como será negociada politicamente.
Com ela, o governo pôs um bode na sala. Fez isso intencionalmente, mas também porque não tem outro movimento a fazer.
Não procedeu assim por ser um “governo usurpador e golpista” ou porque lhe falte legitimidade. Mas sim porque lhe falta a devida densidade técnica e política e também porque a gravidade do momento não admite omissão.
Se, porém, o Congresso honrar suas tradições históricas e cumprir o que dele se espera, se o governo mostrar inteligência estratégica e flexibilidade democrática, se os partidos democráticos progressistas e os movimentos sociais atuarem com discernimento e combatividade, se a intelectualidade se engajar no debate público e der sua contribuição,muita coisa poderá ser feita.
O pior é ficarem todos cruzando armas sem sair do lugar. E esperando para ver o que acontecerá.
Fonte: http://ano-zero.com/pec-do-teto/
Luiz Carlos Azedo: A base e o ajuste
*Luiz Carlos Azedo
Temer está sendo posto à prova por duas outras variáveis: a primeira é a crise fiscal; a segunda, a Operação Lava-Jato
O principal cacife político do presidente Michel Temer é uma base parlamentar sólida, tecida durante a crise política que levou ao impeachment a presidente Dilma Rousseff, da qual o peemedebista era o sucessor legal. O impeachment gerou um campo de forças centrípeto, para o qual foram atraídos os principais partidos de oposição, que hoje integram o bloco formado também pelo PMDB e por outros partidos que estavam no governo.
Essa base foi formada em decorrência de quatro fatores: a inapetência de Dilma Rousseff para negociar com os seus aliados, a começar pelo próprio vice-presidente da República; o fracasso do seu modelo de desenvolvimento, a chamada “nova matriz econômica”; o escândalo da Petrobras, que atingiu principalmente o PT; e, principalmente, a mobilização da sociedade a favor do impeachment. No primeiro momento, esses fatores desagregaram a antiga base de Dilma no Congresso; depois, provocaram um reagrupamento de forças a favor de Temer, o que se reflete na composição do atual ministério.
O que mudou com a formação do novo governo? Em primeiro lugar, as forças que o compõem já não têm um objetivo claro e unificador como fora apear o PT do poder. As forças majoritárias no Congresso, os empresários prejudicados pela recessão, a Operação Lava-Jato e os movimentos a favor do impeachment convergiam quanto a isso. Hoje, as variáveis que mantêm a coesão das forças que apoiam Temer no Congresso e no mercado são a participação no governo e a nova equipe econômica, respectivamente.
Num primeiro momento, a reação do PT fora do governo foi tentar voltar às origens e se articular com os movimentos sociais e com partidos de esquerda nos protestos contra Temer. Para isso, utilizou a narrativa do “golpe parlamentar” e tentou nacionalizar o debate eleitoral, principalmente nos grandes centros urbanos. O resultado dessa estratégia foi um fracasso eleitoral sem precedentes, que repercute internacionalmente. Prefeitos e vereadores eleitos pelos partidos que compõem a base do governo, a começar pelo PMDB e pelo PSDB, demonstram que essas forças têm o apoio da maioria da sociedade, uma tendência que deve se confirmar com os resultados do segundo turno.
Entretanto, o governo Temer está sendo posto à prova por duas outras variáveis que foram determinantes para o impeachment de Dilma Rousseff: a primeira é a crise fiscal (vamos incluir aí os governos estaduais e as prefeituras); a segunda, a Operação Lava-Jato, que ameaça levar de roldão lideranças políticas importantes do PMDB e de partidos aliados.
Os sinais de que a recessão começa a ser vencida são visíveis, já há analistas que preveem a queda da inflação ainda neste ano e uma lenta retomada do crescimento a partir do próximo ano. A chave da estabilidade política e da sobrevivência do governo Temer até 2018 passa pela aprovação do ajuste fiscal. Seu caminho crítico não é o teto do gasto público, cuja emenda constitucional foi aprovada em primeiro turno por ampla maioria na Câmara. A chave é a reforma da Previdência, sem a qual estados e municípios entrarão em colapso no curto prazo; a União, logo depois.
Engessamento
Em ambos os casos, porém, a base parlamentar de Temer sofre pressões corporativas, principalmente de servidores federais que não querem perder vantagens e privilégios. Essas corporações têm enorme poder de pressão porque estão muito bem representadas no Congresso e, como ocupam posições-chave no Estado, não hesitam em paralisar os serviços que prestam à população, em desorganizar a administração e em ampliar o desgaste do governo. O PT e outras forças de esquerda estão se aproveitando dessa contradição para resgatar o seu velho discurso sindical contra as reformas.
Procuram confundir a opinião pública em aspectos fundamentais, como a de que o teto necessariamente reduzirá as verbas da Educação e da Saúde, quando não é ocaso, pois isso dependerá da definição de prioridades e de escolhas na hora de elaborar o Orçamento da União. Na questão da Previdência, também se faz muita confusão com a situação dos funcionários públicos e dos trabalhadores do setor privado, uma forma de mascarar a discussão sobre os privilégios.
Resta a Operação Lava-Jato e o impacto do combate à corrupção na política sobre o governo Temer. Essa é uma variável que os partidos da base do governo não controlam, ainda que tentem mitigar os efeitos das investigações e circunscrevê-las ao PT. Todos os esforços nessa direção, até agora, fracassaram. As informações de bastidores são tenebrosas. Tudo indica que até o final do ano a Lava-Jato avançará, em nível federal, alcançando parlamentares, ministros e governadores. Por isso, os políticos se mobilizam no Congresso para aprovar uma reforma política a toque de caixa, com objetivo de blindar os grandes partidos contra o expurgo de suas lideranças, engessando ainda mais o quadro político.
*Jornalista, colunista do Correio Braziliense
Fonte: http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-base-e-o-ajuste/