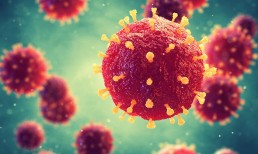coronavirus
Elena Landau: Perigo real e imediato
Se algo positivo pode sair dessa crise é o fim da carreira desse protótipo de ditador
Este governo nunca expressou empatia por ninguém. À essa indiferença se juntou a falta de noção. Não chega a ser uma surpresa: o obscurantismo sempre foi a sua marca. Bolsonaro tratou tudo com desdém: “histeria, se eu estiver infectado o problema é meu, vamos manter cultos e missas, sobrevivi a uma facada, não é uma gripezinha que vai me pegar”. Afinal, ele tem histórico de atleta. A lista de despautérios é imensa. É todo dia um.
Seu pronunciamento foi o ápice dessa marcha da insensatez. Ele tem um padrão que parece errático, mas é bem pensado. Faz e desfaz, e vai testando os limites. Começou a semana dando sinais de que tinha entendido a gravidade da crise. Também se reuniu com governadores, a quem havia chamado de lunáticos. Tudo parecia caminhar para um mínimo de normalidade.
Seus cinco minutos em rede nacional mostraram que não passava de uma farsa. O desatinado se revelou em toda sua mesquinharia, fez piadas com Drauzio Varella, atacou a mídia, jogou por terra todos os esforços que a equipe do Ministério da Saúde vinha fazendo para manter o distanciamento social e provocar o achatamento da curva da epidemia. E ainda criou uma crise institucional com os governadores. Ele acha que está num jogo ganha-ganha; se o isolamento for mantido por eles, e funcionar, vai manter a tese da gripezinha.
Nada é feito sem pensar. Empresários ligados a ele coordenaram uma campanha nas redes sociais defendendo a estratégia de isolamento vertical. Era um teste. Gostou da repercussão e partiu para o confronto com governadores e infectologistas. Nosso presidente já era considerado o pior líder mundial na condução do combate ao vírus. Agora, virou hors-concours.
Muitos votaram nele esperando que o “capitão”, que nem sequer carreira militar conseguiu seguir, fosse comandar o país na “guerra contra o comunismo”. Se mostrou despreparado para liderar qualquer coisa, a não ser sua própria família, composta de outros incompetentes. A incapacidade intelectual para conduzir o país era esperada, a ela se juntou a psicológica e, mesmo, ética. Bolsonaro embrulhou seu discurso contra o isolamento com a necessidade de preservar empregos. Populismo puro. Ele não está preocupado com a vida de seus cidadãos, nem com o sustento de famílias vulneráveis ou com os milhões de brasileiros que veem sua renda ser interrompida da noite para o dia. O foco dele é 2022, bem revelado no bate boca com Doria.
O Tesouro e o Banco Central atuaram para garantir recursos para saúde e injetar liquidez na economia. Mas não é suficiente. As iniciativas têm se concentrado no mercado de trabalho privado e formal, enquanto nada tem sido proposto para o setor público, onde estão os 20% mais ricos da população, e com estabilidade de emprego. O governo segue a reboque das iniciativas do Legislativo, sugestões da sociedade civil e especialistas fora do governo. Mas sem a urgência necessária. Nem mesmo os míseros 200 reais foram viabilizados. Governo só se mexeu quando a Câmara assumiu o projeto e ampliou o valor.
A epidemia revelou os males de um país terrivelmente desigual. Como lavar as mãos onde falta saneamento e sabão é item de luxo? Como fazer distanciamento social para famílias que dividem um único cômodo? A solidariedade vem suprindo a ausência de poder público nas comunidades. A falta de proteção social a esse enorme contingente da população nas medidas anunciadas escancara a desumanidade do governo.
Na ausência de uma rede de proteção social, é natural que bata um desespero e as pessoas prefiram trabalhar a ficar em casa. A resposta à angústia não é colocar vidas em risco. Só que na economia, o piloto sumiu. A calibragem entre medidas econômicas e o controle da epidemia precisa de um coordenador com credibilidade. Guedes continua obcecado com as reformas, quando estamos em meio a uma guerra. Elas sempre foram necessárias, mas governo jogou um ano fora.
Bolsonaro só está preocupado com os efeitos da recessão sobre a avaliação de seu governo. Em mais um de seus sincericídios, afirmou que se a economia desanda, o governo perde apoio, e lá se vai a campanha de reeleição para o brejo.
Se algo de positivo pode sair desta crise é o fim da carreira política deste protótipo de ditador. Ele busca o confronto com o Legislativo, parecendo querer testar sua popularidade com uma tentativa de impeachment frustrada, que dê a ele o que sempre quis: governar sozinho, sem a chateação dos outros poderes e da imprensa.
Que em 2022, não seja a polarização a comandar os votos. E que a competência e experiência, que foram ignorados no primeiro turno de 2018, sejam fatores determinantes na escolha de um líder capaz de conduzir o país numa crise.
O negacionismo científico do presidente, especialmente na educação e no meio ambiente, já estava comprometendo gerações futuras, mas agora é mais grave; está colocando em risco vidas, milhares delas. O perigo é real e imediato. Bolsonaro quer colocar a conta da recessão nos governadores e prefeitos. Com quem ficará a conta dos mortos?
Marcos Sawaya Jank: O mundo global e a covid-19
A globalização será fortemente impactada pelos dois tsunamis da pandemia
A charge mais dura e realista da crise que vivemos são as duas ondas que nos vão atingir em cheio. A primeira é uma onda de menor tamanho, que recebe todas as atenções neste momento: a pandemia do coronavírus. A segunda, ainda desconhecida e muito mais avassaladora, é a recessão mundial que vem atrás da covid-19. Dois tsunamis sucessivos, porém de diferentes natureza e impacto.
O dilema é que quanto melhor forem a contenção e o isolamento das pessoas, maior será a vitória contra a primeira onda e mais desastroso será o impacto da segunda. Como diz o ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Neste caso, se corrermos para fora de casa o bicho da covid pega todo mundo, se ficarmos confinados em casa o bicho da recessão nos come mais à frente.
A tragédia é que, enquanto a covid-19 ataca os mais velhos, a recessão atingirá principalmente os mais pobres, o mercado informal e as pequenas empresas, que têm pouco acesso a crédito e capital de giro, afetando milhões de empregos.
A crise atual origina-se na área sanitária, que determinou o isolamento social, e avança na área econômica, com a paralisação da oferta de bens e serviços. Esta crise exige, portanto, políticas públicas que consigam administrar o difícil trade-off entre riscos sanitários e riscos socioeconômicos, com suas respectivas medidas e seus ajustes.
No cenário otimista teremos um impacto momentâneo, com a doença causando poucas mortes e uma recessão moderada e administrável, compensada pelo inevitável surto de crescimento quando a vida se normalizar.
No cenário pessimista, a pandemia demora muito para ser solucionada e a recessão resultante deixa pesadas sequelas em termos de desemprego, quebra de empresas, desorganização de cadeias produtivas, desespero e mesmo violência.
As fronteiras do mundo haviam desaparecido com a facilidade de se conectar, viajar, conversar e trabalhar online. Pessoas se integraram por meio de aviões, internet, redes sociais e empresas e produtos que se tornaram globais. Mas esta crise está revelando aspectos até aqui inimagináveis, como a incapacidade dos países de prever e lidar com crises sanitárias. Com tanta riqueza acumulada, a humanidade da era digital foi abalroada pela falta de testes, máscaras, respiradores.
Isso sem contar a hoje visível fragilidade das cadeias de suprimento e a inoperância de organizações multilaterais como ONU e G-20 para atuarem de forma coordenada e contundente num momento em que elas são mais necessárias.
O fato é que a crise do coronavírus traz o Estado-nação e as fronteiras nacionais de volta à cena e vai aumentar as pressões por controles de fronteira, favorecimento de produtores e produtos locais e maior protecionismo.
O mundo global pode sangrar se o nacionalismo pós-coronavírus levar à deterioração das relações EUA-China, ao colapso da arquitetura integrada da União Europeia e à redução do comércio e dos investimentos globais. Isolamento e quarentenas, xenofobia, movimentos antiglobalistas e antimigração podem produzir uma aversão a produtos importados, atingindo em cheio a crescente presença e a competitividade do agronegócio brasileiro.
Um dos elos mais sensíveis no ambiente altamente tumultuado desta pandemia é o abastecimento de alimentos e bebidas. Pelo menos aqui, no Brasil, não vai faltar comida, já que produzimos muito mais do que consumimos. Mas dois problemas podem impactar o esforço de produção: a distribuição de produtos e a recessão global.
No médio e no longo prazos, temos de entender melhor qual será o impacto de uma recessão global nas nossas exportações de commodities. Conceitualmente, o agronegócio deveria ser um dos setores menos afetados, pois as pessoas não vão deixar de comer e o mundo depende do Brasil para sua segurança alimentar em diversas commodities. Mas uma recessão longa e penosa pode criar alta volatilidade e derrubar preços e margens, se for igual à Grande Depressão de 1929.
No curto prazo, as medidas de contenção têm criado travas importantes no fluxo físico das cadeias de suprimento de produtos agropecuários e alimentos, que são longas e complexas, principalmente na área de produtos perecíveis, como frutas, verduras, carnes e lácteos, e de atividades que dependem de mão de obra intensiva e aglomerada. Isso sem contar o impacto das restrições impostas sobre importantes canais de distribuição, como bares, restaurantes, hotéis e serviços de alimentação. Tenho ouvido relatos de arbitrariedades absurdas, falta de serviços de apoio, atrasos e quebra de contratos nas cadeias do agro.
Em toda a minha vida, nunca vi um momento tão crítico como este, que exige estratégia sólida e coordenação firme de autoridades em diferentes níveis do governo e imenso esforço coletivo e cooperativo de empresas e pessoas. Os países que melhor lidaram até aqui com a mitigação da doença e da recessão foram os que implementaram estratégias firmes e focadas para lidar com problemas concretos (isolamento de doentes, por exemplo), junto com campanhas de ampla informação e conscientização da sociedade.
PROFESSOR DE AGRONEGÓCIO GLOBAL DO INSPER E TITULAR DA CÁTEDRA LUIZ DE QUEIROZ DA ESALQ-USP.
Fernando Henrique Cardoso: É hora de ação coordenada e de ter rumo
Não é hora de jogar pedras. Nem de fazer elogios descabidos. É hora de ação coordenada e de ter rumo. É este o papel principal de quem exerce a Presidência e demais posições governamentais. O coronavírus não é culpa de ninguém: aconteceu. Como outras tragédias já ocorreram com a humanidade.
Ainda bem que, apesar da tragédia das doenças, dispomos no Brasil de algumas vantagens: as informações fluem e o SUS existe. Além de existir uma indústria farmacêutica que pode rapidamente se adaptar às nossas necessidades. Poucos países (nenhum capitalista e com mais de 100 milhões de habitantes; nós temos mais de 200) possuem um sistema nacional de saúde capaz de atender, de modo universal e gratuito —só no ano de 2019 foram 12 milhões de internações hospitalares e mais de 1 bilhão de consultas ambulatoriais. Nós dispomos dele.
Antes do SUS, havia atendimento médico gratuito para as corporações e para o funcionalismo civil e militar. Os pobres tinham de recorrer às santas casas de misericórdia. Foi na Constituinte de 1988, com o empenho de deputados que eram médicos sanitaristas e de uns poucos que apoiaram as reivindicações deles que houve, finalmente, a decisão de criar o SUS, tomada pela maioria.
Sua posta em prática se deve a ministros como Adib Jatene, César Albuquerque e José Serra e a funcionários do calibre do então secretário-geral do ministério, Barjas Negri.
Mas deve-se, principalmente, à dedicação de médicos, enfermeiros, atendentes e funcionários, tanto do setor público quanto do privado, que foram capazes de dar vida a uma instituição que hoje é básica, o SUS. E às faculdades de medicina, assim como as de enfermagem, que formam profissionais competentes para trabalhar em hospitais que, na ponta, têm qualidade.
Cabe aos governos, diante da crise atual de saúde, atuar. Escrevo governo no plural, pois, além do governo federal, existem os estaduais e os locais. Estão tentando agir. Não é fácil: requer coragem, competência e coordenação. E não requer choques desnecessários com a mídia, mas deixá-la fazer seu papel, importantíssimo, de informar às pessoas o que fazer e aos governos o que ainda falta fazer.
Não cabe, como há pouco ocorreu, assistir a um ir e vir de opiniões sobre se convém ou não o isolamento total, se a prioridade é para garantir a produção e os empregos ou a saúde do povo. Não são metas incompatíveis, há que cuidar dos dois lados, da saúde e da produção. O que não cabe mais, diante de “tanto horror perante os céus”, é discutir se primeiro é isso, depois é aquilo. A mensagem de todos deve se dirigir a todos, sem dar sinais, mesmo que retóricos, de que ao cuidar de um lado vamos nos esquecer do outro.
Foi o que faltou ao presidente. Foi o que fez, corretamente, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Com palavras simples e deixando transparecer sentimento, explicou o que acontece e o que é preciso fazer. Agora, cabe a cada um de nós, uma vez informados pela mídia e pelos agentes de saúde, fazer o que nos corresponde. Uma crise da magnitude da atual não se resolve só pelo governo. Nem sem ele. Mas requer, sobretudo, compreensão e ação de todos.
Não é fácil ficar parado. Teremos de inventar, por um tempo, o que fazer mesmo se estivermos isolados de nossos locais de trabalho, como ocorre muitas vezes. Ou, quando estamos neles, melhor estarmos mais distanciados fisicamente uns dos outros do que habitualmente fazemos.
Por quanto tempo? Ninguém sabe, de ciência certa. Vamos cumprir o devido e esperar que quarentenas e isolamentos não durem muito. Convém que os que mandam digam por quanto tempo e deem esperanças a quem cumpre o isolamento, mas nem eles sabem. Só sabem o que nós todos sabemos, principalmente os mais velhos: se não fizermos nada será pior, e talvez alguns de nós não tenhamos mais a oportunidade de fazer qualquer coisa.
Mas não deixemos de lado a esperança de que dias melhores virão. É boa a ideia de separar um orçamento, “de guerra”, para os dias que correm e manter a noção de que tanto reformas como tetos de gasto só não serão cumpridos pelas circunstâncias. Mas não nos iludamos: os bancos, especialmente os públicos, precisarão soltar dinheiro, o governo há que provê-lo, as contas não vão fechar. Juntos, porém, seremos capazes de ultrapassar os maus momentos que atravessamos.
*Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República (1995-2002), é sociólogo e professor emérito da USP.
O Globo: Se não houver isolamento, economia pode sofrer segundo baque, diz Arminio Fraga
Ex-presidente do Banco Central diz que é falso o debate entre salvar vidas e a economia
Luciana Rodrigues e Cássia Almeida, O Globo
RIO - O economista Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, alerta que é falsa a dicotomia entre salvar vidas e a economia. Suspender a quarentena imposta na maior parte do país não levaria os brasileiros a saírem gastando, nem os empregos seriam preservados em sua plenitude. “Dá a impressão de que há um custo econômico, e há. Mas dá também a impressão de que há uma alternativa sem custo, que seria fazer o (isolamento) vertical. Mas isso não é verdade”, afirma Arminio em entrevista, por videoconferência, de sua casa no Rio. E diz que, para socorrer a economia, é preciso agir rapidamente, o que não está acontecendo.
Os economistas defendem um socorro à economia. No caso da pandemia, os médicos dizem que, quanto antes a quarentena, mais eficaz ela é. É possível fazer um paralelo com a economia? O socorro não está demorando?
- São duas situações diferentes, mas há, sim, um paralelo. No caso do isolamento, a ideia é se antecipar à propagação do vírus. Em outros países, como Cingapura, que é rica e pequena, foi possível também testar muito, com rastreamento de contatos, um processo quase individual. Mas isso não seria possível aqui. Então, o isolamento é a única opção, e quem agiu com presteza teve resultados melhores. No lado da economia, a ação ganha contornos de urgência, em função do colapso súbito da receita de várias empresas, pequenas, médias e grandes. Dependendo do setor, o colapso chega a 100%. Nada disso existe em situações normais. Numa recessão, a receita cai aos poucos e chega, no pior momento, a uma queda média de 10%. Por consequência, espera-se uma onda enorme de desemprego. Por isso, é importante agir rapidamente. O que não está acontecendo.
Muitos dizem que a quarentena vai “matar a economia”. Não adotar a quarentena pode ser um risco maior à economia?
- Considero que sim. É preciso olhar no detalhe. Suspender a quarentena não significa que as pessoas vão sair gastando e os empregos vão ser preservados na sua plenitude. No caso do Brasil, pegaria um número muito grande de pessoas muito fragilizadas. Da população brasileira, 38% são idosos, portadores de doenças crônicas ou ambos. Seria uma loucura. Quem faz essa proposta (de não adotar a quarentena) sugere o seguinte modelo chamado de vertical: fecha tudo por duas semanas, identifica-se quem está carregando o vírus e isola essas pessoas. Segrega e isola os mais velhos. Aqui no Brasil, isso é totalmente impossível. E os que ficarão expostos são muito numerosos e vulneráveis. Nossa rede de hospitais, como aliás em boa parte do mundo, não estava preparada para uma emergência desse tamanho, seria uma catástrofe social. Isso foi ventilado no Reino Unido, e eles rapidamente desistiram. A ideia de que há uma relação de troca entre saúde e economia, na minha avaliação e de meus colegas do Ieps (Instituto de Estudos para Políticas de Saúde), é que não é bem assim. As pessoas já estão muito assustadas e não vão sair consumindo mesmo que se decrete o fim do isolamento de repente.
A adoção do isolamento vertical no Brasil prejudicaria a população mais vulnerável?
Sim. Teremos de gastar algum tempo em quarentena. Seria reduzida aos poucos, com cuidados. Haverá, portanto, um custo econômico. Alguns passam a impressão de que há uma alternativa sem custo, que seria fazer o (isolamento) vertical. Mas isso não é verdade, como já mencionei. Estamos lidando com uma situação com grande potencial de instabilidade. Cabe uma resposta firme de política social e econômica. Nós temos os recursos. Os EUA vão gastar 5% do PIB. Aqui poderíamos gastar um pouco menos, 3%, 4% do PIB, deixando claro que são gastos temporários, mas ajudariam bastante A situação já não estava tão boa, o desemprego já vinha alto, a economia vinha crescendo pouco
O senhor vem de uma família de médicos. Como vê a discussão entre salvar vidas ou salvar a economia?
- Eu não vejo esse trade-off (relação de troca) sendo tão marcante. É evidente que a opção é salvar vidas. Mas eu não creio que a economia se beneficiaria tanto (de uma suspensão da quarentena, que faria mais vítimas). E, num segundo momento, a economia poderia levar a um segundo baque. Estamos fazendo uma administração para ganhar tempo, minimizando as perdas humanas, é uma questão humanitária, reduzindo ao máximo possível o pico da demanda por UTI hospitalar e torcendo para que chegue logo o momento da vacina ou de alguma cura. Nesse meio tempo, é crucial que o governo apresente uma estratégia clara, que deveria englobar quatro grandes ações de resposta à crise: apoio à rede hospitalar, manutenção do abastecimento e da logística, ajuda à população mais pobre e socorro às empresas. Na questão da logística, é importante levar até as pessoas alimentos que, no Brasil, são produzidos em enorme abundância. Não podemos correr o risco de as pessoas passarem fome. Essa talvez seja a parte menos complicada, existe uma logística que funciona muito bem até nas favelas.
Como apoiar os mais pobres?
- A referência já está dada, e é o que Marcelo Medeiros (especialista em desigualdade de renda e professor visitante na Princeton University) divulgou. É preciso usar o Cadastro Único, zerar a fila do Bolsa Família e depois ampliar o programa. É uma ferramenta que existe e precisa ser acionada rapidamente. O ideal neste momento não é buscar a perfeição, é soltar os recursos o quanto antes. Este é um uso nobre dos recursos, talvez o mais nobre, em paralelo aos recursos para o SUS. A outra frente de ação é o crédito para as empresas.
As empresas devem ser socorridas?
- É uma solução de emergência. (Os economistas) Vinícius Carrasco, Alexandre Scheinkman e eu elaboramos uma proposta de linha de crédito bancada pelo setor público, diferente do que se vê na prática bancária, porque, ainda bem, banco não gosta de emprestar dinheiro para perder. O sistema financeiro tem de seguir saudável. Neste ponto, entra o governo. A ideia é garantir linhas que darão algum prejuízo. Isso não é uma hipótese. É impossível, nessa situação, desenhar linhas que salvem empresas e empregos duramente atingidos e deem resultado positivo. Mas haverá um resultado positivo indireto, de salvar empregos e negócios que funcionam bem, e é uma questão também humanitária.
Qual é o fôlego para manter esse socorro à economia?
- Tenho algumas estimativas preliminares, acho que daria para manter até o fim do ano e, depois, se preciso, ter alguma adaptação. Os ciclos típicos dessas pandemias não são tão longos. Na medida em que apareçam vacinas e tratamentos, dá para ganhar a guerra. A expectativa é que a vacina surja em 12 a 18 meses, talvez menos. Quanto à cura, ninguém sabe. Então, uma estratégia radical (de abandono do isolamento) que, falando com muita transparência, vai matar muita gente, para mim não faz o menor sentido. Vamos dar um jeito de aguentar e ganhar tempo, o governo terá de ser solidário, as pessoas também.
Para socorrer a economia, é preciso articulação política...
- Este talvez seja o maior problema. Há uma certa cacofonia de ideias, até certo ponto natural, mas que passou do ponto. Em algum momento alguém tem de tomar uma decisão e dizer: “é por aqui, e vamos executar”. Normalmente, numa situação de crise, existe um padrão de gestão que define claramente responsabilidades, desenha uma estratégia, planeja e executa as ações, monitora os eventos e se comunica com a nação. Isso precisa ocorrer urgentemente.
Igor Gielow: Propaganda do Planalto pede fim de isolamento, e Bolsonaro posta vídeo de carreata anticonfinamento
Presidente joga todas suas fichas na disputa com os governadores e Congresso sobre o coronavírus
SÃO PAULO - A defesa de uma política leniente com a propagação do novo coronavírus no país virou objeto de um vídeo de divulgação institucional da Presidência de Jair Bolsonaro. Nele, a volta ao trabalho de regimes de confinamento é estimulada, contrariando orientações globais sobre o tema.
A peça foi distribuída, em forma de teste, para as redes bolsonaristas. Nela, categorias como a dos autônomos e mesmo a dos profissionais da saúde são mostradas como desejosas de voltar ao regime normal de trabalho. "O Brasil não pode parar", encerra cada trecho do vídeo, inclusive para os "brasileiros contaminados pelo coronavírus".
O primogênito do clã, o senador Flávio (RJ), foi o responsável por dar o chute inicial desta etapa da campanha #BrasilNaoPodeParar, em postagem no Facebook na noite de quinta (26). O filho presidencial é o pivô das investigações criminais acerca de relações entre milícias e a família Bolsonaro.
A página da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), cujo chefe, Fabio Wajngarten, foi contaminado pelo patógeno, divulgou na quarta (25) a hashtag da campanha.
Além disso, o próprio presidente postou em sua conta no Twitter o vídeo de uma carreata realizada em Camburiú (SC) contrária ao isolamento social recomendado pela maioria dos governos que lidam com a pandemia e pela OMS (Organização Mundial da Saúde).
A ofensiva mostra que Bolsonaro colocou todas suas fichas na hipótese de que a pandemia, que já matou 77 brasileiros desde o primeiro caso registrado há um mês, terá impacto reduzido sobre a saúde pública.
Desde a emergência da questão sanitária, Bolsonaro tem sistematicamente negado a gravidade da infecção pelo vírus que causa a Covid-19. Em oposição a ele, os 27 governadores de estado se uniram em uma frente pedindo recursos federais e medidas para aliviar o impacto econômico da crise.
Os chefes estaduais são liderados não oficialmente por João Doria, o tucano que governa São Paulo, estado mais afetado pela crise. Pelo fato de ser um presidenciável óbvio para 2022, Bolsonaro elegeu Doria como símbolo do que chama de "histeria" em relação à pandemia.
Com efeito, São Paulo é a unidade da federação em que as medidas de isolamento social recomendadas pela OMS estão sendo aplicadas de forma mais rígida, ainda que graduais para tentar evitar um colapso econômico —o estado concentra 40% do Produto Interno Bruto do país.
Os 46 milhões de paulistas estão sob quarentena desde terça (23), e a medida deve evoluir para o isolamento total da população neste momento de expansão do contágio.
Doria e Bolsonaro se enfrentaram em uma videoconferência na qual o tucano criticou o pronunciamento do presidente em que ele criticou medidas como o fechamento de escolas, e recebeu em troca a acusação de estar tentando se promover politicamente.
O fato é que os governadores se alinharam às recomendações da OMS em reunião na quarta que contou com a presença de Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente da Câmara que tem agido como chefe do Legislativo na crise.
Desde então, Maia concedeu duas entrevistas em que criticou o governo e cobrou ação imediata de Bolsonaro para o envio de medidas emergenciais ao Congresso —sob pena de os parlamentares tomarem as mesmas.
Nesta quinta, multiplicaram-se chamamentos virtuais a carreatas em favor da ideia bolsonarista de que o Brasil deveria voltar à atividade, embora as quarentenas ainda sejam restritas a alguns estados, São Paulo à frente. A ironia é que são carreatas, supostamente formas mais seguras de protestar em tempos de coronavírus.
Muitas convocações estão sendo feitas para a segunda (30), véspera do aniversário de 56 anos do golpe militar de 1964, objeto de adoração de Bolsonaro.
A disputa entre Bolsonaro e os Poderes constituídos isolou o presidente. Primeiro foram os atos do dia 15, no qual manifestantes apoiados pessoalmente pelo presidente pediam o fechamento do Congresso e do Supremo, ainda que o titular do Planalto negasse a intenção.
Foi ali que a emergência do coronavírus somou-se à equação da disputa pelo manejo de R$ 30 bilhões do Orçamento, já que Bolsonaro abraçou pessoas mesmo sob orientação de estar sob quarentena devido ao contato com infectados em sua comitiva de uma viagem aos EUA, Wajngarten à frente. Nada menos que 25 pessoas que tiveram contato com o presidente se contaminaram.
Depois, Bolsonaro conseguiu galvanizar os governadores contra si, e perdeu o apoio de alguns neste meio, como Ronaldo Caiado (DEM-GO), um dos símbolos da antiga direita que estavam ao lado do presidente.
Com tudo isso, a peça da Presidência, ainda não chancelada para veiculação, entra como novo pedaço de lenha na fogueira da queda de braço entre Planalto e estados, no qual o Congresso está ao lado dos governadores.
André Lara Resende e Francisco Serra: Desafio atual é mobilizar recursos para a saúde
É imperativo ser generoso com a população desassistida e que se adote um programa de ajuda de custo universal
Estamos diante de uma crise sem precedentes. A pandemia provocada pelo coronavírus não tem mais fronteiras. A experiência dos países onde a epidemia está mais avançada deixa claro que não há opção. Para evitar um pico de infectados com necessidade de atendimento hospitalar que levaria ao colapso do sistema de saúde, é imperioso que as pessoas se isolem e evitem todo o contato social. O confinamento domiciliar de todos que não trabalhem nas atividades essenciais é a única forma de reduzir o coeficiente de infecção e de distribuir o número de doentes ao longo do tempo.
O confinamento obrigatório tem altos custos pessoais e econômicos. A paragem brusca da economia será sem precedentes. Muito mais intensa do que a provocada por qualquer crise recessiva cíclica do passado. Estamos diante de uma verdadeira escolha de Sofia: ou o colapso do sistema de saúde, com um enorme número de mortos, vítimas da sobrecarga do sistema hospitalar, ou bem uma paragem sem precedentes da economia. Mas não há alternativa. Ao menos por alguns meses, na melhor das hipóteses, será preciso paralisar todas as atividades não essenciais para reduzir a circulação de pessoas.
A sobreposição da crise econômica a uma dramática crise sanitária exige resposta imediata e audaciosa. Na Europa e nos EUA os governos anunciaram medidas de emergência. O Banco Central Europeu e o Fed estenderam linhas de crédito praticamente ilimitadas para o sistema bancário. Medidas fiscais estão sendo negociadas para aprovação nos parlamentos. Há uma preocupação de não repetir o erro de 2008, quando foi feito “muito pouco, muito tarde”.
Antes de mais nada, é preciso descartar as falsas restrições. A questão das fontes de recursos para as despesas do governo é um falso problema. É resultado de um arcabouço teórico equivocado e anacrônico que foi erigido em dogma dos economistas hegemônicos nos últimos anos. A tese de que o governo não pode gastar se não dispuser de fontes fiscais, de que é sempre preciso equilibrar o orçamento para evitar a expansão da dívida pública interna, não tem qualquer validade lógica ou empírica. É um mito com pretensão científica. Um mito transformado em dogma para restringir a ação do Estado. Trata-se de um mito com altos custos em tempos normais, mas que em situações extraordinárias, como a atual pandemia, ao impedir a adoção de políticas públicas indispensáveis para minorar a crise e o sofrimento, é desastroso.
A preocupação com as fontes de recursos e o equilíbrio orçamental do governo são restrições autoimpostas para conter os excessos populistas e tentar dar racionalidade aos gastos públicos, justificadas em tempos normais, mas que devem ser desconsideradas por completo numa emergência como esta pela qual passamos. Países que delegaram a emissão da moeda para sistema supranacional, como é o caso dos países do euro, dependem da atuação coordenada do Banco Central Europeu (BCE). Por isso, a ação do BCE, garantindo crédito ilimitado para as economias da UE, é fundamental.
O desafio não é encontrar “fontes” de recursos. O governo pode sempre gastar para financiar despesas indispensáveis e justificáveis. Ao longo da história, mesmo quando o Estado ainda estava restrito pela exigência de lastrear a moeda num metal precioso, a conversibilidade da moeda foi sempre suspensa quando necessário para fazer face a despesas públicas extraordinárias e imprescindíveis, como no caso das mobilizações de guerra. O verdadeiro desafio é, antes de tudo, como mobilizar, de forma rápida e eficiente, recursos reais para a saúde, como expandir a capacidade da rede de hospitais, com leitos, equipamentos e recursos humanos. Em seguida, como minorar os efeitos econômicos e sociais do confinamento obrigatório e da brusca paragem da economia.
A crise de 2008 foi uma crise financeira que provocou uma crise da economia real. Esta é uma crise da economia real que irá provocar uma crise financeira. Em 2008 o problema estava no sistema financeiro, que carregava créditos ilíquidos e inadimplentes. A injeção de liquidez primária no sistema bancário, para compensar a contração do crédito privado, foi capaz de estancar a crise financeira, salvar o sistema financeiro e com ele toda a economia. Hoje, o problema não está no sistema financeiro. A injeção de liquidez primária pelos bancos centrais irá ficar retida no sistema bancário, que, temendo um incumprimento generalizado provocado pela paragem da economia, irá se recusar a estender crédito às empresas, independentemente da quantidade de reservas injetadas pelo banco central.
É preciso que os governos e os bancos centrais ajam de forma a garantir a liquidez e o crédito, sem depender da intermediação do sistema financeiro privado.
A primeira medida seria uma moratória de todos os créditos correntes, pelo tempo em que durar a paralisação obrigatória da economia. Todos os créditos correntes seriam estendidos, à taxa básica do Banco Central, até o fim do confinamento. Além disso, os bancos deveriam obrigatoriamente conceder crédito adicional a todas as empresas afetadas pela paralisação, à taxa básica acrescida de um spread mínimo para cobrir os seus custos. O risco de crédito, durante a fase crítica de emergência inicial, deverá ser assumido integralmente pelo Estado. Os bancos devem fazer uma análise e aferimento mínimos acerca da idoneidade das empresas e da necessidade do crédito.
Um programa de ajuda de custo universal, no mínimo durante o período em que durar a paralisação, deveria ser imediatamente adotado. É imperativo ser generoso com a população desassistida e com os que irão perder o emprego e as suas fontes de renda.
Medidas como essas tendem a vir acompanhadas de exigências burocráticas para evitar abusos. Compreende-se, mas a hora exige deixar de lado a burocracia. Grandes crises podem tanto despertar o egoísmo quanto o altruísmo. O Estado precisa dar o exemplo, ousar e confiar.
*André Lara Resende é economista e Francisco Serra Lopes Rebelo de Andrade é advogado e empresário português
Este artigo é uma versão reduzida de texto publicado originalmente no jornal digital português “Observador”
El País: Coronavírus força consenso e Câmara aprova renda emergencial de até 1.200 reais para base da pirâmide
Deputados, inclusive governistas, acatam proposta de ajuda que pode chegar até a 1.200 reais por família de autônomos, MEIs e desempregados
No ressuscitado debate sobre a desigualdade social, sociólogos e economistas ―como o francês Thomas Piketty ou o brasileiro Pedro Ferreira de Souza― costumam afirmar que mudanças de paradigma em sociedades democráticas costumam acontecer após grandes traumas, como guerras e epidemias. É provável que a pandemia de coronavírus represente mais um desses momentos de inflexão, capaz de acelerar discussões e tempos políticos. Previsto para acontecer nos próximos anos ou décadas, o debate sobre uma renda mínima universal ―isto é, garantida pelo Governo com poucos condicionantes ou nenhum— acontecia em alguns nichos econômicos e acabava de passar por um teste na Finlândia. Com a pandemia, acaba de se tornar realidade em países como Estados Unidos e Portugal. No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, por consenso, e após se debruçar sobre as propostas do Governo Jair Bolsonaro, da oposição e da sociedade civil, uma ajuda de 600 reais por adulto de baixa renda enquanto durar a pandemia. Famílias com dois trabalhadores ou com mães solteiras receberão 1.200 reais.
De acordo com o texto, que segue agora para o Senado, o benefício está direcionado para trabalhadores informais, autônomos, desempregados e MEI (microempreendedor individual). Receberão o auxílio aqueles que tiverem renda mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda mensal familiar de até três salários mínimos. A ajuda se estende para aqueles já recebem Bolsa Família, mas ficam de fora aqueles que ganham outros benefícios —como seguro desemprego. Além disso, os valores serão destinados durante pelo menos três meses e poderão ser prorrogados enquanto durar a calamidade pública, decretada por causa da pandemia de coronavírus. De todas as formas, o pouco tempo de duração previsto inicialmente é considerado o ponto mais fraco entre os defensores do projeto, que falavam em pelo menos seis meses ou um ano.
Um detalhe não menos importante: a renda emergencial aprovada na Câmara foi desenhada em cima do projeto envolvendo a concessão do BPC, auxílio de um salário mínimo (1.045 reais) direcionado para os idosos de baixa renda. O Governo havia vetado a decisão do Congresso de conceder o benefício para aqueles com renda familiar de até meio salário mínimo (522,50 reais) já a partir deste ano ―o teto era antes de 1/4 de salário mínimo (261,25 reais). O Congresso derrubou o veto no início deste mês em retaliação a Bolsonaro e o impasse continuou. Nesta quinta-feira, os deputados finalmente decidiram que as mudanças no BPC valerão só a partir de 1º de janeiro de 2021.
Proposta da oposição sai vencedora
O plano apresentado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, previa inicialmente um voucher 200 reais mensais por um período de três meses para 38 milhões de trabalhadores que estão na informalidade. A proposta foi considerada tímida e insuficiente, o que fez o Governo considerar um valor de até 300 reais.
Uma coalizão de partidos de oposição de esquerda colocou uma nova proposta na mesa, com a possibilidade de conceder um salário mínimo de benefício e alcançar 100 milhões de pessoas, metade da população brasileira. A mesma abrangência foi defendida nesta semana pelo economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central durante o segundo Governo de Fernando Henrique Cardoso. O projeto costurado na Câmara, e ao qual o Governo acabou embarcando, finalmente chegou a um valor de 600 reais por adulto, ou 1.200 reais para famílias, incluindo as com mães solteiras.
Uma vez aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Bolsonaro, o auxílio emergencial chegará aos 100 milhões de brasileiros e brasileiras mais vulneráveis economicamente, entre eles as 77 milhões de pessoas de baixa renda que já estão no Cadastro Único ―sistema do Governo Federal no qual se inscrevem para obter algum auxílio social. As pessoas que já recebem o Bolsa Família terão direito a um complemento e também receberão benefício.
Contudo, ainda é cedo para dizer se, uma vez passada a pandemia, esses programas se tornarão políticas públicas permanentes. Seus defensores esperam que sim. De acordo com eles, seria uma forma de desvincular o sistema de proteção social do Estado com o trabalho formal, ameaçado com o avanço tecnológico e a uberização do mercado de trabalho. E também de desburocratizar máquina pública, que atualmente concede benefícios sociais ―cada vez mais ineficazes― a partir de uma série de condicionantes de renda e emprego. Por fim, representaria uma resposta definitiva à crescente desigualdade social no ocidente. As pessoas teriam direito a um salário apenas por existir.
No pacote de dois trilhões de dólares (mais de 10 trilhões de reais) aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos nesta quarta-feira, está previsto uma ajuda de 1.200 dólares por adulto e de 500 dólares por criança —ou seja, uma família com quatro membros receberia 3.000 dólares mensais—, além da ampliação do seguro desemprego e de um programa para que pequenas empresas paguem os salários dos trabalhadores.
Renda Básica Emergencial acaba de ser aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados. Um fio sobre a proposta com breves avaliações:
- 600 reais por adulto para até para no máximo duas pessoas na família. Mães solo terão direito a 1200 reais (grande conquista da oposição) +
Propostas defendidas pela sociedade civil
O debate sobre a necessidade de um benefício universal de emergência foi impulsionado ao longo deste mês por organizações da sociedade civil e economistas como Monica de Bolle, Laura Carvalho, Marcelo Medeiros e Armínio Fraga. Cabe lembrar ainda que o Congresso Nacional aprovou e o Governo Lula sancionou, em 2004, a lei que institui a Renda Básica da Cidadania. O projeto é do ex-senador e atual vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT), mas nunca chegou a ser regulamentado. Com a pandemia do coronavírus, todos os governadores estaduais assinaram uma carta conjunta pedindo que o Governo Federal implementasse a medida para socorrer os trabalhadores autônomos que ficarão sem renda durante o período de quarentena.
Na última semana, uma coalizão de 51 organizações da sociedade civil lançou a proposta de uma Renda Básica Emergencial para amenizar o impacto econômico e social da pandemia do coronavírus. O plano, que está detalhado no site do grupo, previa alcançar 77 milhões brasileiros a partir do Cadastro Único por no mínimo seis meses. Diferentemente do que se aprovou na Câmara, o benefício apresentado pelo grupo era 300 reais para cada membro da família, incluindo os adultos, as crianças e os idosos. Portanto, uma família com cinco membros receberia 1.500 reais mensais.
O ideal, apontam especialistas como Monica de Bolle, é que a renda mínima emergencial seja concedida por até 12 meses ―ou mesmo 18 meses, como defendeu Marcelo Medeiros. Isso porque a recessão é seguida de uma lenta recuperação, especialmente para os mais pobres. No final, a Câmara decidiu aprovar um benefício com um prazo mínimo de três meses, que poderá ser estendido conforme dure a calamidade pública.
Eliane Brum: O vírus somos nós (ou uma parte de nós)
O futuro está em disputa: pode ser Gênesis ou Apocalipse (ou apenas mais da mesma brutalidade)
No princípio era o vírus. Coronavírus. Em menos de dois meses após a primeira morte, registrada na China em 9 de janeiro, ele atravessou o mundo a bordo de nossos corpos que voam em aviões. Tornou-se onipresente no planeta, ainda que tão invisível quanto certos deuses para olhos humanos. Hoje, 1,7 bilhão de pessoas, cerca de um quinto da população global, está em isolamento. Escolas, restaurantes, cinemas e até shoppings cerraram as portas, fronteiras de países e de continentes fecharam, aviões se esvaziaram, presidentes maníacos finalmente foram reconhecidos como presidentes maníacos, neoliberais foram vistos clamando —“cadê o Estado? cadê o Estado?” —, ardorosos defensores dos planos privados de saúde compartilharam campanhas pelo fortalecimento do SUS, terraplanistas exigiram respostas da ciência. Pelas janelas do Facebook, Twitter, Whatsapp e Instagram, pessoas decretam: o mundo nunca mais será o mesmo.
Não será. Mas talvez seguirá sendo bastante do mesmo. Além de nossa sobrevivência, o que disputamos neste momento é em que mundo viveremos e que humanos seremos depois da pandemia. Essas respostas vão depender do modo como vivermos a pandemia. O depois, o pós-guerra global do nosso tempo, vai depender de como escolhemos viver a guerra. Não é verdade que na guerra não há escolhas. A verdade é que, na guerra, as escolhas são muito mais difíceis e as perdas decorrentes dela são muito maiores do que em tempos normais.
Na guerra, temos dois caminhos pessoais que determinam o coletivo: nos tornarmos melhores do que somos ou nos tornarmos piores do que somos. Esta é a guerra permanente que cada um trava hoje atrás da sua porta. Momentos radicais expõem uma nudez radical. Isolados, é também com ela que nos viramos. O que o espelho pode mostrar não é a barriga flácida. Pouco importa, já não há onde nem para quem desfilar barrigas-tanquinho. O duro é encarar um caráter flácido, uma vontade desmusculada, um desejo sem tônus que antes era mascarado pela espiral dos dias. O duro é ser chamado a ser e ter medo de ser. Porque é isso que momentos como este fazem: nos chamam a ser.
Em tempos mais normais, podemos fingir que não escutamos o chamado a ser. Cobrimos essa voz com automatismos, a vida se resume a consumir a vida consumindo o planeta. Consumidores não são, já que consomem o ser. E agora, quando já não se pode consumir, porque logo pode não haver o que consumir nem quem possa produzir o que consumir, como é que se aprende a separar os verbos? Como se faz um consumidor se tornar um ser?
Se usamos a palavra guerra, precisamos olhar cuidadosamente para o inimigo. É o vírus, essa criatura que parece uma bolinha microscópica cheia de pelos, quase fofa? É o vírus, esse organismo que só segue o imperativo de se reproduzir? Penso que não. O vírus não tem consciência, não tem moral, não tem escolha. Vamos precisar derrotá-lo em nossos corpos, neutralizá-lo para reiniciar isso que chamamos de o outro mundo que virá. Tudo indica, porém, que outras pandemias acontecerão, outras mutações. A forma como vivemos neste planeta nos tornou vítimas de pandemias. O inimigo somos nós. Não exatamente nós, mas o capitalismo que nos submete a um modo mortífero de viver. E, se nos submete, é porque, com maior ou menor resistência, o aceitamos. Escapar do vírus da vez poderá não nos salvar do próximo. O modo de viver precisa mudar. Nossa sociedade precisa se tornar outra.
O impasse imposto pela pandemia não é novo. É o mesmo impasse colocado há anos, décadas, pela emergência climática. Os cientistas —e mais recentemente os adolescentes— repetem e gritam que é preciso mudar urgentemente o jeito de viver ou estaremos condenados ao desaparecimento de parte da população. E, quem sobreviver, estará condenado a uma existência muito pior num planeta hostil.
Todos os dados mostram que a Terra, esta que segue redonda, está superaquecendo em níveis incompatíveis com a vida de muitas espécies. Esse superaquecimento mudará radicalmente —para pior— o nosso habitat. Todas as informações científicas apontam que é preciso parar de devorar o planeta, que há que se mudar radicalmente os padrões de consumo, que a ideia de crescimento infinito é uma impossibilidade lógica num mundo finito. É um fato comprovado que os humanos, pela emissão de carbono desde a revolução industrial, cortando árvores, queimando carvão e depois petróleo, se tornaram uma força de destruição capaz de alterar o clima do planeta.
Desde o segundo semestre de 2018 adolescentes do mundo inteiro abandonam as escolas toda sexta-feira para gritar nas ruas que os adultos estão roubando seu futuro. Eles dizem: parem de consumir, fiquem no chão, nosso planeta não aguenta mais tanta emissão de carbono. Dizem ainda, literalmente: “vocês estão cagando no nosso futuro”. Greta Thumberg, a jovem ativista sueca, avisou repetidamente: “nossa casa está em chamas”. Acordem.
Está tudo escrito, falado, repetido, documentado. Ninguém pode dizer que não sabe. Bem, Bolsonaro, o maníaco que nos governa, sempre pode, porque diz e desdiz a cada minuto. Mas, sério, quem ainda aguenta falar nesse demente, que está criminosamente aumentando o risco de morte dos brasileiros, a não ser para gritar “Fora!”? Isolemos esse boçal, deixemos Bolsonaro procurando onde estão suas orelhas, aprendendo a como enfiar a máscara no rosto sem tapar os olhos.
O efeito da pandemia é o efeito concentrado, agudo, do que a crise climática está produzindo de forma muito mais lenta. É como se o vírus desse uma palhinha do que viveremos logo mais. Conforme os níveis de superaquecimento global, chegaremos a um estágio de transformação do clima e, por consequência do planeta, para o qual não há volta, não há vacina, não há antídoto. O planeta será outro.
É por isso que cientistas, intelectuais indígenas e ativistas climáticos têm gritado para uma maioria que se finge de surda, para não ter que sair do seu conforto mudando velhos hábitos, que é preciso alterar os padrões de consumo radicalmente, que é preciso pressionar radicalmente os governantes para políticas públicas imediatas, que é preciso combater radicalmente as grandes corporações que destroem o planeta. Mas, como a crise climática é lenta, sempre foi possível fingir que não estava acontecendo, chegando ao paroxismo de eleger negacionistas como Jair Bolsonaro, Donald Trump e toda a conhecida corja de destruidores do mundo.
O vírus não permite fingimentos. Ele possivelmente saltou de um morcego, espécie cujo habitat também destruímos, para se hospedar no organismo dos humanos. Nada mais fez do que tocar sua vida de vírus. De repente, homens e mulheres do mundo inteiro que fingiam não ter nem corpo nem limites, transbordando na internet, tiveram que se haver com a própria carne e com os próprios contornos. Já não há mais como escapar do corpo. E já não há mais como permanecer refestelado no próprio umbigo.
Toda a ilusão de que o mundo é controlado pelos humanos se desfez em tempo recorde. E a humanidade finalmente descobriu que há um mundo além de si, povoado por outros que podem até mesmo acabar com a nossa espécie. Outros que a gente nem consegue enxergar. No nosso furor de espécie dominante, extinguimos tantas outras e tantos modos de vida, trancamos animais maravilhosos em jaulas, criamos campos de concentração de bois, porcos e galinhas, envenenamos peixes com mercúrio apenas porque gostamos de ouro, promovemos holocaustos diários para nos alimentar, estupramos vacas com aparelhos porque desejamos comer seus tenros bebês em refinadas refeições e desejamos roubar seu leite dia após dia, arrancamos a floresta para fazer campo de soja para alimentar animais escravizados. Podíamos tudo.
E aí vem o vírus, que não está interessado em nos passar nenhuma mensagem, só está mesmo cuidando da própria vida, e mostra: vocês, humanos, não estão sozinhos nesse planeta nem têm o controle que acreditam ter. E então aqueles que debochavam dos cientistas do Clima e da Terra, chamavam a crise climática de “complô marxista”, querem agora saber como a ciência pode salvá-los da bolinha peluda. Até tentaram inventar que o novo coronavírus é uma “gripezinha”, “uma fantasia”, “uma histeria”. Mas o povo brinca com tudo e está pronto a acreditar em qualquer bobagem, até em Terra Plana, desde que lhe garantam seguir no seu modo zumbi. Mas o povo não brinca com saúde. Quando o assunto é saúde, até a Terra Plana dá voltas.
Menciono “humanidade”, “povo”, “população”. Mas não há homogeneidade aí, não existe um genérico chamado “humano”. Assim como não estamos todos no mesmo barco. Nem para o coronavírus nem para a crise climática. Mais uma vez, a comparação entre coronavírus e crise do clima faz todo o sentido. A ONU criou o conceito de “apartheid climático”, um reconhecimento de que as desigualdades de raça, sexo, gênero e classe social são determinantes também para a mudança do clima, que as reproduz e as amplia. Aqueles que serão os mais atingidos pelo superaquecimento global —negros e indígenas, mulheres e pobres —foram os que menos contribuíram para provocar a emergência climática. E aqueles que produziram a crise climática ao consumir o planeta em grandes porções e proporções —os brancos ricos de países ricos, os brancos ricos de países pobres, os homens, que nos últimos milênios centralizaram as decisões, nos trazendo até aqui— são os que serão menos afetados por ela. São esses que já passaram a erguer muros e a fechar as fronteiras muito antes do coronavírus porque temem os refugiados climáticos que criaram e que serão cada vez mais numerosos no futuro bem próximo.
Na pandemia de coronavírus há o mesmo apartheid. É bem explícito qual é a população que tem o direito a não ser contaminada e qual é a população que aparentemente pode ser contaminada. Não é coincidência que a primeira morte por coronavírus no Rio de Janeiro foi uma mulher, empregada doméstica, a quem a “patroa” nem reconheceu o direito à dispensa remunerada do trabalho, para fazer o necessário isolamento, nem achou necessário contar que poderia estar contaminada por coronavírus, cujos sintomas já sentia depois de voltar de um Carnaval na Itália. Essa primeira morte no Rio é o retrato do Brasil e das relações entre raça e classe no país, expostas em toda a sua brutalidade criminosa pela radicalidade de uma pandemia.
O espantoso é que a necessidade de muitos de ter sua casa limpa e a comida pronta pela empregada doméstica, a quem negaram o direito ao isolamento remunerado, é maior até do que o instinto de sobrevivência. Isso nos informa muito sobre uma parcela da sociedade brasileira, esta em que os porteiros continuam abrindo a porta dos edifícios para os moradores não tocarem eles mesmos na maçaneta, quando vão ao jardim arejar ou ao supermercado comprar comida. Ficar sem empregados domésticos parece ser mais trágico do que enfrentar o vírus para uma parcela das classes média e alta brasileiras. Esta última muito acostumada a acreditar-se a salvo do pior, porque em geral está.
O poder de devastação do vírus é determinado pelas escolhas dos governos e da população que elegeu os governantes. Neste momento, os brasileiros estão tendo que se haver com a escolha de sucatear o SUS, com a escolha de reduzir o investimento em programas sociais que pudessem reduzir a desigualdade, com a escolha de não fazer reforma agrária nem redistribuição de renda, com a escolha de não priorizar o saneamento básico e a moradia digna. Com a escolha de fazer teto para gastos públicos também em áreas essenciais como saúde e educação.
Os brasileiros estão sendo obrigados a se haver, principalmente, com a escolha de fazer do “Mercado” um deus-entidade que se autorregula. Se o Mercado foi a explicação de tudo para as medidas mais brutais defendidas por essa praga persistente chamada “economistas neoliberais” ou “ultraliberais”, que se autodeclararam com autoridade e poder para determinar todas as áreas de nossa vida, cadê o Mercado agora? Por que não pedem que o Mercado resolva a pandemia? Ao contrário, os representantes do Mercado estão demitindo e dispensando os empregados e pedindo ajuda emergencial do Governo para não falir.
Mas, não se iludam. Assim que a pandemia passar, o Mercado voltará com todo o seu poder de oráculo para, por meio de suas sacerdotisas, os economistas neoliberais ou ultraliberais, nos ditar tudo o que temos que fazer para sair da recessão. Este ônus, como sempre, será dividido igualmente entre os mais pobres.
O vírus —e não as péssimas escolhas— será o culpado de todas as mazelas. Até o corona, como sabemos, a economia do mundo capitalista e do Brasil de Paulo Guedes estava uma maravilha, parece até que domésticas estavam planejando uma excursão para a Disney quando foram impedidas pelo maldito vírus com nome de ducha. E, claro, o maníaco do Planalto vai dizer que não é nem ele nem seu Posto Ipiranga os incompetentes, mas “a histeria” com a “gripezinha”.
Nada está dado, porém. Não é só o futuro que está em disputa, mas o presente. Isoladas em casa, as pessoas passaram a fazer o que não faziam antes: enxergar umas as outras, reconhecer umas as outras, cuidar umas das outras. Justo agora, quando ficou muito mais difícil, parece ter se tornado mais fácil alcançar o outro. Quem criou esse conceito —“isolamento social”— estava com falha de raciocínio. O que temos que fazer e muitos estão fazendo é “isolamento físico”, como apontou no Twitter o sociólogo Ben Carrington. O que está acontecendo hoje é exatamente o contrário de isolamento social. Fazia muito tempo que as pessoas, no mundo inteiro, não socializavam tanto.
No Brasil, o grande momento de socialização é o panelaço de “Fora Bolsonaro!” nas janelas. Em outros países têm música, até poesia, nas sacadas. Para os brasileiros, mostrar que se encontraram com a realidade do outro é reconhecer a realidade de que botaram um maníaco no Planalto e precisam tirá-lo de lá se quiserem sobreviver. Mas também por aqui há festas de aniversário com bolinho na porta e vizinhos cantando parabéns das janelas, jovens fazendo compras para os velhos do prédio, avós almoçando com as netas pelo FaceTime, famílias e grupos de amigos conversando por aplicativos como há tempo não faziam. É incrível, mas finalmente os humanos descobriram que podem usar o celular para se encontrarem, em vez de se isolarem cada um no seu aparelho em torno de mesas de bares e restaurantes.
Muitas das ações da direita e da extrema direita no Brasil dos últimos anos tiveram como objetivo neutralizar e sepultar uma insurreição das periferias, no sentido mais amplo, que começava a questionar, de forma muito contundente, os privilégios de raça e de classe. Começava a reivindicar sua justa centralidade. Marielle Franco era um exemplo icônico destes Brasis insurgentes que já não aceitavam o lugar subalterno e mortífero ao qual haviam sido condenados. A pandemia mostrou explicitamente que a rebelião continua viva. O Brasil das elites boçais, aliado à nova boçalidade representada pelos mercadores da fé alheia, não conseguiu matar a insurreição. O “Manifesto das Filhas e dos Filhos das Empregadas Domésticas e das Diaristas”, afirmando que não permitiriam que os patrões deixassem suas mães morrer pelo coronavírus, foi talvez o grito mais potente deste momento, impensável apenas alguns anos atrás.
Dezenas de “vaquinhas” estão em curso, grande parte delas organizadas a partir das favelas e das periferias, para garantir alimentação e produtos de limpeza para a parcela da população a quem o direito ao isolamento é sequestrado pela desigualdade brasileira. Em geral, o lema é “Nós por Nós”: séculos de história provaram que só os explorados e os escravos podem salvar a si mesmos.
Alguns organizadores dessas campanhas temem que o tempo dos corações abertos, onde brotam margaridas de solidariedade, pode acabar em algumas semanas, quando a comida escassear e a fome se estabelecer, quando o medo de o dinheiro acabar, para aqueles que ainda têm dinheiro mas não sabem por quanto tempo, empedre veias e artérias, quando o número de casos estiver tão fora do controle que o sistema de saúde implodir. É lá, neste lugar ao qual possivelmente ainda chegaremos, que vamos definir quem de fato somos —ou quem queremos ser. Então saberemos. Não me parece que, desta vez, as pessoas aceitarão morrer como gado. Em especial, as mesmas pessoas de sempre.
A consciência da própria mortalidade costuma ter um efeito muito poderoso sobre as subjetividades. Filósofos têm disputado a interpretação do que será ou pode ser o mundo do pós-coronavírus. O esloveno Slavjoj Zizek acredita no poder subversivo do vírus, que pode ter dado um golpe mortal no capitalismo: “Talvez outro vírus muito mais benéfico também se espalhe e, se tivermos sorte, irá nos infectar: o vírus do pensar em uma sociedade alternativa, uma sociedade para além dos Estados-nação, uma sociedade que se atualiza nas formas de solidariedade e cooperação global”.
O sul-coreano Byung-Chul Han, que dá aulas na Universidade de Artes de Berlim, acredita que Zizek está errado. “Após a pandemia, o capitalismo continuará com ainda mais pujança. E os turistas continuarão a pisotear o planeta”, afirma. “A comoção é um momento propício que permite estabelecer um novo sistema de Governo. Também a instauração do neoliberalismo veio precedida frequentemente de crises que causaram comoções. É o que aconteceu na Coreia e na Grécia. Espero que após a comoção causada por esse vírus não chegue à Europa um regime policial digital como o chinês. Se isso ocorrer, como teme Giorgio Agamben, o estado de exceção passaria a ser a situação normal. O vírus, então, teria conseguido o que nem mesmo o terrorismo islâmico conseguiu totalmente”.
Mas também ele se aproxima da ideia de uma outra sociedade possível no pós-guerra pandêmica: “O vírus não vencerá o capitalismo. A revolução viral não chegará a ocorrer. Nenhum vírus é capaz de fazer a revolução. O vírus nos isola e individualiza. Não gera nenhum sentimento coletivo forte. De alguma maneira, cada um se preocupa somente por sua própria sobrevivência. A solidariedade que consiste em guardar distâncias mútuas não é uma solidariedade que permite sonhar com uma sociedade diferente, mais pacífica, mais justa. Não podemos deixar a revolução nas mãos do vírus. Precisamos acreditar que após o vírus virá uma revolução humana. Somos NÓS, PESSOAS dotadas de RAZÃO, que precisamos repensar e restringir radicalmente o capitalismo destrutivo, e nossa ilimitada e destrutiva mobilidade, para nos salvar, para salvar o clima e nosso belo planeta”.
Penso que a beleza que ainda resta no mundo é justamente que nada está dado enquanto ainda estivermos vivos. O vírus, que arrancou todos do lugar, independentemente do polo político, está aí para nos lembrar disso. A beleza é que, de repente, um vírus devolveu aos humanos a capacidade de imaginar um futuro onde desejam viver.
Se a pandemia passar e ainda estivermos vivos, será no momento de recompor as humanidades que poderemos criar uma sociedade nova. Uma sociedade capaz de entender que o dogma do crescimento nos trouxe até este momento, uma sociedade preparada para compreender que qualquer futuro depende de parar de esgotar o que chamamos de recursos naturais —e que os indígenas chamam de mãe, pai, irmão.
O futuro está em disputa. No amanhã, demorando ou não a chegar, saberemos se a parte minoritária, mas dominante, da humanidade seguirá sendo o vírus hediondo e suicida, capaz de exterminar a própria espécie ao destruir o planeta-corpo que a hospeda. Ou se barraremos essa força de destruição ao nos inventarmos de outro jeito, como uma sociedade consciente de que divide o mundo com outras sociedades. Saberemos, após tantas especulações, se o que vivemos é Gênesis ou Apocalipse, na interpretação do senso comum. Ou nada tão grandiloquente, mas imensamente decepcionante: a reedição de nossa invencível capacidade de adaptação ao pior, com a imediata adesão aos discursos salvacionistas que já nos escravizaram tantas vezes.
A pandemia de coronavírus revelou que somos capazes de fazer mudanças radicais em tempo recorde. A aproximação social com isolamento físico pode nos ensinar que dependemos uns dos outros. E por isso precisamos nos unir em torno de um comum global que proteja a única casa que todos temos. O vírus, também um habitante deste planeta, nos lembrou de algo que tínhamos esquecido: os outros existem. Às vezes, eles são chamados novo coronavírus. Ou SARS-CoV-2.
Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista. Autora de Brasil, construtor de ruínas: um olhar sobre o país, de Lula a Bolsonaro (Arquipélago).
RPD || Joan del Alcázar: Covid-19. Nem tudo é terrível nesses tempos difíceis
Estamos vivendo dias complicados. Abriram-nos imensa janela para o desconhecido, o impensável, o inesperado, há não mais do que um par de meses. Não é uma ameaça tangível, como outras que conhecemos. Não temos experiência alguma na gestão de uma pandemia virótica, que pensávamos tivesse sido desterrada do mundo desenvolvido, caso tivesse tido origem em países pobres e atrasados.
Pois não foi isso. Há poucas semanas tínhamos programado viagens de férias ou a trabalho; só esperávamos o início das festas populares, dessas que atraem multidões, ou simplesmente anotávamos na agenda dias de descanso e deleite. E, de repente, de golpe, tudo voou pelos ares. O país entra em estado de alarme, as cifras de contágio crescem, as decisões das autoridades têm de ser renovadas dia após dia, nossa vida cotidiana se põe de cabeça para baixo, fecham-se restaurantes, cafés, cinemas, teatros e museus. Os centros educativos, do pré-escolar às universidades, cerram as portas sine die e nos ordenam a permanecer em casa, para evitar o contágio e a transmissão do vírus. Todas, absolutamente todas, as preocupações que polarizam a vida pública do país foram relegadas ao escaninho dos problemas secundários.
Descobrimos quantas inércias e quantos protocolos tivemos de abandonar. A vida social se reduziu ao máximo. Não é só que tivemos de deixar de nos beijar e abraçar; que passamos a nos cumprimentar, como os japoneses, sempre tão cerimoniosos e distantes. Agora já nem podemos sair à rua, a não ser por causa muito justificada.
São tempos difíceis e, ao que tudo indica, duradouros. Não há previsões confiáveis, nem prazos a cumprir. Hoje por hoje, trata-se de resistir, de proteger os outros e de nos proteger, de cuidar para não colapsar os serviços sanitários e de confiar nas autoridades que estão sendo orientadas por critérios e relatórios dos peritos. Tudo parece mal, terrível, insuportável. Mas não é.
Nem tanto, pelo menos. Como recordava uma dessas ideias que circulam pelas redes sociais: “A nossos pais e a nossos avós, mandavam à guerra; a nós, nos mandam para casa. Calma”. Isso, calma e paciência.
Além disso, nem tudo é terrível e negativo. Há também fatos e razões que são, sem dúvida, positivos e merecem alguma reflexão nesse período de resistência em que estamos encalacrados. Vejamos alguns:
1. Quando detectaram os primeiros casos do que depois seria o AIDS, em 1981, tardaram dois anos para identificar o vírus. Os primeiros casos de Covid19 foram detectados no último dia de 2019 e, em 7 de janeiro de 2020, já se sabia que vírus era. Mais ainda: o genoma do vírus estava disponível três dias depois. Hoje, passaram-se escassos dois meses.
2. A comunidade científica já publicou mais de 160 artigos acadêmicos de mais de 700 pesquisadores de todo o planeta sobre tudo que envolve o Covid19. E, mesmo que tardem meses para poder utilizar-se de maneira corrente, já existem protótipos de vacinas.
3. Sabemos que 80% dos contágios têm índice leve de gravidade, e que a maioria do infectados se curam.
4. Confirmamos uma teoria em que os psicólogos sociais vêm trabalhando há tempos: o interesse coletivo mobiliza mais e melhor do que o individual. Isto é, diante de um risco, há muitos indivíduos que estão dispostos a assumi-lo, mas não tantos se essa atitude acarreta riscos para os outros. Temos mais cuidados se nosso comportamento prejudica os outros que se os afetados somos nós mesmos. Como se sabe, dirigir um carro com crianças a bordo nos faz mais conservadores e seguros ao volante.
5. É verdade que verificamos comportamentos individuais ou de grupo que são maus e reprováveis, em graus distintos. Outros merecem mais o qualificativo de comportamentos estúpidos, próprios de pessoas de baixa capacidade intelectual e humana. Mas tomamos, ao mesmo tempo, conhecimento de iniciativas de solidariedade, ajuda e cooperação especialmente com os mais frágeis. Desde os vizinhos que organizaram a atenção a anciãos que vivem sós até as redes que se ocuparam de crianças, cujos pais tinham de sair de casa para ir trabalhar.
6. Os meios de comunicação deixaram de lado, em sua maioria, o sensacionalismo (tremendismo), com as exceções habituais, que nem vale a pena mencionar. Tem sido frequente encontrar naqueles meios recomendações e protocolos de comportamento para o público em geral, informações de serviço úteis e necessárias nesses dias.
7. Capítulo especial merecem os profissionais da saúde pública. Sabemos em que condições estão trabalhando, sob que pressão e em que níveis de risco. É em momentos como o atual que comprovamos a qualidade da inversão dos recursos públicos nas instalações sanitárias, na formação e sentido do dever dos funcionários dos serviços de saúde, desde o pessoal de apoio e de limpeza aos auxiliares, os enfermeiros e os médicos. Conviria que, passado o tsunami, não nos esqueçamos deles e seu desempenho titânico.
Não precisamos nos exceder. O tema não se conclui hoje, e voltaremos a escrever sobre ele. Lembrem que a palavra de ordem é resistir para vencer. Não será fácil, mas, me recordava um amigo, não será fácil, mas é seguro.
José Serra: Contra a covid-19
Medidas devem ser voltadas não só para a saúde, mas ter impacto positivo na economia
O quadro imposto pela “crise do coronavírus” exige respostas imediatas. Para começar, a coordenação das diferentes iniciativas tomadas no País precisa considerar o que está sendo feito no resto do mundo. Debelar a covid-19 e amenizar os efeitos sobre a renda das famílias é árdua tarefa. Por isso tenho sugerido a adoção de um protocolo socioeconômico para tratar do problema, incluída a criação de um fundo específico para tornar viáveis eventuais aportes realizados por pessoas físicas e jurídicas.
A escalada do número de contaminados levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma pandemia. Torna-se compulsório o acompanhamento sistemático do volume de contagiados com e sem sintomas; hospitalizados graves ou não; e, lamentavelmente, o número de mortos. Até ontem, antes de fecharmos este artigo, o Brasil tinha 2.433 casos confirmados e 57 mortos.
A situação é inédita: restrições à circulação de pessoas, mercadorias e serviços; interrupção das atividades de trabalho e lazer; fechamento da maioria das empresas de comércio e elevação dos gastos públicos. As consequências das restrições impostas demonstram que não é só uma gripe. A pandemia afeta, sobremaneira, a saúde econômica global e não é preciso aqui reiterar os desastrosos resultados na indústria, no comércio e no sistema financeiro mundial. É imperativo, portanto, que Poderes e autoridades brasileiras se unam na busca de alternativas que mitiguem as dificuldades que enfrentamos e que aumentarão muito daqui em diante.
Precisamos observar o que está acontecendo no resto do mundo, não exatamente para copiar outros países, mas para entendermos o que deve ser feito no Brasil. Por exemplo, o papel da política monetária está esgotado nos países europeus. Nos Estados Unidos, antes de reduzirem a zero a taxa de juros, havia algum raio de manobra. Agora não mais. Por outro lado, cabe enfatizar, o ativismo da política fiscal está amplamente presente na Europa e nos EUA e deverá ser cada vez mais forte entre nós.
Cada medida a ser tomada deve ser bem contextualizada. No Brasil ainda há margens para redução das taxas de juros e ampliação das linhas de crédito ou refinanciamentos, a fim de evitar falências generalizadas. Do mesmo modo, deve-se recorrer, no campo fiscal, a políticas de subsídios que ajudem a preservar a capacidade produtiva e incentivar a indústria de medicamentos, material hospitalar, etc., para elevar a oferta tão necessária neste momento. A atuação deve concentrar-se em três frentes: expansão do gasto direto em saúde, em volume expressivo e de maneira célere, transferências de renda às famílias mais pobres e distribuição de alimentos.
Reafirmo: vivenciamos o início do que pode ser a maior crise econômica em tempos de paz, com forte choque de oferta e de demanda em nível mundial. As medidas a serem tomadas devem contemplar não apenas ações voltadas para a saúde, mas, simultaneamente, exercer impactos positivos sobre a dinâmica das economias. No Brasil, efeito perverso sobre a renda e o emprego, sobretudo dos trabalhadores informais, autônomos e microempresários, com a queda abrupta da atividade econômica, requer decisões tempestivas do governo central e do Congresso. Ao anunciar apoio a esses segmentos e enviar o decreto de estado de calamidade, o governo deu passos na direção correta.
Podemos, contudo, fazer mais. Penso que uma alternativa seria criar o que denominaria protocolo socioeconômico, tendo como carro-chefe ações na área da saúde: fortalecimento do SUS, ampliação emergencial do número de UTIs, com hospitais de campanha – o Exército pode tomar essa iniciativa – e reforço do atendimento das unidades básicas de saúde. Associando-se a isso o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, garantindo direitos socioassistenciais e atendimento mais adequado às pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua. Melhorando a atenção primária.
Além dessas medidas, devem-se adotar, por exemplo, ações que identifiquem os idosos que vivem em assentamentos e em moradias precárias, sem saneamento básico. Isso é possível recorrendo ao Cadastro Único, instrumento criado na esfera federal para impulsionar as ações sociais, uma das muitas benditas heranças do governo FHC. O cadastro permite não só identificar quem é pobre ou extremamente pobre, mas também saber em que condições vivem essas pessoas, tamanho das famílias, faixa etária de cada um de seus membros e o tipo de benefício social que recebem. O instrumento já temos, basta utilizá-lo.
Para garantir a implementação desse protocolo podem-se utilizar os recursos do fundo que mencionei no início, destinando também à pesquisa e compra de medicamentos. Abarcaria ainda dinheiro público, concentrando as ações e garantindo transparência aos gastos. É uma saída orçamentária para acelerar todo o processo, que será penoso e demandará, acima de tudo, atuação eficiente do Estado.
A meu ver, essas são algumas das muitas dimensões a serem trabalhadas para enfrentarmos esse microrganismo que tomou o mundo de assalto e nos tornou reféns.
*Senador (PSDB-SP)
Eugênio Bucci: Por que, em vez da doença, eu prefiro a cura como metáfora
É hora de doar tudo o que pudermos a quem não tem, é hora de bater panela...
Susan Sontag viu nas doenças do nosso tempo, o câncer e a aids, metáforas poderosas para pensarmos sobre as mentalidades que nos aprisionam e nos fazem cativos de preconceitos e medos irracionais. Acertou no nervo. Seus livros A Doença como Metáfora e Aids e suas Metáforas viraram clássicos instantâneos. Mas agora, diante da pandemia da covid-19, em que a civilização foi inteira para a enfermaria – e em parte para a UTI –, a metáfora que olha para nós com ares de esfinge não está na doença, mas na cura.
Sim, eu bem sei que a cura não existe. Não há vacina. Não dispomos de remédios específicos e comprovados, a despeito da propalada cloroquina presidencial. Por enquanto não há um fármaco que aniquile o coronavírus. Quando muito, a medicina nos socorre combatendo os sintomas e os médicos nos apoiam para ganhar tempo, enquanto o corpo, como diria Voltaire, trata de neutralizar a moléstia.
Não há solução individual para ninguém. Uma pessoa que desenvolva um quadro grave da doença terá de contar com os paliativos hospitalares, de um lado, e, de outro, com o próprio organismo para restabelecer o corpo. É só o que temos. Na dimensão coletiva, porém, podemos recorrer a um arranjo coletivo para enfrentar a enfermidade com eficácia. Individualmente, somos indefesos, mas agindo em conjunto, socialmente, podemo-nos proteger. As esperanças que podemos ter são esperanças coletivas. É por aí que começa a metáfora da cura (da cura que ainda não há, mas já é metafórica).
As medidas que os países que não são governados por loucos estão adotando ilustram o que quero dizer. A diminuição organizada dos contatos sociais – com a interrupção das aulas, dos comícios e dos cultos religiosos, além de festas (de aniversário, inclusive) e funerais – vai se mostrando eficaz para retardar e diminuir a intensidade do chamado pico de contaminação. Se não formos por aí, será o caos. Se o volume de casos graves explodir acima de um patamar suportável, faltarão, como se viu em outros países, leitos de UTI com respiradores. Ato contínuo, virá o sufocamento do sistema de saúde, o que vai esgarçar o tecido social, com o risco da generalização de mercados negros (não só de álcool em gel) e da violência descontrolada.
A única opção sensata que temos é ficar em casa e, acima disso, ajudar aqueles que não têm moradias adequadas – e não leem estas páginas – a se proteger. Dependemos agora de renúncia e solidariedade. A renúncia é individual: consiste em abrir mão de sair por aí passeando (para buscar o prazer) ou trabalhando (para buscar dinheiro). A solidariedade, claro, só se realiza no plano coletivo. Dispensar os trabalhadores domésticos sem lhes cortar o salário é o mínimo, mas não é suficiente. Estamos sendo chamados a fazer mais.
O mais interessante é que ninguém pode controlar se será ou não será infectado, mas todo mundo pode controlar, ao menos um pouco, se será ou não um vetor de contágio. Ninguém será bem-sucedido em ficar à distância do vírus, por mais que mantenha no armário do banheiro um estoque de máscaras cirúrgicas (que estariam mais bem empregadas se fossem doadas a um hospital). O vírus virá, seja no desenho da netinha ou no prato que o restaurante caro manda entregar por motoboy. Mas temos chances de ser mais bem-sucedidos em postergar o momento em que o vírus que está em nós atinja o próximo.
Eis, então, a metáfora: a única forma de cuidar de nós é cuidar do outro. Se eu quiser cuidar de mim, individualmente, de forma egoísta, estou roubado e, mais ainda, os outros ao meu redor também estão. Note bem o improvável leitor: no caso presente, os vícios privados não nos levarão a benefícios públicos. Só nos levarão ao desastre.
Vamos dizer “não” ao desastre. Vamos dizer “sim” ao pensamento. A metáfora nos desafia a repactuar as bases da civilização enferma. O Estado despachante do capital precisa ser questionado. Os governos autoritários e destituídos de empatia precisam ser derrotados. O sujeito que faz pose de fortão e chama a pandemia de gripezinha, apoiado em fake news, precisa ser desmascarado. É hora de doar tudo o que pudermos a quem não tem, é hora de bater panela e piscar as luzes do apartamento (para quem tem panela, energia elétrica e apartamento).
É hora disso tudo, mas sem lenga-lenga de autoajuda, pelo amor de Deus. Essa conversa de redescobrir o valor da família e as delícias de lavar com cândida o chão da cozinha, francamente, não dá pé. Haja afetação. Haja mariantonietismo. Eu não vejo nenhuma vantagem em ficar trancado no meu endereço domiciliar dando aulas para um notebook, por meio do qual meus alunos tentam me entender e fazer perguntas tão atentas quanto generosas. Quero reencontrar o quanto antes as pessoas que amo e de quem preciso sentir o calor, o beijo, o abraço. Gosto de perdigotos no meio da rua. Sinto saudades das calçadas sobre a quais salivam, enquanto sonham, as famílias que não têm casa para morar e precisam ser salvas.
No mais, a metáfora me intriga.
*Jornalista, é professor da ECA-USP
Juan Arias: Amanhã pode ser tarde demais para deter Bolsonaro
Bolsonaro não só caçoa de uma epidemia que coloca o mundo de joelhos, como tenta se aproveitar dela para minar as instituições democráticas
Nada poderia ser pior do que minimizar o perigo que corre hoje o Brasil nas mãos de um personagem, como o capitão reformado e ultradireitista Jair Bolsonaro, que não só caçoa de uma epidemia que está colocando o mundo de joelhos, como tenta se aproveitar dela para minar as instituições democráticas e sustentar sua ânsia de poder.
Aproveitar este momento de angústia nacional para politizar um drama em que o país está entre a vida e a morte pensando em sua reeleição, é um crime sem perdão.
Com seu estilo sibilino de dizer e se desdizer, de brincar de esconde-esconde, o presidente acaba confundindo e impondo seu estilo de aprendiz de ditador enquanto há quem ainda o veja como inofensivo por considerá-lo um despreparado e incapaz. Pelo contrário, aquele que sonhou em ser general do Exército e acabou como simples capitão é mais perigoso à democracia do que muitos pensam. Vai roendo sem que percebamos nossas liberdades e capacidades de decisão. E espera o momento propício para dar o golpe.
Quem pensava que os militares, começando pelos generais que ele colocou no Governo, seriam garantia contra seus caprichos autoritários hoje se veem isolados e retirados do Governo contra sua vontade se não se colocarem às suas ordens. Todos os seus pecados vão sendo perdoados, até contra o senso comum. Permitem que ele apresente ao exterior uma imagem do país que vai na contramão dos maiores líderes mundiais na luta contra a epidemia do coronavírus porque se pensa que ninguém vai acreditar nele.
O presidente é mais perigoso do que parece porque suas ambições de poder são muito maiores do que imaginam até os que estão ao seu lado. Sua capacidade de totalitarismo e de desejo de colocar aos seus pés as instituições democráticas são insaciáveis e já existem desde jovem, quando sendo simples soldado sonhava em presidir o país utilizando até métodos de terror, como quando no quartel brincava de ser terrorista e subversivo. Também à época o Exército o perdoou porque o considerava inofensivo e ingênuo. Hoje vemos que não era.
Foi considerado como inofensivo também quando já na política, como deputado, fazia troça dos valores democráticos, exaltava as ditaduras e a tortura e humilhava as mulheres e os de outras preferências sexuais. Ele podia tudo porque era considerado inofensivo, do baixo clero. Podia vomitar as maiores barbaridades porque se pensava que era um personagem folclórico, até engraçado, um zé ninguém. Não era. E chegou ao maior cargo do Estado e por voto popular.
Em meio ao drama da epidemia do coronavírus que assusta o mundo e ainda não sabemos quantas vítimas causará, o presidente continua irresponsavelmente em sua teimosia de negar as evidências e ir contra a opinião pública altamente majoritária como revelou a última pesquisa do Datafolha. E se aproveita da tragédia para sonhar até mesmo em impor o estado de sítio e colocar o Exército no comando do país. Exército que, para concretizar seu antigo sonho de poder, agora como Presidente teria aos seus pés.
Enquanto os que realmente importam no país e são responsáveis por seu destino continuarem subestimando os sonhos secretos de onipotência do capitão da reserva, deveriam olhar para trás na história para lembrar que foram personagens que em sua época pareciam inócuos e farsantes que acabaram criando holocaustos e guerras para se vingar dos que os consideravam figuras menores e inofensivas. Será preciso lembrar nomes dos grandes tiranos da História que surgiram da mediocridade da política? Não é difícil lembrar da tragédia do mundo cada vez que para governá-lo forem colocadas em seu comando personagens menores, considerados inofensivos e facilmente domináveis que se tornam insaciáveis em sua loucura pelo poder absoluto.
Se os lúcidos, os normais, os que são capazes de exercer o poder como um serviço à comunidade, acabarem devorados pelas ânsias de poder dos medíocres e falsos loucos capazes de tudo para continuar no pedestal do poder, amanhã pode ser tarde demais.
Não deixemos que o Brasil verdadeiro, hoje amedrontado, o que trabalha e se sacrifica para se apresentar ao mundo como o grande país que é por tradição e história, por sua capacidade de suportar as piores crises, por suas riquezas naturais e espirituais acabe sufocado pela ignorância e a loucura dos que desejam transformá-lo em uma republiqueta periférica no mundo.
Esse amor pelas atitudes violentas e de confronto contra todos, pelos conflitos violentos, pela política do ódio sempre foi o sonho de todos os aprendizes a ditadores que tentaram camuflar seus complexos de inferioridade com o troar dos canhões e o sacrifício de milhões de pessoas perpetrado no altar da loucura política da sede de domínio.
Que o Brasil, assustado com razão por uma epidemia que mata e transforma a todos em prisioneiros de guerra, não espere mais e procure a fórmula constitucional que permita colocar o país nas mãos de alguém normal, sem patologias e delírios de poder capaz de lidar com sensatez nessas horas críticas que podem marcar o futuro de um país que está se revelando solidário e com vontade de vencer essa batalha e continuar com sua vocação de paz e seus desejos de felicidade.
Que o Brasil não precise se arrepender de não ter reagido a tempo deixando que alguém que já deu provas suficientes de que é incapaz de governar um país dessa envergadura e menos ainda em momentos decisivos como esse, continue perigosamente arrastando-o a uma aventura cujo final não é difícil de se imaginar.
E é para hoje. Amanhã será tarde demais.