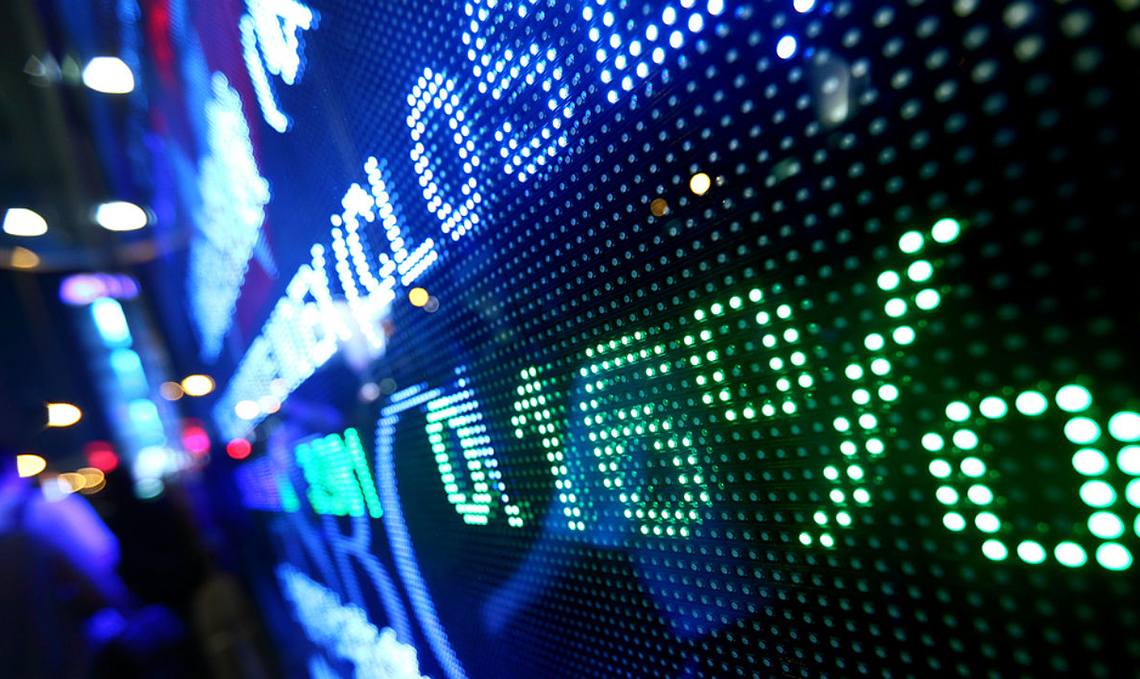Contas públicas
Congresso não julga contas presidenciais há 20 anos
Para especialistas, o quadro expõe uma crise no orçamento público e aumenta o poder de barganha das verbas federais em troca de apoio político
Daniel Weterman, O Estado de S.Paulo
BRASÍLIA - O Congresso deixou de fiscalizar o Orçamento aprovado pelos próprios parlamentares nos últimos anos. O Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle de Execução Orçamentária (CFIS) da Comissão Mista de Orçamento (CMO), que deveria acompanhar o andamento dos programas financiados por verbas federais, está parado e nunca funcionou. Além disso, o Legislativo não julga as contas presidenciais há quase 20 anos.
Para especialistas, o quadro expõe uma crise no orçamento público, que ficou à mercê da negociação política, e aumenta o poder de barganha das verbas federais em troca de apoio político. Em entrevista ao Estadão/Broadcast Político, a presidente da CMO, senadora Rose de Freitas (MDB-ES), prometeu formar um grupo para acompanhar as obras paralisadas e chamar os ministérios do governo a fazer um Orçamento conjunto com o Congresso antes mesmo do envio da proposta orçamentária para 2022, até o final deste mês.
A comissão é responsável por analisar o Orçamento da União e dar um parecer sobre as despesas antes do plenário. Além disso, tem o papel de acompanhar a execução dos gastos. O Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária, formado por integrantes do colegiado, no entanto, está parado e nunca funcionou efetivamente. A única atividade ocorreu em 2011, quando o órgão fez uma reunião e solicitou informações sobre as ações alvo de contingenciamento no Executivo.
Se funcionasse, o CFIS poderia fiscalizar o desempenho dos programas governamentais e discutir a estimativa das despesas obrigatórias. No Orçamento deste ano, por exemplo, o Congresso lançou mão de uma manobra para subestimar as despesas obrigatórias, como aposentadorias, e turbinar emendas parlamentares, a maior parte delas destinadas a obras definidas por deputados e senadores. Os únicos comitês com funcionamento regular têm sido justamente aqueles que destravam verbas de interesses dos parlamentares, como o Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com indícios de Irregularidades Graves (COI), que nos últimos anos vem autorizando os gastos para obras questionadas pelo Tribunal de Contas de União (TCU), e o Comitê de Admissibilidade de Emendas (CAE), que tem carimbado as emendas apresentadas pelos congressistas no Orçamento.
Contas. Além de paralisar o comitê de fiscalização, o Congresso está há quase 20 anos sem julgar as contas presidenciais. Nas últimas duas décadas, o Legislativo deixou de dar um parecer sobre os gastos realizados por quem ocupa a presidência da República. Na prática, os parlamentares deixaram de fiscalizar o Orçamento que eles próprios aprovaram e de viabilizar mudanças no modelo atual.
As últimas contas analisadas pelo Congresso foram as de 2001, último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, julgadas em 2002. De lá para cá, nenhum julgamento foi até o final. Além disso, duas contas do governo Collor, de 1991 e 1992, ainda estão na gaveta. A Constituição determina ao Legislativo o julgamento das contas prestadas anualmente pelo presidente como instrumento de fiscalização e de ajustes na administração.
Especialistas alertam para a falta de transparência e distorções no processo de alocação das verbas federais na relação entre o governo e o Congresso, como nos casos do orçamento secreto e das emendas "cheque em branco", revelados pelo Estadão. Nesse sentido, o julgamento das contas poderia servir para orientar os dois lados a aprimorar os gastos públicos, o que não vem acontecendo. O Tribunal de Contas da União emite um parecer prévio todos os anos, mas a análise fica parada no Congresso.
"Esse é um problema, é uma questão preocupante. O TCU faz um trabalho de análise não só das contas, mas às vezes de uma política específica, e nós perdemos a oportunidade de retroalimentar o planejamento porque o Congresso realmente não está interessado nisso", afirma o consultor de orçamento da Câmara Paulo Bijos. "O Orçamento está de ponta-cabeça. É um modelo que está em crise crônica e precisa ser repensado."
Em caso de descontrole fiscal, o julgamento das contas poderia apontar crime de responsabilidade, motivo para a abertura de um processo de impeachment, e deixar o chefe do Executivo inelegível por oito anos. No governo de Dilma Rousseff, por exemplo, o TCU orientou pela rejeição das contas de 2014 e 2015, mas o parecer não foi analisado pelo Congresso. Desde 1988, o Congresso nunca rejeitou as contas de um presidente, mas, por outro lado, deixou de emitir qualquer julgamento nas duas últimas décadas.
Uma ala da Comissão Mista de Orçamento ameaça pautar as contas presidenciais do ano passado para pressionar o chefe do Planalto a ampliar a negociação com o Congresso. Bolsonaro é acusado de privilegiar o Centrão na distribuição de verbas em detrimento de outros grupos. Aliados de Bolsonaro, por outro lado, agem para evitar qualquer julgamento das contas de 2020, pois a análise implicaria em questionar um modelo defendido pela base do governo, que ficou com a maior fatia das emendas de relator.
Em entrevista à reportagem, a presidente da CMO admitiu as distorções e propôs uma mudança radical no processo de definição e fiscalização das verbas federais. Ela chamará os ministros das principais áreas do governo para, até o fim deste mês, elaborar o Orçamento de 2022 em conjunto com o Congresso antes mesmo do envio do projeto ao Legislativo, no dia 31 de agosto.
Ao falar sobre a paralisia do comitê de fiscalização, a senadora afirmou que o CFIS não poderia fazer um pente-fino nos programas de forma isolada e que isso precisa ser corrigido por meio de um grupo específico de acompanhamento, ao qual ela promete dar andamento. "Tem obras no Brasil inteiro que estão paralisadas com um conceito cultural político esdrúxulo 'eu não vou continuar essa obra porque foi do governo anterior.' Vamos levantar todas as obras paralisadas, por que estão paralisadas, se é falta de recurso, se é apenas falta de gestão política, e vamos discutir isso a fundo", disse a parlamentar.
Fonte: O Estado de S. Paulo
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,congresso-paralisa-comite-de-fiscalizacao-do-orcamento-e-deixa-de-julgar-contas-presidenciais,70003812598
O principal e o acessório nas políticas públicas
Marcus Pestana / O Tempo
O Brasil cultiva a péssima tradição de descontinuidade das políticas públicas. Há uma enorme confusão entre políticas de Estado e políticas de governo. É como se cada governo eleito tivesse que começar tudo da estaca zero. Há conquistas que são permanentes, ações lançadas que se perenizam.
Construir programas sólidos e consistentes é extremamente difícil. Destruir é possível num estalar de dedos. Nenhum governo ou partido tem o monopólio das boas intenções.
O Bolsa Família, por exemplo, tem suas raízes no governo FHC através do Bolsa Escola, do Bolsa Alimentação, do Vale Gás, do Benefício de Prestação Continuada e da política de valorização do salário mínimo. O Governo Lula agrupou grande parte desses programas sob o guarda-chuva do Bolsa Família e da continuidade de outras ações. Agora, o Governo Bolsonaro anuncia um aprimoramento desta política de Estado através do chamado Auxílio Brasil. Que mal a nisso? Será que é preciso para se firmar politicamente destruir a memória das ações anteriores? Nada disso.
Na questão ambiental e das mudanças climáticas é a mesma coisa. Ainda no Governo Collor, o Brasil reivindicou protagonismo global ao realizar a Rio-92. O Governo FHC ergueu um dos mais competentes e qualificados marcos legais em busca do desenvolvimento sustentável. Os Governos Lula, Dilma e Michel Temer aprofundaram este esforço. É uma pena que, no momento em que a ONU lança um alerta máximo quanto ao aquecimento global, o Brasil se perca em polêmicas inúteis e promova retrocessos e descontinuidades.
O SUS, uma política de Estado fundamental, realçada pela pandemia, teve os seus pilares constitucionais lançados no Governo Sarney e na Constituinte de 1986. O Governo Collor avançou na desmobilização do velho INAMPS e sancionou a Lei Orgânica da Saúde. O Governo Itamar Franco criou o Programa Saúde da Família e o repasse fundo a fundo. O Governo FHC consolidou definitivamente o SUS, expandiu o PSF, estabeleceu um vitorioso programa contra a AIDs, lançou os medicamentos genéricos, criou o Piso da Atenção Básica, criou a ANVISA e a ANS, e estabeleceu a Lei dos Planos de Saúde. O Governo Lula lançou o SAMU, a Farmácia Popular, o Brasil Sorridente, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família e as UPAs. O Governo Dilma desencadeou a Rede Cegonha, a regulamentação da vinculação de recursos e o polêmico programa Mais Médicos. O Governo Bolsonaro se concentrou no combate à pandemia, com todas as polêmicas envolvidas. Mas o SUS permanece de pé.
A responsabilidade fiscal tem suas raízes no Plano Real, do Governo FHC, que foi aprofundado com a LRF, a privatização de bancos estaduais, o PROER, a renegociação das dívidas de estados e municípios. Lula deu continuidade ao tripé macroeconômico do Plano Real, com Meireles e Palocci à frente. Dilma fez uma perigosa inflexão a caminho da descontinuidade e provocou a maior recessão da história. Michel Temer recuperou o fio da meada e patrocinou a Lei do Teto de Gastos e encaminhou as reformas necessárias. No Governo Bolsonaro aprovamos a Reforma da Previdência. Agora, interrogações povoam o horizonte, mas creio que não haverá desvio de rota.
Ou seja, os governos passam e o Brasil é permanente. A inovação é sempre bem-vinda, mas para impor novas linhas de ação não é preciso destruir o passado, no que ele tem de bom.
*Marcus Pestana, ex-deputado federal (PSDB-MG)
Fonte: O Tempo
https://www.otempo.com.br/politica/marcus-pestana/subscription-required-7.5927739?aId=1.2526935
El País: Descumprir o teto de gastos ou paralisar serviços públicos, a encruzilhada das contas públicas brasileiras
Governo empurrou definições cruciais, como Orçamento para este ano e correções no mecanismo de teto de gastos. Para piorar, alta da inflação pressiona despesas previdenciárias e de assistência
O Brasil não está quebrado, como alarmou o presidente Jair Bolsonaro na semana passada, muito menos uma maravilha, como disse horas depois ao tentar minimizar sua declaração após forte repercussão. O país vive, sim, hoje uma situação fiscal grave, com as contas públicas no vermelho há mais de seis anos e deve registrar um rombo sem precedentes devido à pandemia de coronavírus. A expectativa do Ministério da Economia é que o déficit primário de 2020, que considera o que a União arrecada com impostos, seus gastos e transferências, mas não as despesas com juros da dívida pública, chegue a 844 bilhões de reais, o que representa 11,7% do Produto Interno Bruto (PIB). Neste novo ano, os desafios novamente são enormes e não há um plano fiscal claro. Nem um consenso dentro do próprio Governo. Enquanto o ministro Paulo Guedes (Economia) quer retomar a agenda de reformas, a ala militar aposta na expansão de gastos para reativar a economia que deve registrar um tombo de mais de 4% em 2020.
Com a pandemia ainda em curso, o Governo volta a lidar com as regras fiscais, suspensas no ano passado pelo decreto de calamidade pública. O Orçamento do ano ainda será votado, mas o risco de estourar o teto de gastos ―regra que impede que as despesas públicas cresçam mais do que a inflação― é grande, segundo economistas escutados pelo EL PAÍS. “Para esse ano, o corte das despesas discricionárias [não obrigatórias] para cumprir a regra terá de ser tal que só restam duas opções: ou descumprir o teto ou levar o Estado a um risco de shutdown [quando há paralisação dos serviços públicos]”, diz Felipe Salto, diretor-executivo do Instituto Fiscal Independente (IFI) do Senado.
Com o prolongamento da crise sanitária, gastos com compra das vacinas, saúde e até mesmo com algum tipo de transferência de renda, que substitua o auxílio emergencial ou o prolongue, dada a precariedade do mercado de trabalho e o aumento do desemprego que já atingem mais de 14 milhões de brasileiros, agravam o problema fiscal, segundo Salto. “Ou se constrói uma solução a curto prazo ou as contas e o custo de financiamento da dívida vão para o vinagre. Não faltaram alertas sobre a não sustentabilidade do teto para o pós-2020. Infelizmente, o Governo prefere fazer ouvidos moucos e repetir que cumprirá o teto”, completa.
Inflação alta agrava quadro
Um ingrediente extra, no entanto, pode dificultar ainda mais o compromisso da equipe econômica: a aceleração da inflação na reta final do ano passado. Isso porque o teto de gastos é corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado até junho (2,13%), enquanto as despesas indexadas ao salário mínimo, como sociais e previdenciárias, crescerão acima de 5%, mais que o dobro, porque são reajustadas de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado até dezembro, o que gera um descasamento entre os índices. “O efeito sobre o orçamento é muito significativo. Vale dizer que, pelas minhas contas, cada ponto a mais de inflação representa 8,4 bilhões de reais de gastos extras anualizados”, explica Salto.
O Governo afirma que o reajuste do valor do salário mínimo de 1.045 para 1.100 reais mensal em 2021, que foi anunciado, no fim do ano, respeita todas as regras fiscais e não fere o teto. Segundo o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, o Ministério da Economia reconhece que há impactos nos gastos, mas alerta que a equipe está atenta ao equilíbrio das contas. Cada um real de aumento no salário mínimo gera elevação de despesas de 351,1 milhões de reais, segundo a pasta. “Estamos aqui para garantir que todos esses impactos estarão dentro do teto”, garantiu o secretário.
Para Juliana Damasceno, pesquisadora da área de Economia Aplicada do FGV-IBRE, as regras de reajuste para o salário e a o teto são incompatíveis e apontam uma falha no próprio desenho da regra do teto de gastos, que segundo ela, precisa ser revista. O descasamento já tinha acontecido também de 2019 para 2020, mas com uma diferença bem menor que a que vemos agora. “Existe um problema de execução, se você desenha um teto para ser corrigido por um índice de inflação de junho e você tem uma série de despesas decidido por outro, você se expõe ao risco desses dois índices não conversarem”, diz.
Para conseguir algum respiro no orçamento engessado é preciso rever também a estrutura dos gastos obrigatórios, segundo a economista. Com um Orçamento previsto de cerca de 1,5 trilhão de reais, o Governo terá liberdade de manejar somente menos de 100 bilhões. “Há gastos ineficientes, como incentivos tributários que não são avaliados, é preciso fazer uma melhor avaliação das políticas públicas.” Damasceno acredita que, neste ano, o Governo deve ter uma certa margem de manobra se conseguir novamente um crédito extraordinário devido à pandemia. “Pode conseguir estender o estado de calamidade, o Orçamento de guerra. Mas para uma peça realista, é preciso existir algum programa de transferência de renda. O desemprego vai continuar alto, as demandas sociais idem. A licença para gastar que a gente tinha acabou, mas a pandemia não”, opina. Ela critica ainda a falta planejamento plano de longo prazo. “O Brasil precisa consolidar uma política fiscal e parte disso depende de uma articulação política que esse Governo não tem. Prometeram voltar com o debate da reforma tributária em setembro e até hoje nada.”
Revisão do teto
Na avaliação da pesquisadora, apesar do teto de gastos ter entrado em vigor em 2017, já é necessário reconhecer os problemas técnicos e torná-lo mais factível. “É algo muito delicado a forma que deveria ser feito, porque ele não pode deixar de ser uma âncora fiscal.” Para além do descasamento dos índices ela aponta também a necessidade de se levar em conta o crescimento também vegetativo. “As despesas previdenciárias, por exemplo, têm um crescimento muitas vezes acima da inflação, então por que não associar o teto ao crescimento vegetativo? Precisamos pensar em desenhos factíveis.”
O grande problema na visão de Felipe Salto, do IFI, é a falta de rumo na política fiscal. O ajuste fiscal pode vir pelo lado da receita, da despesa ou uma combinação das duas coisas. “Na presença do teto, o lado do gasto tem maior importância. Mas está óbvio que não se construiu a solução necessária para a sobrevivência da regra. Refiro-me à possibilidade de acionamento dos gatilhos, por exemplo”, diz.
É preciso, ainda, sinalizar o que será da relação dívida/PIB, que hoje já chega a quase 100%. “É fundamental que se aponte de que forma o superávit primário [o dinheiro que “sobra” nas contas do Governo depois de pagar as despesas, exceto juros da dívida pública] será recuperado. Não adianta dizer que vai cumprir o teto, porque quem faz conta vê que isso é impraticável”, completa.
O economista André Perfeito, da Necton, avalia que a fala de Bolsonaro de que o país estaria quebrado e que o Governo não teria o que fazer é um argumento retórico para preparar politicamente os cortes de gastos emergenciais e tentar reequilibras as contas públicas. Perfeito analisa que o problema central hoje do Brasil não é a “falta de dinheiro”, mas sim de um planejamento claro. “A questão fiscal não será resolvida apenas com cortes de gastos, sabemos que terão que tributar mais”, afirma. Ele ressalta, no entanto, que nenhum planejamento será feito antes dos novos presidentes da Câmara e do Senado serem escolhidos em fevereiro. “Logo continuaremos no escuro neste começo de ano”, diz.
Felipe Salto: Farol alto na gestão das contas públicas
Revisitar o espírito da LRF pode ajudar o País a reencontrar o caminho do crescimento
A crise da covid-19 impôs ao Estado brasileiro a necessidade de aumentar gastos. Foi o que aconteceu no mundo todo para garantir recursos suficientes para a saúde e a preservação da renda das famílias mais pobres e do setor produtivo. As regras fiscais vigentes foram observadas, mas o desequilíbrio das contas públicas continua a ser um problema central.
Antes de a crise se abater sobre o Brasil, já era conhecido o diagnóstico: dívida pública crescente e superior à média dos países emergentes. A qualidade do gasto, a efetividade das políticas públicas e a preservação do equilíbrio fiscal são objetivos ainda não alcançados. Sem responsabilidade fiscal o futuro é incerto. Neste ano a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) completou 20 anos. Trata-se do avanço institucional mais importante e sofisticado em matéria de contas públicas desde a Constituição de 1988.
A LRF estabeleceu limites para a despesa de pessoal, previu metas para os resultados fiscais (receitas menos despesas) e para a dívida consolidada. Pavimentou, ainda, os caminhos para a transparência e o controle do orçamento público. Mas a responsabilidade fiscal não deveria ser matéria restrita a especialistas. Ao contrário, saber como o dinheiro público é gasto é a base para uma sociedade democrática, justa e próspera.
Segundo o parágrafo 1.º do artigo 1.º da lei, “a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar”.
A redação desse início da LRF é emblemática. Responsabilidade fiscal requer planejamento e transparência, busca do equilíbrio das contas, observância de regras bem desenhadas e controle das diversas frentes de expansão fiscal.
Desde 1999, o Brasil fixou e seguiu metas para o resultado primário: receitas menos despesas primárias (as que não incluem os juros). Esse controle foi bem-sucedido e a dívida líquida em relação ao produto interno bruto (PIB) diminuiu expressivamente por uma década inteira. Com a contabilidade criativa, entre 2008 e 2014, desmontou-se a lógica das metas de resultado primário, que passaram a ser descontadas de gastos efetivamente realizados, a exemplo do PAC. Para 2021, a meta de déficit primário fixada em lei passou a ser “flutuante”, isto é, poderá ser maior ou menor a depender da arrecadação. Não é meta, portanto.
As questões da ordem do dia do ajuste fiscal estão disciplinadas na LRF. Está tudo lá: a boa gestão e o controle do gastos com pessoal, a revisão das renúncias de receitas que não produzem o resultado prometido e a importância do equilíbrio atuarial na Previdência, entre outros. Mas os avanços, numa democracia, são incrementais. É preciso vigilância constante para evitar retrocessos.
Sozinha, a lei não impediu, por exemplo, a contabilização irregular de gastos com pessoal, expediente que ocultou parte do aumento dessas despesas no âmbito estadual. Falta harmonização de normas para recolocar as finanças dos Estados e dos municípios nos trilhos. Registre-se, por outro lado, o aumento da transparência, fruto do trabalho de excelência da equipe de ciência de dados do Tesouro Nacional.
A estagnação da economia brasileira reduz a capacidade arrecadatória dos governos, o que aumenta as restrições e aflige os gestores, sobretudo nos Estados e municípios. É preciso ter claro: a solução não poderá repetir erros do passado, como renegociações de dívida sem compromisso de controlar a despesa.
A discussão do lado das receitas é também relevante. A escolha social, que se dá pelo Congresso Nacional, poderá caminhar para uma combinação de ações que envolvam até mesmo o aumento de tributos. Mas é importante sopesar que a carga tributária já é alta para o nosso nível de renda per capita. A simplificação do sistema tributário poderia impulsionar o crescimento econômico. Antes de tudo, rever e programar melhor as despesas.
A literatura de orçamento recomenda o planejamento fiscal de médio prazo. Trata-se de projetar o crescimento econômico e as receitas e, a partir disso, determinar o espaço fiscal para os próximos anos. Para decidir o que cortar, o instrumento é a revisão periódica da despesa, fundamentada em avaliação técnica. Assim seria possível dar suporte a áreas desguarnecidas e a novas prioridades de políticas sociais, subtraindo recursos das ineficientes. Tudo isso sob o objetivo geral de barrar a alta da dívida e estabilizá-la em nível menor.
Revisitar o espírito da Lei de Responsabilidade Fiscal pode ajudar o País a reencontrar o seu caminho e alicerçar o crescimento econômico. Para escapar da armadilha da renda média deve-se evitar o populismo fiscal e zelar pelas contas do País, garantindo o controle da despesa pública.
Farol alto na gestão das contas públicas!
*
DIRETOR EXECUTIVO DA INSTITUIÇÃO FISCAL INDEPENDENTE (IFI), ÓRGÃO VINCULADO AO SENADO
Sergio Lamucci: O teto e as armadilhas das contas públicas
Mexer no teto pode piorar a percepção de risco fiscal, mas uma atitude rígida demais pode paralisar serviços públicos, sem enfrentar a expansão dos gastos obrigatórios
O cenário para as contas públicas em 2021 está marcado por incertezas. Há pressão para mudanças no teto de gastos, o mecanismo que limita o crescimento de despesas não financeiras da União. O movimento vem tanto de fora quanto de dentro do governo, como lembra Ricardo Ribeiro, analista político da MCM Consultores. Para ele, “a flexibilização do teto não é certa, embora a probabilidade seja crescente”.
O desejo de políticos e ministros fora da equipe econômica de destinar mais recursos para obras públicas e para programas sociais alimenta a pressão. Além disso, há também os problemas causados pelo desenho do teto e por uma correção muito baixa do limite de despesas para 2021.
A situação fiscal é delicada. Com o aumento de despesas para combater os efeitos da pandemia e a perda de receitas devido ao tombo da atividade, a dívida bruta subirá neste ano para a casa de 95% do PIB, tendo partido de 75,8% do PIB em 2019, um nível que já era muito mais elevado do que o da média dos emergentes.
Para grande parte dos especialistas em contas públicas, é preciso começar um processo de ajuste fiscal mais forte já em 2021. Sem isso, argumentam, os juros baixos não vão se sustentar. O risco país pode subir, o câmbio pode se desvalorizar muito e os juros futuros podem aumentar, tornando inviável manter baixa a Selic. Cumprir o teto seria decisivo para reforçar o compromisso fiscal.
No meio político, porém, crescem as pressões pela flexibilização. Em entrevista para “O Globo”, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, defendeu mais investimentos em infraestrutura básica, principalmente no Norte e no Nordeste. Para Ribeiro, da MCM, “levar água, saneamento e moradia ao Nordeste e engordar o Bolsa Família, transformando-o no Renda Brasil, são argumentos poderosos a favor dos apelos” destinados ao ministro da Economia, Paulo Guedes, por Marinho e pelo senador Flavio Bolsonaro - em entrevista a “O Globo”, o filho do presidente disse “Paulo Guedes vai ter que dar um jeito de arrumar mais um dinheirinho para a gente dar continuidade a essas ações [obras paradas] que têm impacto social e na infraestrutura
Para Ribeiro, “a pressão pelo ‘dinheirinho’ adicional é crescente e tende a ficar mais volumosa quando, ao fim de agosto, o projeto de lei orçamentária da União for enviado ao Congresso”. O envio da proposta “provocará, muito provavelmente, uma chiadeira generalizada no Congresso e dentro do governo, pois o aperto orçamentário de 2021 ficará escancarado”, diz ele. “Há evidente apoio político à ideia, dentro e fora do governo. E se Jair Bolsonaro fosse totalmente avesso à ideia já teria enquadrado Rogério Marinho”, escreve Ribeiro, observando, porém, que “Paulo Guedes, Rodrigo Maia [o presidente da Câmara dos Deputados] e o receio da reação negativa do mercado ainda são barreiras poderosas à flexibilização”.
A pressão, como se vê, não é pequena. Além disso, problemas do teto colaboram para o questionamento do mecanismo. A regra tem méritos, tendo sido fundamental para melhorar as expectativas quanto à trajetória das contas públicas de longo prazo. Ele permitiu um ajuste gradual, sem que fosse necessário uma consolidação fiscal abrupta. Mas o teto também tem defeitos. O principal problema fiscal do país é a rigidez do Orçamento, marcado pelo crescimento contínuo de despesas obrigatórias, como aposentadorias e gastos de pessoal. O governo tem liberdade para manejar menos de 10% dos gastos. A reforma da Previdência reduz o ritmo de expansão dos gastos com aposentadorias, mas não o interrompe. Também é crucial enfrentar a elevação das despesas de pessoal.
Na emenda do teto, estão previstos gatilhos a serem acionados em caso de descumprimento do mecanismo, com medidas que impedem reajuste dos salários dos servidores e restringem a criação de cargos, por exemplo. A questão é que, por um erro de redação, não se consegue acioná-los. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) não pode conter despesas que ultrapassem os limites do teto, como lembra Felipe Salto, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI). Os gatilhos não podem entrar em vigor pelo envio de um projeto que preveja o estouro do teto, ainda que isso leve à elaboração de um orçamento irrealista, com um corte muito expressivo de despesas discricionárias (como custeio da máquina e investimentos).
Para 2021, o teto aumentará apenas 2,13%, porque essa foi a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos 12 meses até junho de 2020. Para cumpri-lo, será necessário espremer mais os gastos discricionários. O problema é que essas despesas poderão ficar abaixo do limite que compromete o funcionamento da máquina pública, estimado em R$ 89,9 bilhões pela IFI. Com isso, pode haver uma paralisação de atividades do setor público, além de um corte ainda mais drástico dos investimentos, sem a adoção de medidas verdadeiramente necessárias para controlar a expansão de despesas obrigatórias, como os gastos com pessoal.
Para Salto, é preciso encontrar uma saída para descumprir o teto e fazer com que os gatilhos sejam acionados, preservando a regra. Há dois anos, o governo Michel Temer, em conversas com o Tribunal de Contas da União (TCU), chegou a uma saída para o descumprimento da “regra de ouro”, que impede a emissão de dívida para pagar despesas correntes. “Esse precedente permite imaginar uma saída similar para o teto que possibilite não jogar no lixo os gatilhos ali previstos”, diz ele. Salto estima que acionar os gatilhos previstos na emenda do teto garantiria um ajuste de algo como 0,5 ponto percentual do PIB em dois anos, “dando tempo e fôlego para o Executivo e o Congresso encontrarem uma solução definitiva”. Para ele, “o essencial é ter claro que o problema do crescimento da despesa continua posto e precisará ser sanado”.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial do governo contempla o disparo dos gatilhos no caso de descumprimento da “regra de ouro”, mas a aprovação demandaria tempo e capital político, num momento em que as discussões tendem a se concentrar na reforma tributária.
Mexer no teto pode piorar a percepção de risco fiscal, colocando em xeque os juros baixos. Uma atitude rígida demais, porém, pode paralisar serviços públicos essenciais e jogar o investimento para níveis ainda mais baixos, sem que o crescimento das despesas obrigatórias seja de fato enfrentado. Escapar dessas armadilhas será crucial para garantir a sustentabilidade fiscal e permitir a recuperação da atividade, num país que registra desde 2014 um desempenho econômico horroroso.
Arnaldo Jardim: Política que constrói
Aprovada a Reforma da Previdência em 1º turno, na Câmara, estabelecemos um novo momento no País!
Criamos condições para acabar com o rombo nas contas públicas, para diminuir privilégios e modificar uma sistemática que concentrava rendas como é a velha previdência. Podemos assim ter uma nova previdência, sustentável, mais igualitária e que abra um ciclo de reformas necessárias ao Estado Brasileiro, aguardado por toda a sociedade.
Agora a Câmara dos Deputados começa imediatamente a discutir a Reforma Tributária, cuja comissão especial já foi instaurada nesta última quarta-feira, 10/07/2019, e tem prazo para apresentar sua proposta até outubro próximo.
Prioritária também será a comissão especial que definirá proposta para o marco regulatório das PPP’s, concessões públicas e fundos de investimentos em infraestrutura. Matéria da qual serei relator.
O aprendizado maior, porém, do processo de aprovação da reforma é que podemos, e devemos, praticar a Boa Política!
Uma grande maioria parlamentar se estabeleceu, aglutinando deputados que apoiam o governo, outros independentes, como eu, e até oposicionistas. Todos se somando para aprovar uma mudança estrutural difícil, que enfrenta resistências e interesses, mas necessária ao Brasil.
Essa construção ocorreu partir da discussão de mérito, debate sobre as alternativas possíveis, e foi embalada pela certeza de que era imperativo cortar privilégios, rever conceitos e deixar de lado o olhar particular, corporativista, para fazer prevalecer o interesse geral da Nação.
Ninguém tem dúvida de que o grande desafio é a retomada do crescimento econômico – único caminho pra enfrentar o desemprego de forma sustentável. E as reformas estruturais são fundamentais para isso. Indispensável, porém, é consolidarmos que o instrumento para atingir este objetivo, esta transformação, é o diálogo, a Democracia.
Os radicais e incendiários, aqueles que se apegam a retórica populista devem ser isolados e superados. Construtores de consensos e os defensores da reflexão substantiva prevalecerem. Este episódio demonstrou que isso é possível, é o único caminho.
Luiz Carlos Azedo, jornalista do Correio Brasiliense, escreveu: “Ontem vivemos uma inflexão no processo de confrontação que havia se instalado entre o Executivo e o Legislativo, um momento de afirmação da nossa democracia e do Congresso”. Lembrou ainda: “Congresso, que havia perdido o papel de mediador dos conflitos da sociedade, resgata esse protagonismo e se assenhora cada vez mais da grande política, como é o caso agora da reforma da Previdência”.
Destaco, ainda, o comando decidido e ponderado de Rodrigo Maia que liderou para que avançássemos, para que todos se irmanassem no fortalecimento das nossas instituições.
Fazer as reformas. Retomar o crescimento. Para isso, a política é a esperança. O caminho para superar os desafios e nos afirmarmos como Nação.
A boa política!
Arnaldo Jardim é deputado federal pelo Cidadania-SP
Bruno Boghossian: Medidas amargas serão teste de popularidade para Bolsonaro
Por quase cinco anos, o Brasil adiou o ajuste de suas contas por razões políticas. Dilma Rousseff escondeu o rombo nos cofres do governo para garantir um segundo mandato. Michel Temer tentou, mas não conseguiu convencer sua base aliada a abraçar uma reforma da Previdência às vésperas de um ano eleitoral.
Jair Bolsonaro será obrigado a enfrentar um teste de popularidade logo na largada. A agenda econômica que serviu de pilar para sua campanha é sabidamente amarga e precisará ser apresentada o quanto antes.
A mudança no sistema de aposentadorias é um assunto especialmente incômodo. Nas últimas semanas, o próprio presidente eleito deu sinais de hesitação diante de medidas que podem ser dolorosas. “É complicado, mas você tem de ter o coração nessa reforma também. Não são apenas números”, disse, há três dias.
O equilíbrio entre ajuste fiscal e popularidade depende de certa habilidade política. No fim dos anos 1990, o professor Kurt Weyland estudou o sucesso de reformas neoliberais implementadas em países da América Latina, comparando duas hipóteses que poderiam explicar o apoio àqueles remédios amargos.
A primeira sugeria que governos poderiam criar benefícios sociais direcionados às classes afetadas pelas medidas de arrocho. A outra sustentava que os ajustes só conseguem respaldo da população quando a economia está em crise profunda.
Ao analisar seis países, Weyland afirmou que o segundo conceito, batizado de teoria do resgate, explica o apoio inicial às reformas. Depois que a economia se estabiliza, as recompensas da primeira hipótese ajudam a consolidar o aperto.
Em outras palavras, alguns presidentes tiveram sucesso em convencer os eleitores de que as coisas podem piorar um pouco antes de melhorar. Em um Brasil com 13 milhões de desempregados, a justificativa deve pegar mal, mas pode funcionar.
Míriam Leitão: Como acabar com o vermelho
Déficit este ano deve ser R$ 40 bilhões menor, ainda assim, não será fácil para o próximo governo acabar com o vermelho nas contas públicas
O governo Jair Bolsonaro vai assumir tendo que enfrentar um vermelho forte nas contas públicas, o ajuste que precisa ser feito é de quatro pontos do PIB ou R $300 bilhões. O espaço para corte de gastos existe, mas é pequeno. Haverá uma boa notícia, de certa forma, a atual administração deve terminar o ano comum déficit de R $120 bilhões, que é R $40 bilhões menor do que está previsto no Orçamento. Se a nova equipe quiser dar um sinal bom e realista poderias e comprometerem levar para R $100 bilhões. Mas o programa prometeu acabar como vermelho em um ano. Isso é mais difícil.
A análise detalhada das armas para vencer o vermelho, que se espalhou nas contas públicas a partir de 2014, mostra um caminho penoso. Nada mudará de cor apenas porque o governo será outro.
O economista Paulo Guedes falou durante a campanha que havia mais dinheiro do que se imagina em alguns lugares e deu exemplos.
Um deles é a privatização, mas agora as empresas que poderiam dar bons ganhos saíram da lista. O Orçamento do ano que vem prevê R$ 12 bilhões de receita com a venda das ações da Eletrobras, mas até isso o presidente eleito Jair Bolsonaro já disse que não fará. Bolsonaro fará o oposto do que quer: aumentará o vermelho, que já é bem tinto. Assim, se não vender a estatal, terá que cortar em outras despesas bem no começo do ano.
Outra ideia que o economista Paulo Guedes chegou a mencionar como arma contra o vermelho não vai funcionar: a devolução de parte do dinheiro que foi transferido para o BNDES. A devolução está sendo feita, isso é bom e uma parte virá no ano que vem. O problema é que o dinheiro só pode ser usado para abatimento da dívida. Isso ajuda indiretamente, e tem que ser mesmo a meta, mas não é arma para reduzir o vermelho no Orçamento.
Há uma grande expectativa em torno do leilão do excedente da cessão onerosa. Um mega leilão de 9 bilhões de barris. Coisa grande mesmo, que pode arrecadar R$ 100 bilhões. Porém —e os recém-chegados vão logo descobrir que há muitos poréns na luta contra os vermelhos — o TCU pode decidir que o leilão não seja feito na forma de concessão. O TCU tem entendido que qualquer área próxima de um campo que já foi licitado pelo regime de partilha tem que ser pelo mesmo regime. Pode parecer meio extraterreno esse argumento, mas foi assim no campo de Saturno. Sendo por partilha, reduz muito o ganho inicial. Qualquer que seja o regime, esse tipo de receita, extraordinária, na melhor das hipóteses vence o vermelho temporariamente. Para realmente atacar o vermelho será preciso fazer reformas mais permanentes.
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse ontem, nas suas diversas entrevistas, que tentará aprovar este ano a reforma da Previdência. Mas em parte. Não disse qual. O futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, é contra quase todas as partes da atual reforma. De qualquer maneira, se fosse aprovada este ano na Câmara teria que ir ao Senado. E se tudo for aprovado terá pouco ganho de curto prazo. Mas, de fato, a reforma da Previdência é uma grande arma contra o vermelho de longo prazo.
Outra ideia que foi pensada no QG do novo presidente é a de reduzir o abono salarial para os que ganham um salário mínimo. Isso pode reduzir o gasto em R$ 20 bilhões por ano, mas se for aprovado no ano que vem só valerá em 2020 porque o que é pago num ano é o devido do ano anterior. Ou seja, o de 2019 já está garantido.
E cortar despesas pura e simples? Tesoura afiada nos gastos? Bom, o total do que o governo pode mexer é um percentual cada vez menor, como se sabe. O resto é despesa obrigatória. Tem uma ideia que fez muito sucesso na campanha eleitoral em todos os programas: acabar, ou diminuir, as renúncias tributárias. É difícil e dá muita dor de cabeça. Temer tentou acabar com o subsídio ao IPI de xarope de refrigerantes na Zona Franca de Manaus, que custa R$ 1,6 bilhão. Cortou e teve que recuar. Vai cair, mas mais devagar. O maior custo nessa lista é o Simples. Bolsonaro comprará essa briga?
Acabar com o vermelho —das contas públicas —é importante e beneficiaria o país. Mas é preciso um plano inteligente, uma estratégia de longo prazo, e operações táticas para desarmar as bombas fiscais que vão sendo armadas pelo fogo amigo no Congresso.
Felipe Salto e Gabriel Barros: Data marcada com a maioridade
O resultado das contas públicas de 2017 reacendeu o debate sobre o real tamanho do problema fiscal. Quão importante continua a ser a contenção das despesas obrigatórias (como salários, previdência e subsídios) e elevação da arrecadação tributária?
Ainda que os números do ano passado tenham surpreendido positivamente, o quadro continua bastante desafiador. O déficit recorrente, livre de efeitos extraordinários ou temporários, recuou de quase 3,5% do PIB em 2016, para cerca de 3% do PIB em 2017, desequilíbrio ainda bastante substancial. Em 2017, o volume de receitas atípicas alcançou mais de R$ 90 bilhões. O objetivo de avançar em torno da consolidação fiscal de médio e longo prazo ainda precisa ser alcançado.
Na Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado Federal, revisamos para melhor as projeções macroeconômicas e fiscais em resposta à conjuntura mais favorável. O PIB deverá crescer 2,7%, em 2018, ante taxa de 2,3%, no cenário apresentado em outubro de 2017. Para o médio prazo, as projeções de crescimento também melhoraram. Dados de maior frequência, como a produção industrial e o índice de atividade econômica do Banco Central, ambos crescendo entre 1,5% e 2%, na ótica mensal, reforçam os sinais da recuperação cíclica. O mercado de trabalho, com maior defasagem, também se recupera, ainda que de forma lenta e gradativa.
Dada a sensibilidade da arrecadação ao crescimento econômico, revisado para melhor, as expectativas para a dinâmica das receitas também avançaram e, na presença do teto de gastos, deverão contribuir para a recuperação do primário. Receitas petrolíferas também tiveram destacada influência nessa dinâmica. A virada de déficit para superávit - que, no cenário de outubro do ano passado, ocorreria apenas em 2024 - foi antecipada para 2023.
Os melhores resultados e expectativas para a atividade econômica, o mercado de trabalho e o resultado primário afetaram positivamente a dinâmica da dívida pública. A trajetória mais benigna para os juros também contribuiu, assim como as devoluções de recursos do BNDES para o Tesouro Nacional, esperadas em R$ 130 bilhões para este ano. Dos R$ 450 bilhões destinados ao banco público, de 2008 a 2014, foram devolvidos R$ 100 bilhões em 2016 e R$ 50 bilhões em 2017. Com a expectativa de nova devolução este ano, os pagamentos antecipados alcançarão R$ 280 bilhões ou cerca de 60% dos aportes feitos anteriormente.
A dívida bruta (isto é, sem descontar ativos do governo, como, por exemplo, as reservas internacionais), passará de 74,5% do PIB (final de 2017) para um pico de 86,6% do PIB (2023), caindo então lentamente para o nível de 76,7% até 2030. No cenário anterior, que não levava em conta as devoluções do BNDES, os números eram piores: o pico da dívida chegaria a 93,5% em 2025 para só então iniciar gradativo movimento de queda.
Essa mudança nos cenários é, sem dúvida, positiva. A redução da velocidade da dívida, todavia, não altera sua dinâmica de alta prevista para os próximos anos. No cenário pessimista, a trajetória poderia superar o limite de 100% do PIB em 2023. Ambos os cenários pressupõem o cumprimento do teto de gastos.
Um ponto importante nas simulações para o resultado fiscal é a sensibilidade das receitas à atividade (a chamada elasticidade). No período pós-2008, onde a frequência e magnitude de receitas atípicas, elevações de alíquotas e desonerações tributárias ganharam relevo, os exercícios apontam elasticidade mais reduzida e em torno de um, ante valores acima da unidade para períodos mais longos. A menor resposta da arrecadação ao impulso do crescimento econômico afeta a velocidade de recuperação das contas públicas.
A combinação de um déficit recorrente em torno de 3% do PIB, em 2017, com uma carga tributária de aproximadamente 32% do PIB (ante cerca de 26% há 20 anos), diz muito sobre a magnitude do desajuste das contas públicas, que afeta tanto o governo central quanto os subnacionais. Tomando as duas últimas décadas, o déficit recorrente é o maior já registrado na história fiscal do país.
Não obstante o tamanho do ajuste requerido para equacionar o desequilíbrio fiscal, de 4 a 5 pontos do PIB, há um congestionamento dessa agenda já em 2019. De acordo com as nossas projeções, é possível que no primeiro ano do próximo ciclo político-eleitoral a margem fiscal disponível para cortes de despesas no curto prazo seja muito reduzida, inferior a R$ 20 bilhões. Em 2020, na ausência de reavaliações mais profundas no gasto obrigatório, o grau de liberdade seria nulo. O risco, portanto, de restrições em torno do funcionamento da máquina pública (o chamado shutdown) é elevado.
Também em 2019, será preciso definir a regra de correção para o salário mínimo que vigorará a partir de 2020. A indexação de vários benefícios ao salário mínimo gera rigidez em parte substancial do gasto público: 65% dos benefícios previdenciários e 100% dos assistenciais, assim como o abono salarial. A regra de reajuste terá de levar em conta o teto para os gastos públicos. Tais mudanças devem ainda observar a necessidade de cumprimento da chamada regra de ouro das finanças públicas, que permite endividamento apenas para realização de investimentos.
O cenário para 2019, assim, reserva grandes desafios para o processo de consolidação fiscal. Será preciso promover uma profunda atualização de todo o arcabouço fiscal, de forma harmônica e integrada. Afinal, desde a regulamentação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, já se passaram 18 anos.
O Brasil mudou muito nesse período, assim como o resto do mundo. Houve avanços importantes durante esse período - sociais, político-institucionais e econômicos -, mas ainda há uma ampla agenda que deve ser enfrentada e vencida para que o país consiga sair da armadilha da renda média.
Nosso bônus demográfico está bem perto do fim, as condições de competição global têm se intensificado, sobretudo diante da denominada 4ª revolução industrial, cuja base é intensiva em educação, ciência e tecnologia. Para competir nesse novo cenário global, o país terá ainda que superar os gargalos de infraestrutura, aperfeiçoar a regulação econômica e o ambiente de negócios, bem como avançar na simplificação tributária.
Se vamos ter sucesso ou não só o tempo dirá, mas é inegável que a data marcada para atingir a maioridade está muito próxima.
* Felipe Salto é diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado Federal./ Gabriel Barros é diretor da IFI.
Rogério Furquim Werneck: A economia em novo turbilhão político
O esforço de manter as contas públicas sob relativo controle está fadado a ser extraordinariamente desgastante
Sobram razões para comemorar as evidências de que, afinal, a economia brasileira está deixando para trás o longo e penoso processo recessivo em que esteve metida desde o segundo trimestre de 2014, o último ano do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Por incipiente que seja, a expansão da economia traz de volta a esperança de uma retomada mais vigorosa do crescimento, da redução do desemprego, da recuperação da arrecadação e de uma trajetória menos assustadora de agravamento do endividamento público. Na difícil quadra que o país atravessa, não é pouco.
O que há de novo é que o consumo voltou a se expandir. Na esteira da liberação dos saldos das contas inativas do FGTS e dos efeitos diretos da redução da inflação e da queda do desemprego sobre o consumo, vêm-se somando efeitos indiretos importantes, à medida que quem temia perder o emprego começa a se permitir padrões menos austeros de consumo.
Não chega a ser surpreendente que o investimento ainda continue em queda, entravado por níveis muito elevados de capacidade ociosa, pela falta de aparatos regulatórios confiáveis para desenvolvimento de projetos de infraestrutura e, especialmente, pela alta incerteza sobre que rumo tomará o país na encruzilhada eleitoral do ano que vem. Por ora, é o consumo e, em menor escala, as exportações que deverão continuar a dar tração à recuperação paulatina do nível de atividade.
Será muito bom se a complexa disputa presidencial de 2018 puder ser travada contra o pano de fundo de uma economia em retomada, que dê credibilidade à aposta em plataformas eleitorais mais consequentes, que possam voltar a abrir à sociedade brasileira a perspectiva de um novo ciclo duradouro de prosperidade.
Preservar a credibilidade dessa aposta é o grande desafio que a equipe econômica do governo terá pela frente até as eleições de outubro. Fácil não será. O esforço de manter as contas públicas sob relativo controle está fadado a ser extraordinariamente desgastante. Não bastasse o desgaste do relaxamento das metas fiscais de 2017 e 2018, a Fazenda vai se dando conta de que, dificilmente, conseguirá cumprir as novas metas, mesmo que persista no rigoroso esforço de contenção dos gastos não obrigatórios, sob protestos cada vez mais acirrados das mais diversas áreas afetadas.
Resistir às pressões por relaxamento do controle fiscal ao longo do ano eleitoral, sem garantia de respaldo inequívoco do Palácio do Planalto, promete ser uma agenda especialmente difícil.
Pelo menos era assim que o quadro se afigurava no início da semana, antes de vir a público outra rocambolesca reviravolta no já inverossímil enredo das delações premiadas dos irmãos Batista.
O constrangedor revés enfrentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) foi pronta e ostensivamente comemorado pelo Planalto e por boa parte do Congresso. Houve até quem se apressasse a anunciar que, por vias tortas, a PGR conseguira, da noite para o dia, o que o governo já tinha dado como missão impossível: reverter a fragilização do presidente e remontar uma base governista coesa no Congresso.
Mas o entusiasmo inicial do Planalto foi logo empanado, já na terça-feira, pela notícia de que a Polícia Federal encontrara mais de R$ 50 milhões em dinheiro vivo em um apartamento, em Salvador, emprestado a Geddel Vieira Lima, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo.
Para completar a complexidade do quadro político, ainda na terça-feira, a PGR apresentou denúncia, por formação de organização criminosa, contra o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff e os ex-ministros Antonio Palocci, Guido Mantega, Paulo Bernardo, Edinho Silva e Gleisi Hoffmann. Denúncia que ganhou muita força, já no dia seguinte, com o bombástico depoimento de Palocci ao Juiz Sérgio Moro.
Em meio à densa nuvem de poeira levantada por esse turbilhão, Brasília entrou na vilegiatura do feriadão de 7 de setembro, deixando o país mais uma vez atônito, tentando vislumbrar em que medida tudo isso deverá afetar a difícil travessia que tem pela frente, até as eleições de 2018.
* Rogério Furquim Werneck é economista e professor da PUC-Rio
Julianna Sofia: Pacote de maldades para servidor pode gerar onda de greves
O governo de Michel Temer não quis ver o que analistas do mercado financeiro e economistas davam como favas contadas desde o início de 2017. Com a economia em marcha à ré e o excesso de desonerações tributárias, as receitas da União estavam superestimadas, e o cumprimento da meta de deficit fiscal de R$ 139 bilhões neste ano seria missão impossível.
O Palácio do Planalto tapou o sol com a peneira ao endossar, em meados de 2016, negociações salariais com o funcionalismo feitas pela gestão dilmista. Preferiu fechar os olhos para o impacto sobre o Tesouro a comprar briga com as corporações naquele momento. O discurso era que precisava honrar acordos, e os novos gastos caberiam na conta.
A gestão peemedebista parece não ver que é ilimitada a voracidade de sua base de apoio parlamentar. Não importam os cargos e os bilhões em emendas liberadas, haverá sempre uma pauta-bomba para ser jogada no colo do Executivo.
Assim, a medida provisória da reoneração e a do novo Refis —tão caras ao ajuste fiscal— podem virar pó nas mãos de aliados descontentes. Até mesmo a MP do Funrural, já repleta de benesses a ruralistas e de pesado custo, pode transmutar-se em algo pior no Congresso.
Por lá também não passa, e só Temer não enxerga, aumento de imposto para o andar de cima. Tributar lucros e dividendos ou elevar Imposto de Renda de quem ganham mais de R$ 20 mil, nem pensar.
Temer não anteviu que a tesoura afiada nas despesas poderia paralisar a máquina pública. Não previu sequer que a boa notícia da queda acelerada da inflação poderia frustrar as receitas federais neste ano.
Na segunda (14), o presidente deve anunciar rombos maiores nas contas de 2017 e 2018. Junto, um pacote de maldades para servidores: congelamento de salários, redução de vencimento inicial e corte em benefícios, como auxílio-moradia.
Já dá pra ver greve no horizonte.
* Julianna Sofia é jornalista, secretária de Redação da sucursal da Folha em Brasília.
‘Nosso vício é a dependência do Estado’
Entrevista com André Lara Resende, economista
Alexa Salomão, O Estado de S.Paulo
Para economista, maior problema do País não é inflação, mas a incapacidade de equilibrar as contas públicas
No início do ano, o economista André Lara Resende levantou uma polêmica em torno da relação entre taxa de juros e inflação. A regra prega que juro alto é como a Novalgina: um remédio eficiente para baixar a inflação. Mas o artigo de Lara ia contra esse princípio: taxas de juro altas por muito tempo - como ocorre no Brasil - teriam o efeito inverso e sustentariam a inflação. E mais: a taxa de juros não cede porque o Estado gasta demais. Haveria aí um ciclo vicioso.
Nesse contexto, a reforma da Previdência é essencial. Agora, Lara lança o livro Juros, Moeda e Ortodoxia, em que aborda o tema de maneira mais extensa e mantém a posição: “Nosso vício não é a inflação, mas a dependência excessiva de um Estado patrimonialista e incompetente que é levado a se endividar em excesso”.
A seguir, trechos de sua entrevista.
O sr. poderia explicar o princípio de sua teoria sobre juros e inflação que tanta polêmica causou entre os economistas?
Antes de mais nada, não se trata de uma teoria, mas de uma conjectura. A teoria sempre postulou a existência de uma relação inversa entre a taxa de juros e a inflação. Ou seja, que a elevação da taxa de juros reduz a inflação e vice versa. A teoria monetária predominante - que pauta os bancos centrais - está baseada em metas para a inflação e uma regra para a fixação da taxa de juros.
Simplificadamente, se a inflação sobe acima da meta, o banco central deve elevar a taxa de juros mais do que proporcionalmente a aceleração da inflação. É uma espécie de regra de bolso, que parece funcionar na prática. Acontece que com a ameaça da deflação nos países avançados depois da grande crise financeira de 2007/2008, os bancos centrais se viram impossibilitados de continuar baixando a taxa de juros quando elas chegaram a zero. A teoria levaria a crer que, diante das mãos atadas dos bancos centrais, a deflação se aceleraria. Não foi o que ocorreu. A inflação, assim como a taxa de juros, se estabilizou perto de zero.
E o que isso quer dizer?
Inverte a convencional relação inversa entre a taxa de juros e a inflação. Por isso é tão polêmica. Abre-se a possibilidade de que seja a alta taxa de juros que sustente a inflação. As razões para isso seriam basicamente duas. Primeiro, altas taxas de juros mantidas por longo tempo, sobretudo quando a dívida pública é alta, agravam o desequilíbrio fiscal e levantam dúvidas sobre a solvência a longo prazo do Estado. Segundo, a taxa de juros funcionaria como sinalizador das expectativas de inflação.
O fato de a inflação ter sido tão resistente no início da recessão é um sinal de que talvez essa “conjectura” possa estar acontecendo no Brasil: taxa de juros funciona como sinalizador de inflação?
Sim, é uma possibilidade. Não apenas no Brasil, mas em toda parte hoje, há sinais de que o efeito da recessão e do desemprego sobre a inflação é muito mais fraco do que parecia.
O Brasil, então, no que se refere a inflação é como um alcoólatra: não pode cheirar um copo de álcool que tem recaída?
A inflação não é um vício, mas o sintoma de vícios. Que vícios seriam esses? O principal deles é a incapacidade de garantir o equilíbrio a longo prazo das contas públicas, a tentação permanente de levar o Estado a gastar mais do que ele é capaz de extrair via impostos da sociedade. Nosso vício não é a inflação, mas a dependência de um Estado patrimonialista e incompetente que é levado a se endividar em excesso.
E por que a taxa de juros é tão resistente no Brasil? Desde o Plano Real, nunca foi abaixo de 7%.
Essa é a pergunta que há anos, desde a estabilização do real, tem causado perplexidade e levado os analistas a quebrar a cabeça. A possibilidade de que na raiz da questão esteja um desequilíbrio fiscal estrutural, diante do qual a alta taxa de juros contribua para agravar o problema. É justamente a tese da dominância fiscal.
Mas existe mesmo a chamada “dominância fiscal”: a perda de efeito da taxa de juros sobre o controle da inflação quando o Estado gasta mais do que pode?
Dominância fiscal é uma situação anormal, que se torna tão mais provável quanto mais alta for a percepção da probabilidade de insolvência do Estado e de calote na dívida pública. O Estado brasileiro é muito deficitário, sua dívida como proporção do PIB é alta e cresce rapidamente. Reunimos portanto as condições para o caso de “dominância fiscal”.
“Reunimos” em que sentido? Podemos vir a sofrer dessa anormalidade ou já estamos nela?
Reunimos, no sentido de que as condições para a dominância fiscal estão aí. Se estamos ou não em dominância fiscal é algo que não se pode afirmar categoricamente. Só uma análise aprofundada, a mais longo prazo, pode ajudar a responder à pergunta.
Há uma defesa incondicional da reforma da Previdência para equilibrar as contas e a dívida pública. Qual seria o efeito da reforma sobre os juros?
Como está, o sistema previdenciário é insustentável. O problema não é novo. Quando destacado para estudar a questão no governo FHC, já estava claro que o sistema iria explodir antes de 2020. Algumas modificações foram feitas na idade mínima e chegamos até aqui, mas a queda brusca da taxa de natalidade e o rápido envelhecimento da população tornaram a previdência insustentável. O desequilíbrio é grave e afeta todo o sistema, mas é na Previdência dos funcionários públicos onde a crise é mais aguda. Grande parte do desequilíbrio das contas públicas, sobretudo estaduais e municipais, vem da Previdência dos servidores. Sem dúvida, a aprovação de uma reforma coerente, que garantisse a saúde e a solvência das contas públicas no longo prazo, é fundamental para viabilizar a queda da taxa básica de juros.
Fonte: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nosso-vicio-e-a-dependencia-do-estado,70001846449