Congresso Nacional
RPD 35 || Reportagem especial: Do prenúncio à nova tragédia - Caso Cinemateca confirma descaso com cultura
Incêndio mostra, na prática, reflexos da postura do governo do presidente Jair Bolsonaro com o setor no país
Cleomar Almeida, da equipe da FAP
Dois anos e dez meses separaram o prenúncio do risco de mais descaso com a cultura no Brasil e a tragédia do recente incêndio que destruiu parte da Cinemateca Brasileira, cujos prejuízos, ainda imensuráveis, são alvo de novas investigações do Ministério Público Federal (MPF), em São Paulo. Instituições e representantes do setor cultural cobram a responsabilização do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Em setembro de 2018, ainda candidato à presidência, Bolsonaro sinalizou com seu descaso para a cultura, após o incêndio que atingiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro. “E daí?”, retrucou, na época, ao ser questionado sobre o maior desastre que arruinou o patrimônio científico e histórico do país. “Já está feito, já pegou fogo, quer que eu faça o quê?", respondeu à imprensa.
Depois de 15 dias do mais recente incêndio na história da Cinemateca brasileira, registrado em 29 de julho deste ano, o governo Bolsonaro seguiu na ofensiva. No último mês, anunciou demissões de técnicos da instituição, que preserva o mais rico acervo cinematográfico do país, com mais de 250 mil rolos de filmes e mais de 1 milhão de roteiros, fotos, cartazes e livros relacionados ao cinema. O fogo fez parte do teto do galpão desabar, e o prédio foi interditado.
No entanto, a sede da Cinemateca estava fechada desde agosto de 2020, quando o secretário especial da Cultura, Mário Frias, tomou as chaves do local com escolta policial. Agora, ele tornou-se alvo de uma queixa-crime apresentada pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados por causa do incêndio, que também é investigado pela Polícia Federal.

“O incêndio foi criminoso, não porque tenham botado fogo, mas pelo abandono da Cinemateca, vítima do desejo político de destruição da memória, da criatividade e da crítica. Arquivos de filmes são incendiários na essência de suas materialidades, principalmente de filmes antigos, ainda em nitrato. Deixar a Cinemateca sem funcionários é um grande crime”, disse o escritor e cineasta João Batista de Andrade.
O cineasta ressaltou a “queda brutal nos investimentos culturais”. “No cinema, por exemplo, há milhões de reais paralisados na Ancine, a agência reguladora e financiadora do cinema no Brasil. Enquanto isso muitos filmes em produção estão paralisados e uma infinidade de projetos sem viabilidade previsível. Destruir a cultura é um projeto nefasto de poder. É o que estamos vivendo”, criticou ele.
Cobrança
Em 2020, por exemplo, o MPF cobrou explicações da Secretaria Especial de Cultura sobre a falta de repasses orçamentários à Cinemateca Brasileira. O contrato entre o Ministério da Educação e a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp) chegou a ser suspenso porque o governo não repassou nenhuma parcela dos R$ 12 milhões previstos no orçamento para a entidade gerir o local. Funcionários tiveram salários atrasados.
Diante da gravidade da situação, o MPF ajuizou, em julho do ano passado, ação civil pública e apontou que o grande problema foi a má transição na gestão da Cinemateca, de 2019 para 2020: encerrou-se o contrato de gestão da Acerp sem a União se responsabilizar pela continuidade nos trabalhos técnicos internos da Cinemateca, assumindo-os diretamente ou por outro ente gestor.
Apesar de ter saído acordada em agosto do ano passado, após o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) deferir recurso do MPF, essa transição ainda está sendo implementada pela União. A promessa é de que seja firmado um novo contrato de gestão.
O procurador da República Gustavo Torres Soares avaliou a situação como preocupante e disse que “a Cinemateca Brasileira corre sério e iminente risco de dano irreparável por omissão e abandono do governo federal”, responsável pela manutenção e preservação dela.
“Infelizmente, também é público e notório que, nos últimos anos, em razão da omissão na gestão de bens culturais, históricos e turísticos pelo Poder Público, a sociedade brasileira sofreu a perda de inúmeros bens materiais e imateriais dessa natureza”, destacou o procurador da República.

“Política destruidora”
Professor da Fundação Armando Alvares Penteado e doutor em comunicação pela Escola de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), Martin Cezar Feijó afirmou que “o caso da cinemateca é o mais flagrante de uma política destruidora”. “A cultura representa a diversidade inaceitável para um projeto que se pretende único: autoritarismo”, acentuou.
“A cultura é sempre subversiva. Fazer alusão à queima de livros do nazismo não é desproposital nem retórica. Ela é concreta. Estamos vivendo um desmonte da cultura, da política do audiovisual, da educação e da ciência”, acrescentou o professor.
O secretário de cultura do Governo do Distrito Federal (GDF), Bartolomeu Rodrigues, afirmou que “o desmonte da cultura não é um fenômeno isolado do governo Bolsonaro”. “No governo Bolsonaro, isso ficou mais visível, mais latente. Ele extinguiu o Ministério da Cultura, e organizações importantes estão hoje tecnicamente impossibilitadas de fazer alguma coisa pela cultura nacional”, observou, ao lembrar outros episódios de incêndio na Cinemateca Brasileira.
Antes deste ano, o fogo já atingiu o local pelo menos outras quatro vezes: em 1957, 1969, 1982 e 2016, sempre perdendo entre 1.000 e 2.000 fitas em cada. No primeiro, quase todo o acervo foi perdido. O MPF e a Polícia Federal ainda não finalizaram o levantamento exato do estrago provocado pelo incêndio neste ano na cinemateca.
A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos nos próximos meses. Depois disso, o MPF vai analisar se pedirá à Justiça a responsabilização de possíveis culpados tanto no âmbito cível quanto na esfera criminal.

Governo enfrenta críticas por causa de novo edital
Depois da inércia administrativa que levou ao incêndio na Cinemateca Brasileira, o governo federal lançou edital para contratação de organização social habilitada a gerir o local que tem o maior acervo cinematográfico do país, pelo valor de R$ 10 milhões anuais. A Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA) diz que o valor é menos do que a metade do necessário.
Presidente da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, Débora Butruce já se manifesta há anos contra o valor reservado no orçamento do governo para manter as atividades. Segundo ela, o montante adequado para executar bem todas as atividades no local é de R$22,5 milhões.
As propostas poderão ser enviadas até o próximo dia 16, mas a publicação do resultado definitivo está prevista para 18 de novembro. A Comissão Técnica é composta por servidores da Secretaria Especial de Cultura, da Secretaria Nacional do Audiovisual, da Agência Nacional do Cinema e do Instituto Brasileiro de Museus, designados pela Secretaria Executiva do Ministério do Turismo.
Em 2020, o governo já havia sofrido críticas após lançar proposta com valor de R$ 12 milhões anuais para a Cinemateca Brasileira. "Esse edital feito a toque de caixa nos dá medo. Quem vai assumir isso aqui?", disse a pesquisadora Eloá Chouzal, uma das organizadoras de manifestações em favor da cinemateca.
Em maio daquele ano, a direção da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), que já chegou a ter repasses atrasados por parte do governo pela gestão da cinemateca, chegou à secretaria para tentar negociar um novo contrato, em meio a um quebra-cabeças que colocou o local como moeda de troca em mesa de negociações.
Naquela época, a direção da Cinemateca foi prometida pelo presidente Jair Bolsonaro a Regina Duarte após sua demissão da Secretaria Especial da Cultura. A então secretária sofreu semanas de fritura antes de ser demitida depois de ficar menos de três meses no cargo.
A saída de Regina foi costurada pela deputada federal Carla Zambelli, que chegou a dizer que a nomeação da atriz para a Cinemateca dependeria só de questões burocráticas.
Com a hipótese de rompimento do contrato de gestão atual e a falta de recursos e de um plano para a Cinemateca por parte da secretaria, o cargo prometido a Regina tem se revelado cada vez mais incerto.

* Cleomar Almeida é graduado em jornalismo, produziu conteúdo para Folha de S. Paulo, El País, Estadão e Revista Ensino Superior, como colaborador, além de ter sido repórter e colunista do O Popular (Goiânia). Recebeu menção honrosa do 34° Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos e venceu prêmios de jornalismo de instituições como TRT, OAB, Detran e UFG. Atualmente, é coordenador de publicações da FAP.
RPD 35 || Antonio Carlos de Medeiros: O Congresso Nacional sob escrutínio
Varejo político desvirtua o papel da Câmara, que não representa adequadamente o povo. Senado falha em atuar na representação dos Estados
A sociedade brasileira mantém avaliação negativa dos políticos e do Congresso Nacional. O acordo político do governo Bolsonaro com o Centrão estimulou o protagonismo do Congresso. Mas contribuiu para a avaliação negativa dos políticos. O acordo resultou no aumento vertiginoso das emendas de parlamentares e dos fundos partidário e eleitoral.
Tudo somado, o Orçamento da União de 2022 destinará em torno de R$ 40 bilhões aos partidos e aos parlamentares. A sociedade reage. E joga, outra vez, luz sobre o desempenho e a imagem do Congresso. O que esperar do Congresso? A crise ética ainda é resultante da nossa herança patrimonialista? Nosso sistema híbrido de governo - presidencialista-parlamentarista - se exauriu? O pacto social da Constituição de 1988 chegou ao fim?
A questão central é que nem a Câmara Federal representa adequadamente o povo, nem o Senado da República opera bem para representar o território, isto é, os Estados. Os deputados federais viraram “vereadores federais”. E os senadores, ao deixarem de ter papel apenas revisor, tornaram-se um misto de deputados e vereadores. As funções precípuas da Câmara e do Senado estão apequenadas e desvirtuadas. Embora eles tenham muito poder, o varejo político desorganiza a possibilidade de atuação estratégica e efetiva. Predomina a pequena política do clientelismo, do corporativismo, do varejo, dos arranjos, e tudo mais que a opinião pública condena. Tudo funciona para a manutenção e renovação dos mandatos dos parlamentares. Pouco de grande política. Muito da pequena política. São necessárias reformas políticas que resgatem o papel da Câmara como representante direta dos cidadãos e o papel do Senado como casa revisora representante dos Estados.
O Senado trabalha como se fosse uma Câmara dos Deputados. Já a Câmara, como fruto das anomalias criadas pelo Pacote de abril de 1977 e pela Constituição de 1988, teve o número de vagas para Estados com população pequena inflados artificialmente. Criou-se um problema estrutural de superrepresentação dos estados menores e subrepresentação dos estados maiores. O Pacote reduziu o poder político de São Paulo e dos estados mais urbanizados. Alvejou a democracia representativa.
As reformas políticas que estão em pauta não vão contribuir para o resgate do Congresso Nacional. São retrocessos democráticos. As questões que precisam ser atacadas são de outra natureza – começando pelo sistema híbrido de governo. O resgate da dimensão republicana da democracia brasileira requer reformas que promovam legitimidade na delegação e consensualidade no exercício do poder. Com a atual forma de funcionamento do Congresso, não se produz nem legitimidade da representação política (os políticos eleitos), nem consensualidade no exercício do poder (governança).
Sem incorrer num panpoliticismo que pretenda forjar a realidade à base de “golpes de lei”, é necessário desencadear uma seqüência de mudanças institucionais articuladas entre si, para resgatar o papel do Congresso e fazer avançar a democracia brasileira. Seguem, aqui, de forma esquemática e como contribuição ao debate, algumas propostas factíveis.
Primeiro, enquanto se discute se o Brasil vai ou não implantar o sistema distrital misto, é possível melhorar a representatividade do sistema eleitoral brasileiro pela simples alteração do sistema de redistribuição de sobras, mudando-se do sistema D´Hondt para o sistema Saint-League, caso as coligações voltem a ser permitidas. O Saint-League aumenta o denominador do cálculo da distribuição de sobras, estimulando os pequenos partidos a concorrerem sozinhos às eleições.
Segundo, a melhoria da representatividade passa também pela adequada representação dos estados. Isto pode acontecer se a redistribuição do número de vagas destinadas a cada estado na Câmara Federal devolver o valor do índice de Gini ao patamar de 1950, ou seja, à escala próxima ao intervalo entre .24 e .35. Isto tornaria mais proporcional e legítima a formação da Câmara Federal.
Simulei que limites mínimos e máximos de seis e 70 deputados por estado, respectivamente, permitiriam melhor equilíbrio, assumindo a proposta original da Comissão Afonso Arinos na Constituinte de 1988, que reduzia para 420 o total de deputados na Câmara. Com esses dados, chega-se a um índice de Gini de .3347.
Terceiro, é necessário promover a limpeza da pauta de problemas da Câmara Federal, retirando matérias regionais típicas de assembléias legislativas estaduais, desde que não se fira o princípio federalista. Isto pode ser feito por iniciativas infraconstitucionais e permitiriam a melhoria da qualidade da ação dos congressistas.
Por último, é importante repaginar o formato do bicameralismo brasileiro, para a recuperação do equilíbrio bicameral. As regras atuais tornam o Senado uma Câmara de Deputados, deixando de ser apenas uma casa revisora e representante do território, e não do povo.
O Congresso Nacional não cumpre bem as três grandes funções dos Parlamentos na democracia representativa: a iniciativa de leis; a fiscalização do Executivo; e a formação e renovação de elites e lideranças políticas. Esta baixa relevância, apesar seu poder atual, é disruptiva para a democracia brasileira.
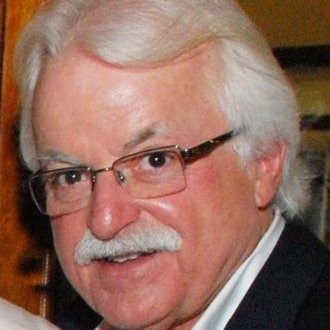
* Antonio Carlos de Medeiros é pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science.
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de setembro (35ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.
RPD 35 || Henrique Brandão: Giocondo, um comunista abnegado e gentil
Documentário sobre o histórico militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), de Vladimir Carvalho, já está à disposição do grande público no NOW, da NET
Já se encontra disponível no Now o documentário “Giocondo - O Ilustre clandestino”, do veterano cineasta Vladimir Carvalho, um dos mais representativos documentaristas brasileiros. Narra a vida de Giocondo Dias, histórico militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB).
O filme mostra a participação de Giocondo em momentos decisivos da política dos comunistas: o levante militar de 1935, no Rio Grande do Norte, do qual foi o principal líder; o breve período da legalidade pós-Segunda Guerra (1945/47), quando o PCB elegeu 14 deputados federais e um senador (Luiz Carlos Prestes); a luta contra a ditadura e a política de frente democrática contra o regime militar fascista, em divergência com as forças de esquerda que defendiam a resistência armada; a campanha pela legalidade do PCB, nos anos de 1980.
A trajetória de Giocondo se confunde com a própria história do velho Partidão. Cabo Dias, como era conhecido por sua patente militar, viveu a maior parte da existência na clandestinidade, a serviço da causa em que acreditava. Não é para qualquer um. É preciso a fibra dos fortes e a abnegação dos convictos para suportar durante tanto tempo as privações de uma vida clandestina.
Segundo o diretor Vladimir Carvalho, o documentário levou dois anos para ser realizado: “assumi a produção desse filme e fiquei dois anos ralando. É um perfil em segunda-mão, porque é visto pelos raros contemporâneos do Giocondo Dias”, disse o cineasta, em entrevista para a “Agência Brasília”, em 2019, quando o longa foi exibido no encerramento do Festival de Brasília.
De fato, o filme se vale muito do depoimento de quem conviveu com Giocondo. E isso tem uma razão de ser. Cuidadoso, sempre atuando com extrema discrição, é natural que não exista quase nada de imagens de arquivos dos tempos em que Giocondo atuava na clandestinidade.

É por meio de um mosaico de entrevistas com ex-companheiros de organização que emerge a figura de um dedicado militante comunista, rígido nas normas de segurança, mas doce e gentil no convívio pessoal.
Em um emocionado depoimento, sua filha, Ana Maria Dias, fala dos encontros esporádicos com o pai, sempre cercados de extrema cautela para não comprometer a segurança. Uma situação difícil para os dois. Não é fácil abdicar do convívio familiar.
Dois momentos se destacam no documentário: o primeiro é o perfil que Jorge Amado faz de Giocondo no livro “Navegação de Cabotagem”, onde o trata por Neném – apelido cunhado pela mãe de Giocondo – do tempo em que ambos, nascidos na Bahia, agitavam as ruas de Salvador. É uma narrativa carinhosa. Jorge Amado revela que um dos personagens de seu romance, “Tenda dos Milagres”, foi inspirado no amigo comunista: “o coloquei em uma tribuna de comício durante a guerra, falando em nome dos trabalhadores”.
O outro trecho marcante do filme é a descrição, em detalhes, da retirada clandestina, no auge da ditadura militar, de Giocondo do Brasil. Prestes já estava em Moscou desde o início dos anos de 1970. O cerco da repressão havia apertado sobre os dirigentes do PCB. Muitos, inclusive, caíram e até hoje estão desaparecidos.
Por sugestão de José Salles (membro do Comitê Central), que se encontrava na União Soviética, montou-se uma complexa operação que envolveu comunistas brasileiros e argentinos, além de dirigentes da antiga URSS. Os depoimentos relatam em minúcias o vai e vem dos procedimentos que acabaram por levar Giocondo a Moscou, em 1976. Em todo o processo, o cabo Dias manteve-se sereno e disciplinado, preocupado com a segurança dos demais envolvidos.
Vários depoimentos expõem as divergências internas, no exílio, entre os membros do Partidão. Nesse cenário, Giocondo se impõe por sua capacidade de dialogar, qualidade destacada por todos. Soube usá-la com maestria, construindo pontes entre as correntes políticas do partido. Acabou sendo um dos formuladores e porta-voz da política de frente ampla democrática que o Partidão preconizou na luta contra a ditadura. Sua habilidade de ouvir os outros terminou por levá-lo à Secretaria-geral do PCB, em substituição a Luiz Carlos Prestes.
“Giocondo – O ilustre desconhecido” é um filme importante, pois ajuda a resgatar uma personalidade política que, por seus traços pessoais avesso aos holofotes, corria o risco de permanecer na penumbra.
O PCB é a mais antiga organização comunista do país. Ano que vem, será o ano de seu centenário. Com certeza, Giocondo Dias será lembrado como uma das figuras decisivas na construção da bela trajetória de lutas dos comunistas.

* Henrique Brandão é jornalista e escritor.
** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de setembro (35ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.
RPD 35 || Editorial: O dia seguinte
Alimentada por declarações sucessivas do Presidente da República e alguns de seus fiéis seguidores, a expectativa do que acontecerá em 7 de setembro domina o debate político. Afinal, cidadãos são convocados para protagonizar um momento de virada, capaz de conduzir os Poderes Legislativo e Judiciário a seus “devidos” lugares. Alguns dos chamados difundidos nas redes sociais apelam, inclusive, para a ruptura institucional, o escape do quadrado da Constituição, se as reivindicações dos manifestantes não forem consideradas.
A radicalização verbal das convocatórias governistas deve ser entendida como uma tentativa desesperada de reverter um cenário completamente desfavorável. A crise econômica e os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito atuam simultaneamente para destruir a aprovação do governo junto ao eleitorado. A progressão da crise e a publicidade das responsabilidades dos governantes sobre ela fortalecem a hipótese de abreviação do mandato presidencial. O Poder Judiciário já montou seu alçapão, cinco inquéritos em curso que podem concluir pela perda de mandato ou pela inelegibilidade do primeiro mandatário. No Poder Legislativo, prevalece, até agora, a opção pela espera, a aposta nas eleições como via preferencial de substituição do governo.
Na verdade, desde os tempos dos trezentos que se revelaram trinta, as manifestações governistas têm demonstrado extrema dificuldade em trazer pessoas para as ruas. O esforço de mobilização, contudo, parece agora mais robusto. Religiosos fundamentalistas, agricultores imediatistas, adoradores das armas de fogo, autoritários de todos os quadrantes dão mostras de estar empenhados em ocupar as ruas no dia sete, principalmente em São Paulo e Brasília.
Avaliar previamente o grau de sucesso que esse movimento pode alcançar é tarefa difícil. No entanto, os indicadores do êxito, na perspectiva dos organizadores são evidentes. Qualquer fatia a mais de manifestantes nas ruas será usada como argumento contrário à queda da popularidade do governo junto ao eleitorado. O número, o volume, o impacto visual das imagens que ocuparão a mídia, portanto, importam.
Importa também, a julgar pelo tom agressivo de algumas das convocatórias, o grau de desordem que a manifestação será capaz de provocar. A relação é direta: quanto maior o tumulto, maior a fragilidade de governadores e dos Poderes alvo da ira dos manifestantes. Mais combustível, portanto, para as demandas de ordem, pela via do fortalecimento dos poderes presidenciais.
A aposta é de alto risco, até porque deixa à vista de todos o custo da permanência do Presidente no cargo até o fim de seu mandato. Cabe às forças do campo democrático persistir na defesa das instituições, no trabalho de convergência, na construção de um acordo amplo em torno da retirada do Presidente pelos caminhos previstos na Constituição, da garantia das eleições de 2022, bem como do respeito a seus resultados.
Há 40 anos, Lei da Anistia preparou caminho para fim da ditadura
Mobilização popular durante o regime militar permitiu o retorno de todos os acusados de crimes políticos no período
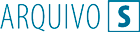
Ricardo Westin / Agência Senado
A Lei da Anistia completou 40 anos hoje. Quando assinou a histórica norma, em 28 de agosto de 1979, o presidente João Baptista Figueiredo concedeu o perdão aos perseguidos políticos (que a ditadura militar chamava de subversivos) e, dessa forma, pavimentou o caminho para a redemocratização do Brasil.
Foram anistiados tanto os que haviam pegado em armas contra o regime quanto os que simplesmente haviam feito críticas públicas aos militares. Graças à lei, exilados e banidos voltaram para o Brasil, clandestinos deixaram de se esconder da polícia, réus tiveram os processos nos tribunais militares anulados, presos foram libertados de presídios e delegacias.
O projeto que deu origem à Lei da Anistia foi redigido pela equipe do general Figueiredo. O Congresso Nacional o discutiu e aprovou em apenas três semanas.
Documentos de 1979 sob a guarda do Arquivo do Senado, em Brasília, mostram que os senadores e deputados da Arena (partido governista) ficaram satisfeitos com a anistia aprovada. O Congresso fez modificações na proposta original, mas nada que chegasse a descaracterizá-la.
— Repetidas vezes afirmou o presidente Figueiredo: “Lugar de brasileiro é no Brasil”. Com a anistia, aquela sentença deixou de ser uma frase para se transformar numa realidade palpitante — comemorou o senador Henrique de la Rocque (Arena-MA). — Maridos, pais, filhos, irmãos, noivos e entes queridos que se encontravam apartados do convívio familiar passaram a ter a oportunidade de retornar aos seus lares e reinaugurar as suas vidas, sem lugar para ódio e desejo de vindita [vingança]. A anistia é o bálsamo que cicatriza feridas.
— Com suas mãos estendidas no sentido da pacificação, o senhor presidente da República demonstrou a sua formação cívica e espiritual e praticou um gesto de grandeza e coragem. Ninguém em sã consciência poderá negar que a autoridade principal do país agiu com obstinação para atender aos anseios da população brasileira — discursou o senador Milton Brandão (Arena-PI).
Os mesmos papéis históricos do Arquivo do Senado indicam, contudo, que a Lei da Anistia não foi tão benevolente quanto os congressistas da Arena quiseram fazer crer. Na avaliação dos perseguidos políticos, de organizações civis e religiosas e dos parlamentares do MDB (único partido de oposição), o projeto aprovado tinha dois problemas graves.
O primeiro era que a anistia era restritiva. A lei negava o perdão aos “terroristas” que tivessem sido condenados de forma definitiva. Eles não poderiam sair da cadeia. Eram qualificados como terroristas os que, em ataque ao regime, haviam sido condenados por crimes como homicídio e sequestro. Contraditoriamente, aqueles que respondessem a processos iguais, mas ainda com possibilidade de apelar a tribunais superiores, ganhariam a anistia.
Durante as discussões do projeto no Congresso, os parlamentares do MDB apresentaram inúmeras emendas para derrubar essa exclusão e garantir uma anistia “ampla, geral e irrestrita”, conforme o slogan que se popularizou na época.
— Trata-se de uma discriminação odiosa e injustificada, uma aberração jurídica — criticou o deputado Alceu Collares (MDB-RS). — Quem enfrentou a justiça excepcional, foi condenado à prisão de 20, 30, 40 ou mais anos e encontra-se cumprindo a sua pena não é anistiado, enquanto quem conseguiu escapar do processo, tendo praticado o mesmo delito, será contemplado com os benefícios da anistia. É uma injustiça para os condenados.
— Anistia é esquecimento, olvido perpétuo. É medida de oportunidade política para começar, com os espíritos desarmados, uma nova marcha para o futuro. Para isso, é preciso a reintegração de todos na vida pública, sem exceção — acrescentou o deputado Marcos Freire (MDB-PE).
— Não há razão para excluir os condenados por terrorismo. Tiradentes era terrorista e subversivo. Hoje, é herói — comparou o deputado José Frejat (MDB-RJ).
Um grupo de deputados do MDB, tentando retirar a exclusão, apelou aos sentimentos familiares do general Figueiredo. Na justificativa de uma emenda coletiva, lembraram que o pai dele, após lutar na Revolução Constitucionalista de 1932, foi anistiado pelo presidente Getúlio Vargas em 1934.
Figueiredo apresentou sua razão para não perdoar os terroristas condenados. Segundo o presidente, o crime deles não era “estritamente político”, mas sim “contra a humanidade, repelido pela comunidade universal”. Quanto aos terroristas ainda apenas processados, que teriam direito ao perdão, ele escreveu numa mensagem remetida ao Congresso:
“O projeto paralisa os processos em curso até dos que, a rigor, não estão a merecer o benefício. Ao fazê-lo, o governo tem em vista evitar que se prolonguem processos que, com certeza e por muito tempo, vão traumatizar a sociedade com o conhecimento de eventos que devem ser sepultados em nome da paz”.
A anistia não foi uma decisão espontânea da ditadura. Organizações da sociedade civil vinham fazendo pressão. Em 1975, mães, mulheres e filhas de presos e desaparecidos criaram o Movimento Feminino pela Anistia. Em 1978, surgiu uma organização maior, o Comitê Brasileiro pela Anistia, com representações em diversos estados e até em Paris, onde viviam muitos dos exilados.
No velório de João Goulart, em 1976, o caixão do presidente derrubado pelo golpe militar de 1964 permaneceu envolto numa bandeira com a palavra “anistia”. Em jogos de futebol, torcedores erguiam faixas com a frase “anistia geral, ampla e irrestrita” para serem captadas pelas câmeras de TV e pelos fotógrafos dos jornais.
O movimento logo ganhou o apoio de entidades influentes, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
A anistia começou a ser gestada pelo antecessor de Figueiredo. Diante da pressão social e dos sinais de que a ditadura, desgastada, não se sustentaria por muito tempo, o general Ernesto Geisel anunciou em 1974 que daria início a uma “lenta, gradativa e segura distensão”, com medidas que permitiriam a redemocratização no futuro. A anistia estava entre essas medidas.
Figueiredo seguiu o plano. O último presidente da ditadura tomou posse em março de 1979 e apresentou o projeto da Lei da Anistia já em junho. Como o Congresso recebeu o texto às vésperas do recesso parlamentar e o presidente da República não autorizou sessões extraordinárias em julho, as discussões legislativas só puderam começar no início de agosto. A aprovação viria a toque de caixa.
Assim que o projeto de lei se tornou público, sem prever a anistia ampla, geral e irrestrita, presos políticos deram início a uma greve de fome em diversos presídios do Brasil, pressionando pela retirada do artigo que os excluía do perdão. Eles ganharam o apoio dos parlamentares do MDB. Um grupo liderado pelo senador Teotônio Vilela (MDB-AL) percorreu várias penitenciárias e se encontrou com os condenados, dando voz ao protesto silencioso que eles faziam.
— A paisagem humana que vi é indescritível — discursou Teotônio após visitar 14 presos políticos do Presídio Frei Caneca, no Rio de Janeiro. — Devo dizer que, com a minha sensibilidade de criatura humana, [fiquei estarrecido] ao tomar conhecimento da debilidade total daqueles presos, em pleno estado de ruína, sacrificados em nome de um ideal, porque ninguém se submete a esse tipo de sacrifício se dentro de si próprio não possuir uma estruturação espiritual superior. São jovens envelhecidos nas grades, alguns com 11 anos de cadeia, e um deles preso aos 16 anos de idade, por conduzir debaixo do braço livros de ideologias políticas. Não é possível que aqueles rapazes morram num deserto, castigados pela inclemência e insensibilidade do poder.
O segundo problema grave que havia na Lei da Anistia, e que os parlamentares do MDB também tentaram derrubar, era o perdão aos militares que cometeram abusos em nome do Estado desde o golpe de 1964, incluindo a tortura e a execução de adversários da ditadura. A lei lhes deu a segurança de que jamais seriam punidos e, mais do que isso, nunca sequer se sentariam no banco dos réus.
Nesse ponto, a lei era propositalmente obscura. Sem citar os militares, dizia que seriam anistiados todos que tivessem cometido “crimes conexos”, isto é, “crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política”. Os agentes da repressão, assim, estariam amparados sob o amplo guarda-chuva dos crimes conexos.
— Pretende-se que as mortes, os choques elétricos, as lesões corporais, as mais variadas torturas sejam esquecidas. Elas foram compreendidas à sorrelfa [sorrateiramente] pelo projeto de anistia, graças ao recurso de termos ambíguos através dos quais se iludiria a nação — denunciou o deputado Pacheco Chaves (MDB-SP).
— Que moral tem o governo que exclui uns sob a alegação de terrorismo, mas que nem sequer submete os torturadores a processo? Estes, sim, jamais serão merecedores da piedade humana, porque, como se sabe, não atuam por valores relevantes, mas sim por servilismo ou para satisfazer instintos — atacou o senador Leite Chaves (MDB-PR).
No esforço de convencer os colegas parlamentares de que anistiar torturadores seria um absurdo, o senador Lázaro Barbosa (MDB-GO) narrou um episódio que ele testemunhara anos antes:
— Eu próprio, estudante na Universidade Católica de Goiás, em certa noite, vi duas moças e um rapaz descendo a Avenida Universitária, os três de braços dados. Ele, quartanista de medicina. As duas, irmãs e acadêmicas do curso de direito. Dois carros os cercaram, e homens armados os empurraram para dentro de um dos veículos, que disparou em altíssima velocidade. Decorridos dois ou três meses, apareceu o acadêmico de medicina. Estivera preso nos órgãos de repressão, mas contra ele nada foi apurado. Um ano e meio depois, as irmãs foram localizadas presas em Minas Gerais e em estado lastimável. As duas foram violentadas, torturadas. Uma delas sofreu torturas de tal monta, inclusive choques elétricos nos órgãos genitais internos, que se tornou o espectro de si mesma. Em julgamento, foram as duas absolvidas.
Barbosa concluiu:
— A meu juízo, esses torturadores não podem receber a anistia, pois dela não são dignos. É imprescindível que tais carrascos tomem assento no banco dos réus e respondam pelas monstruosidades cometidas. Não foram crimes políticos. Foram, isso sim, crimes contra a humanidade.
O projeto teve como relator o deputado Ernani Satyro (Arena-PB). No governo do marechal Costa e Silva, ele havia sido ministro do Superior Tribunal Militar, corte que dava a palavra final sobre o destino dos acusados de crimes políticos. Satyro jogou um balde de água fria nas pretensões do MDB. Ele rejeitou todas as emendas que buscavam incluir na anistia os condenados por terrorismo.
— Os princípios gerais do projeto do governo estão de pé. A anistia será ampla e geral, mas não irrestrita.
O relator também enterrou as tentativas oposicionistas de retirar do alcance do perdão os militares que cometeram abusos contra os perseguidos políticos. Para ele, isso seria contraditório:
— Querem o perdão, mas não perdoam. Gritam pela anistia para os seus, mas apregoam, ao mesmo tempo e incoerentemente, a ideia de uma investigação sobre torturas e violências. Advogam a impunidade dos crimes de seus partidários para que, mais fortes, possam punir a revolução [de 1964].
Dando outra estocada na oposição, Satyro concluiu:
— O doloroso, para muitos, é saber que a anistia virá, mas virá pelas mãos do governo, por iniciativa do presidente João Baptista Figueiredo. Será atendida, assim, a autêntica voz do povo, que aspira à paz e à conciliação. Isso, para os oposicionistas, importa uma grande frustração, como frustrados se encontram pela abertura que está sendo feita pelo governo da revolução.
Em 22 de agosto, os senadores e deputados se reuniram na Câmara para votar o projeto. As galerias estavam repletas de familiares dos perseguidos políticos, que vaiavam os políticos da Arena e aplaudiam os do MDB. A sessão foi tão tensa que quase houve agressão física entre parlamentares.
A pressão popular, porém, não surtiu efeito. No fim, em votação simbólica (sem contagem de votos), a Lei da Anistia foi aprovada do jeito que o governo queria. A Arena, afinal, tinha a maioria dos parlamentares, incluindo os chamados senadores biônicos (escolhidos de forma indireta, não pelo voto dos cidadãos, para evitar a hegemonia do MDB no Senado).
Do lado governista, o senador Jarbas Passarinho (Arena-PA) festejou:
— A anistia marca o fim de um ciclo da Revolução de 64, o fim do ciclo punitivo da Revolução de 64.
Do lado oposicionista, o senador Humberto Lucena (MDB-PB) leu trechos de um artigo de jornal do pensador Tristão de Athayde para protestar:
— Desejávamos uma nova Lei Áurea que anunciasse uma aurora. Deram-nos um ato sem generosidade, sem horizontes abertos. Eu preferiria a temeridade da princesa Isabel. É bem certo que há muita diferença entre 15 anos de arbítrio e 300 de cativeiro. Ora, não existe apenas diferença, e sim um abismo, entre a grandeza da lei de 13 de maio, que fulgirá sempre como um marco luminoso em nossa história pátria, e a estátua pigmeia da Lei da Anistia.
Na votação simbólica final, grande parte do MDB acabou também apoiando o projeto da ditadura. Vanessa Dorneles Schinke, professora de direito da Universidade Federal do Pampa e autora do livro Anistia e Esquecimento (Editora Lumen Juris), explica:
— A oposição concluiu que seria melhor ficar com a anistia do governo do que não ter anistia nenhuma. Aquela não era a anistia ideal, mas a possível. Considerando o contexto político de então, a lei de 1979 não deixou de ser uma vitória para a oposição.












Nos meses seguintes, a própria ditadura libertaria os presos que não haviam sido beneficiados pela Lei da Anistia. Enquanto uns ganharam o indulto do presidente Figueiredo, outros tiveram seus processos revisados pelos tribunais militares.
Se logo em seguida os beneficiaria, por que o governo brigou tanto no Congresso para manter o artigo que excluía os terroristas condenados? Para o historiador Carlos Fico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e autor do livro Além do Golpe (Editora Record), a exclusão deles foi apenas uma cortina de fumaça:
— Não há evidências empíricas definitivas, mas eu, após anos de pesquisas e entrevistas, cheguei à conclusão de que a ditadura pôs essa interdição para encobrir aquilo que realmente desejava, que era a autoanistia. Enquanto todo mundo ficou tentando de todas as formas incluir os condenados pelos “crimes de sangue” na anistia, o perdão aos torturadores ficou em segundo plano e foi aprovado com facilidade.
Seis dias depois da votação no Congresso, Figueiredo sancionou a lei. Nas semanas que se seguiram, inúmeras figuras até então perseguidas desembarcaram no Brasil, entre as quais Leonel Brizola, Miguel Arraes, Luís Carlos Prestes, Francisco Julião, Betinho, Fernando Gabeira, Vladimir Palmeira, Carlos Minc e Paulo Freire.
A volta dos exilados também foi considerada parte de uma estratégia. O governo sabia que muitos desses líderes criariam seus próprios partidos, o que acabaria por pulverizar e enfraquecer a oposição. Por isso, logo depois, ainda em 1979, a ditadura extinguiu a Arena e o MDB e restabeleceu a liberdade partidária. Brizola, por exemplo, fundou o PDT.
A divisão dos adversários permitiu que os militares mantivessem total controle sobre a abertura política. Figueiredo devolveria o poder aos civis em 1985.
Saiba mais:
Documentário da TV Senado sobre a Lei da Anistia
Reportagem e edição: Ricardo Westin Pesquisa histórica: Arquivo do Senado Edição de multimídia: Bernardo Ururahy Edição de fotografia: Pillar Pedreira Pesquisa fotográfica: Ana Volpe e Pillar Pedreira Foto da Capa: Orlando Brito/Arquivo Público do Estado de São Paulo
Colaboração: Arquivo do Senado
Fonte: Agência Senado
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/ha-40-anos-lei-de-anistia-preparou-caminho-para-fim-da-ditadura
Eduardo Sombini: Bolsonaro vive paradoxo entre radicalizar sua base e governar, dizem professores
Retrocesso —esta é a palavra a que mais de 40 autores de uma coletânea recém-lançada recorrem para sintetizar o que aconteceu no Brasil nos dois primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro (sem partido).
No episódio desta semana do Ilustríssima Conversa, o repórter Eduardo Sombini recebe os cientistas políticos Fábio Kerche, professor da Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), e Marjorie Marona, professora da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
Kerche e Marona são organizadores, com o professor da UFMG Leonardo Avritzer, do livro “Governo Bolsonaro: Retrocesso Democrático e Degradação Política”, publicado pela editora Autêntica.
Na conversa, eles discutiram a contradição entre o bolsonarismo como movimento político, que demanda a radicalização do discurso para engajar suas bases, e a construção da governabilidade do presidente, que requer a negociação com outros Poderes e partidos.
Na avaliação dos convidados, Bolsonaro tentou governar contornando o presidencialismo de coalizão —o conceito faz referência à necessidade de os presidentes brasileiros formarem alianças para garantir maioria no Congresso.
Mesmo depois da aproximação com o centrão, Bolsonaro não joga de acordo com essas regras, e a CPI da Covid no Senado sem maioria governista, para eles, é reflexo da transformação do Palácio do Planalto em campo de batalha e da destruição de pontes com outras instituições.
Kerche e Marona também falaram sobre as ameaças do presidente ao Supremo Tribunal Federal e a indicação do ministro Kassio Nunes Marques, a corrosão da autonomia do Ministério Público Federal com a nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, as relações com os militares e as perspectivas para a segunda metade do mandato de Bolsonaro.
As ameaças [do presidente] foram cada vez mais se aproximando de bravatas. Tenho a impressão que Bolsonaro vai conduzir esses últimos dois anos de governo para tentar chegar às eleições de 2022 com alguma condição de se colocar como candidato com uma base social de 20%. Tenho a impressão que isso foi tudo que restou a ele.
Bolsonaro já esteve mais forte no passado, junto aos militares, por exemplo. Acho que as instituições, que estão sob tensão, vão se organizar caso Bolsonaro seja derrotado e a gente vai ter uma transição, com a expectativa de retomar a qualidade da nossa democracia. Acho que quem ganhar a eleição presidencial [de 2022] assume Fábio Kerche.
O Ilustríssima Conversa está disponível nos principais aplicativos, como Apple Podcasts, Spotify e Stitcher. Ouvintes podem assinar gratuitamente o podcast nos aplicativos para receber notificações de novos episódios.
O podcast entrevista, a cada duas semanas, autores de livros de não ficção e intelectuais para discutir suas obras e seus temas de pesquisa.
Já participaram do Ilustríssima Conversa Regina Facchini e Isadora Lins França, organizadoras de coletânea sobre direitos LGBTI+ no Brasil, Alessandra Devulsky, autora de livro sobre racismo e colorismo, Idelber Avelar, que discutiu a ascensão do bolsonarismo, Christian Dunker, psicanalista que reconstituiu a história da depressão, Lira Neto, que narrou a saga dos judeus sefarditas até o Recife, Roberto Simon, autor de livro sobre o apoio da ditadura brasileira ao golpe contra Allende, no Chile, Heloisa Buarque de Hollanda, que situou as principais tendências do pensamento feminista contemporâneo, Ilona Szabó, que discutiu as ameaças à democracia no Brasil, Luiz Simas, que apontou os conflitos do Brasil institucional e da brasilidade, Malu Gaspar, repórter que investigou os escândalos de corrupção e a derrocada da Odebrecht, Flavia Rios, coorganizadora de coletânea da intelectual Lélia Gonzalez, Karla Monteiro, biógrafa do jornalista Samuel Wainer, Vinicius Torres Freire, que tratou de medidas econômicas durante a crise do coronavírus, Muryatan Barbosa, pesquisador da história do pensamento africano, e Júlio Delmanto, autor de livro sobre a história social do LSD no Brasil, entre outros convidados.
A lista completa de episódios está disponível no índice do podcast. O feed RSS é https://folha.libsyn.com/rss.
Fonte:
Folha de S. Paulo
Dorrit Harazim: Joe, Jair e Modi
Esta semana Joseph Robinette Biden Jr. trocou de roupa e de imagem oficial. Sai de cena “Uncle Joe”, a grife caseira do democrata conciliador, afável e algo distraído por ele cultivada ao longo de 4 décadas de vida pública. Esta semana Joe Biden se apresentou perante o Congresso com nova roupagem — a do arrojado visionário 46º presidente dos Estados Unidos — e detalhou como pretende reformatar já no presente a vida da nação sob seu comando. Também descreveu os planos, metas e projetos com que planeja moldar o futuro das gerações seguintes, sem esquivar-se de alocar cifras concretas a cada item do pacotão. Se aprovada na totalidade pelo Senado, o que é pouco provável, sua agenda de resgate da economia, força de trabalho e seguridade familiar custará astronômicos US$ 4,1 trilhões. Mas, mesmo que venha a ser fatiada, a visão de Biden sobre o papel do Estado ficou clara: o Estado deve funcionar como zelador da infraestrutura humana e do bem-estar social. Soou quase revolucionário e revela quanto o mundo está carente de bom senso.
A surpresa com esse Biden arrojado se justifica, uma vez que, durante a campanha eleitoral, ele se apresentara como mero homem de transição capaz de aquietar o país tarja preta que sobrevivera a Donald Trump. Uma vez sentado no Salão Oval, porém, o mandatário de 78 anos e alguns lapsos já fez saber que não exclui tentar a reeleição dentro de quatro anos. Sai de cena o gestor conciliador, como Biden foi retratado enquanto candidato, para dar lugar a quem pretende ser lembrado como líder mundial transformador. Para tanto, mantém algumas características pétreas — é disciplinado, metódico e prefere ficar abaixo do radar para não escorregar.
Na verdade, por mais que Biden queira envergar simultaneamente o manto do New Deal de Franklin D. Roosevelt, da Grande Sociedade de Lyndon Johnson, importar algumas ideias de Barack Obama e outras mais arretadas de Bernie Sanders, bastará que consiga liderar a urgente arrancada ambiental para fazer um governo de dimensão histórica. Sem isso, o restante de sua visão para uma sociedade menos desigual, de maior justiça racial, econômica e jurídica ficará embaçada. Sem isso, até mesmo a espetacular invertida que imprimiu ao combate e controle da Covid-19 nos EUA, por meio de uma vacinação maciça e ordenada, acabará parecendo natural à medida que a vida por lá retomar alguma normalidade. O vírus pode até ressuscitar em novas ondas, mas nada roubará de Biden a gratidão nacional pela tranquilidade vacinal que injetou no país.
Enquanto isso, Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, terão, para sempre, seus nomes e sobrenomes vinculados ao epíteto Covid-19. Ambos se condenaram à morte política e à desgraça histórica por abandonar suas gentes a morrer sem oxigênio. Abatidos feito moscas, aos montes, milhares, centenas de milhares, mal enterrados ou incinerados em piras humanas, pranteados no medo e em silêncio. Na capital indiana, as autoridades florestais tiveram de emitir uma autorização especial para o abate de árvores, pois a lenha dos crematórios acabara. A ativista política e escritora Arundhati Roy publicou no “Guardian” um testemunho pungente da desolação que tomou conta do país. “No lugar mais baixo da mercadagem pela vida”, escreveu Roy, “você suborna o atendente para poder jogar um derradeiro olhar sobre o embrulho que foi sua pessoa amada, agora estocado na morgue hospitalar”. Há quem venda terras ou propriedades, ou junte as últimas rúpias em busca de atendimento em hospital privado — sem garantia de internação, apenas como depósito.
No último Fórum Econômico Mundial, em janeiro, quando Europa e Estados Unidos mergulhavam na segunda mortandade da pandemia, o líder indiano não expressou nenhum sentimento, empatia ou compreensão com a aflição de seus pares. Ao contrário, arrostou soberba. “Amigos”, discursou na ocasião, “convém não comparar a Índia a qualquer outra nação… Abrigamos 18% da população mundial e salvamos a Humanidade de um imenso desastre, pois conseguimos conter o vírus”. Como se sabe, o país, hoje, mais se assemelha a um inferno de 1,4 bilhão de almas errantes, largadas à própria sorte.
No cômputo dos crimes cometidos por mandatários contra seus povos, será difícil elencar a quem ficará reservado o opróbio maior da era Covid-19 — se a Jair Bolsonaro ou Narendra Modi. Por serem filhos de culturas tão diversas, também suas respectivas formas de desprezo pelo bem comum, a índole autoritária, a ignorância, as medidas repressivas, o escárnio pelo outro, se manifestam de formas díspares. Porém ambos comungam da mesma incapacidade de compreender o que aprendemos a chamar de civilização, felicidade, progresso, humanidade.
Não defendem a vida, qualquer espécie de vida, de quem não lhes seja de imediata utilidade. A Covid-19 apenas serviu de oportunidade para isso ficar claro.
Fonte:
O Globo
https://blogs.oglobo.globo.com/opiniao/post/joe-jair-e-modi.html
Nexo: Desigualdade de gênero e raça - O perfil da pobreza na crise
Estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da FEA-USP calcula os efeitos da pandemia sobre os diferentes recortes da população brasileira
Marcelo Roubicek, Nexo
A pandemia do novo coronavírus derrubou a economia brasileira, assim como de outros países. Para dezenas de milhões de brasileiros, a recessão trazida pela crise sanitária significou a perda de boa parte das fontes de renda.
Em março de 2020, o Congresso Nacional articulou o auxílio emergencial, principal política pública adotada durante a pandemia. O auxílio alcançou diretamente quase 68 milhões de beneficiários, e foi pago em nove parcelas: cinco de R$ 600 entre abril e agosto, e quatro de R$ 300 entre setembro e dezembro. O programa foi encerrado na virada do ano.
O auxílio em seu valor mais alto (R$ 600) teve como efeito a diminuição temporária da pobreza a níveis historicamente baixos no Brasil. No entanto, a diminuição e subsequente encerramento do benefício reverteram esse processo – o Brasil voltou a registrar aumentos no nível de pobreza.
61,1 milhões - é o número estimado de pessoas em situação de pobreza no Brasil em 2021, já considerando o novo auxílio emergencial
Em 2021, em meio ao pior momento da pandemia, Congresso e governo negociaram a reedição do auxílio. O novo benefício tem alcance e valores reduzidos. A estimativa é de que serão 45,8 milhões de beneficiários diretos, que receberão pagamentos diretos entre R$ 150 e R$ 375. As parcelas começaram a ser transferidas no início de abril.
Mesmo com o novo auxílio, os dados apontam para um aumento da pobreza e da extrema pobreza no Brasil em relação ao cenário pré-pandêmico. É o que mostra o gráfico abaixo.
TRAJETÓRIA DA POBREZA
Um estudo publicado pelo Made-USP (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da FEA-USP) na quinta-feira (22) calculou como essa pobreza se manifesta nos diferentes grupos de gênero e raça no país.
Metodologia do estudo
O estudo usa como base microdados dados da Pnad Contínua – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) – e da Pnad Covid – edição da mesma pesquisa feita em 2020 especialmente para medir impactos da pandemia.
Para o período pré-pandemia, foram considerados os dados de 2019. Em 2020, há dois recortes: de julho, quando o auxílio emergencial era pago em R$ 600, e outubro, quando o benefício já havia sido reduzido pela metade. Os números de 2021 foram calculados com base em simulações construídas sobre os números do novo auxílio.
Os critérios adotados para identificar pobreza e extrema pobreza foram os mesmos usados pelo Banco Mundial. Nesses parâmetros, US$ 5,50 e US$ 1,90 diários representam as linhas da pobreza da extrema pobreza, respectivamente. Ajustando para o câmbio e para o nível de preços no Brasil, o estudo calcula que as linhas de pobreza e extrema pobreza ficaram respectivamente em R$436 e R$151 mensais em 2020, e em R$469 e R$162 mensais em 2021.
A pobreza por gênero e raça no Brasil
O estudo mostra que, após as duas reduções do auxílio emergencial, o aumento da pobreza e da extrema pobreza no Brasil reproduziu as desigualdades raciais e de gênero que já existiam antes da pandemia.
POBREZA NA PANDEMIA
Antes da pandemia, 33% das mulheres negras estavam abaixo da linha da pobreza. Em 2021, mesmo com auxílio, essa taxa está mais alta, em 38%. A proporção de homens negros abaixo da linha de pobreza fica ligeiramente abaixo desse patamar.
Já entre a população branca, a taxa de pobreza subiu de 15% antes da pandemia para 19% em 2021. Os níveis de pobreza são semelhantes entre homens e mulheres brancas.
Já a extrema pobreza, que atingia 9,2% das mulheres negras em 2019, subiu a 12,3% dessa população, segundo os cálculos do estudo do Made-USP. Para homens brancos, essa taxa foi de 3,4% para 5,5% nesse mesmo intervalo.
EXTREMA POBREZA NA PANDEMIA
Os questionamentos ao novo auxílio
O estudo traz também recomendações de política pública. A principal delas é a extensão do auxílio emergencial até o final da pandemia – os pagamentos estão previstos somente até julho de 2021.
A pesquisa calcula que, sem auxílio emergencial, a taxa de pobreza no Brasil em 2021 iria de 28,9% (já com auxílio) para 31,4%. Já a taxa de extrema pobreza iria de 9,1% a 10,7%. Ou seja, a manutenção do auxílio até o fim da crise sanitária evitaria que a pobreza e extrema pobreza, que já estão em patamares altos, escalassem ainda mais.
Outros estudos publicados sobre o auxílio emergencial em 2021 argumentam que o valor das novas parcelas é insuficiente para dar conta das necessidades da população de baixa renda no pior momento da crise. Mesmo com ajustes ao nível de preços de cada estado brasileiro, o valor médio do benefício – R$ 250 por mês – não é suficiente para cobrir as necessidades básicas da população mais vulnerável.
As desigualdades no mercado de trabalho
O estudo do Made-USP retrata como o aumento da pobreza no Brasil reflete as desigualdades de gênero e raça no país. Um olhar para os dados do IBGE para o mercado de trabalho revela algo similar.
O desemprego está em patamares historicamente altos no Brasil, mas atinge mais a população preta e parda que a população branca – o que reproduz desigualdades anteriores à pandemia. No final de 2019, a taxa de desemprego entre pessoas brancas era de 8,7%; um ano depois, de 11,5%. Já entre a população preta, o desemprego era de 13,5% nos últimos meses de 2019; no final de 2020, era de 17,2%.
DESIGUALDADE RACIAL
Pelo critério de gênero, a distância histórica do desemprego entre homens e mulheres também se manteve forte na pandemia. Entre o fim de 2019 e o fim de 2020, o desemprego entre mulheres foi de 13,1% a 16,4%. Para os homens, o movimento nesse mesmo período foi de 9,2% a 11,9%.
DESIGUALDADE DE GÊNERO
Os dados do IBGE e os cálculos do estudo do Made-USP revelam como os efeitos da pandemia reforçaram desigualdades de gênero e raça no Brasil.
José Serra: Patentes - Um debate do Congresso Nacional
Legislação brasileira sobre o tema deve se alinhar a acordo internacional
Senador da República (PSDB-SP), ex-governador de São Paulo (2007-2010), ex-prefeito de São Paulo (2005-2006) e ex-deputado federal (1987-1991); doutor em economia pela Universidade Cornell (EUA)
Temos dois tipos básicos de leis: as que geram benefícios para a sociedade no curto e longo prazos, e as que impõem uma troca (a sociedade opta por perder agora para ganhar depois). Temos aqui um conflito que exige decisões políticas. Grupos de interesse perdem privilégios assegurados em lei para aumentar o bem-estar social, mas aos poucos a nova legislação passa a ser aceita por todos como legítima.
Conflitos dessa natureza ocorrem com frequência quando se trata de inovação e seu papel econômico e social. Por exemplo, a regulação de combate aos cartéis promove, a um só tempo, crescimento e eficiência. Oligopólios e monopólios tendem a não inovar, e a concorrência promovida pela legislação produz mais eficiência graças ao incentivo à inovação. O fim dos lucros extraordinários permite preços mais baixos, o que incentiva o consumo e, consequentemente, o crescimento econômico.
Leis referentes à exclusividade na exploração de direitos de propriedade intelectual geram uma troca a curto prazo. Para a sociedade obter um nível eficiente de inovação, foi criado o instituto da patente, que é um monopólio jurídico temporário para quem criar uma inovação, garantindo ao autor o retorno para os recursos investidos no processo de geração da nova tecnologia.
Como todo monopólio, a patente produz uma ineficiência: o inventor, por ter poder de mercado, pode estabelecer o preço de seu produto a um valor bem acima do que seria ideal para a sociedade. Esse poder de mercado é limitado pelo tempo de vigência da patente: quanto maior o prazo, mais incentivos para atuação monopolista ineficiente.
A patente é um direito do pesquisador garantido na Constituição Federal. A LPI (Lei de Propriedade Industrial) prevê o prazo mínimo de 10 anos —a contar da concessão da patente— e o prazo geral de 20 anos —a contar do depósito da patente— para o inventor gozar desse privilégio temporário.
A morosidade nos processos de concessão de patentes pelo Inpi (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) faz com que o privilégio concedido às patentes ultrapasse o prazo de 20 anos devido à exigência do prazo mínimo de 10 anos previsto no parágrafo único do artigo 40 da LPI, que, por isso, está sendo agora questionado no Supremo Tribunal Federal.A demora do INPI para analisar patentes de medicamentos é tal que estudo da UFRJ concluiu que a União teve gasto adicional de cerca de 60% com medicamentos de alto custo, entre 2014 e 2018, devido à extensão do prazo concedida pela legislação. Ação da Procuradoria-Geral da República junto ao STF aponta pelo menos 74 medicamentos que tiveram prorrogação de prazo com fundamento nesse dispositivo da LPI, entre fórmulas para tratamento de HIV, diabetes e hepatites virais.Fórmula fabricada com exclusividade por um laboratório japonês, com potenciais efeitos contra o novo coronavírus, ainda aguarda patente que já deveria ter expirado no Brasil.
Esse dispositivo da LPI não está ancorado no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Trips), que inspirou a lei, pois amplia a proteção que prejudica a concorrência e dificulta o acesso aos medicamentos. O próprio Trips estabelece que nenhum Estado signatário é obrigado a adotar medidas mais rígidas.
A análise dos efeitos econômicos e sociais aí envolvidos precisa ser efetuada no Congresso Nacional, independentemente do pronunciamento do STF sobre o tema. Eu defendo um alinhamento da legislação brasileira ao acordo internacional. Por isso, em 2018 apresentei o Projeto de Lei do Senado 437, que, entre outras providências, revoga o parágrafo único do artigo 40 da LPI.
Ao meu ver, essa proteção ampliada prejudica a concorrência e restringe acesso aos medicamentos. O relatório do senador Rogério Carvalho (PT-SE) está pronto para a deliberação do Senado, que não haverá de se omitir nem deixar essa iniciativa morrer durante a maior crise sanitária da nossa história.
*José Serra, senador (PSDB-SP)
Rodrigo Pacheco: 'Tem de mudar a política externa, não dá para manter embate com outros países'
Presidente do Senado não defende a saída de ministro Ernesto Araújo, mas afirma que o Brasil não pode fechar portas. Senador evita confronto com Governo, e avalia que só pode ver responsabilidade do presidente na crise da saúde se houver um processo contra ele
Afonso Benites, El País
Rodrigo Pacheco (Porto Velho, 44 anos) teve uma ascensão meteórica na política. Em seis anos, deixou de atuar como advogado para se eleger deputado federal em 2014, pelo MDB, e senador em 2018, pelo DEM de Minas Gerais. Hoje ocupa a presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional, e é o terceiro na linha sucessória do país. Chegou ao cargo com apoio de bolsonaristas e petistas. Em um momento em que o Brasil é marcado por extremismos, Pacheco tenta ser uma voz dissonante. Busca pacificar a relação entre as instituições. E entende que, mesmo diante de um Governo radical, extremista de direita como é o de Jair Bolsonaro, a sua função não é a de buscar pos, mas a “de colocar água na fervura, não colocar mais gasolina”. O novo presidente do Senado tem uma voz grave, na qual mede palavra por palavra. Calcula o peso de cada frase. Se acha que foi mal colocada ou dá margem à interpretação distinta da que queria passar, a refaz rapidamente.
Em entrevista ao EL PAÍS em seu gabinete na última sexta, 26, Pacheco evita a todo momento criticar o Executivo, diz que não analisou nenhum crime de responsabilidade eventualmente cometido por Bolsonaro, apesar de haver mais de 60 pedidos de impeachment contra ele na Câmara, e evita apontar erros do Governo no combate à pandemia de coronavírus. Apesar disso, deixa alguns recados nas entrelinhas, quando diz ter “verdadeira adoração pela divergência”, algo incomum entre as autoridades do Planalto. “É a divergência que nos permite construir soluções adequadas. O ponto de vista único, rígido, engessado, que não ouve quem está ao seu redor, tende a dar errado”, diz Pacheco, cuja prioridade neste momento no Senado são os projetos relacionados à vacina contra covid-19, auxílio emergencial e reformas econômicas.
Pergunta. A gestão Bolsonaro tem demonstrado uma incapacidade no combate à pandemia de coronavírus. Como avalia a atuação do Governo Bolsonaro nessa área?
Resposta. O Governo enfrentou obstáculos, enfrentou dificuldades. O que tenho como proposta é de olhar para frente, estabelecer essa boa relação com o ministro da Saúde, com o qual eu tenho conversado, para poder dar soluções como foi de um projeto que eu apresentei e dá segurança jurídica para a União contratar com laboratórios assumindo cláusulas muito restritivas. E também tentando ajudar nesse cronograma da vacina. O cronograma do ministro Eduardo Pazuello assegura que, até a metade do ano, metade da população brasileira estará vacinada, e a outra metade até o fim deste ano. Então, vamos contribuir para que isso possa acontecer. Nós precisamos muito da vacina e eu tenho confiado no Ministério da Saúde.
P. Levando em conta que no ano passado o Ministério da Saúde abriu mão de contratar 70 milhões de doses da Pfizer dá para confiar nesse prazo de que até o fim do ano todos estarão vacinados?
R. Até onde eu sei, o Governo não abriu mão das vacinas da Pfizer no ano passado. Na negociação com a Pfizer surgiram dificuldades de cláusulas do laboratório que são muito restritivas e gerariam insegurança jurídica.
P. O senhor concorda, de verdade, com esse argumento? Só o Brasil e mais dois países não aceitaram essas cláusulas da Pfizer.
R. Eximir a indústria de eventual problema com a vacina. Isso está escrito no contrato. A opção do Governo federal foi de amadurecer essa relação e identificar um ajuste normativo, que veio através do projeto que apresentei para dar autorização da União para assumir esses riscos da vacina. Eu tenho absoluta convicção que, se as cláusulas da Pfizer fossem parecidas com as demais indústrias, o Governo teria adquirido a vacina dela. O Governo desejava a vacina da Pfizer, como deseja ainda. Mas precisa fazer esses ajustes normativos para garantir a segurança jurídica para isso. É o que estamos buscando adiantar o máximo possível.
P. Muitos dos discursos extremistas refletem no combate à pandemia. Há um desincentivo ao uso de máscaras, de distanciamento social. Na sua visão, como isso impactou na quantidade de casos e mortes por covid-19?
R. A pandemia, na verdade, é algo tão grave e desconhecido que fez com que houvesse reações múltiplas de crenças, de percepções, de impressões. Há pessoas que superestimaram, há pessoas que subestimaram. Há pessoas que obedeceram, outras desobedeceram a ciência e as recomendações médicas. A pandemia trouxe um cipoal de informações diferentes que é muito difícil se ter uma conclusão de que, se houvesse uma posição uniforme de todos, teríamos mais ou menos mortes. É uma reflexão difícil de ser feita. Obviamente esse passado é inesquecível, com esse número de mortos. Considero que esse passado será julgado pelas instâncias judicial, política, moral, mas temos de pensar no futuro. O futuro nos exige um pacto social, um compromisso recíproco de dar solução a esse problema. A solução para a pandemia no Brasil não tem outro nome, é vacina. E [um compromisso de] como nós fazemos para ter vacina em grande escala no Brasil, que eu sei que é a vontade do Ministério da Saúde, do Governo brasileiro, do povo brasileiro e do Congresso Nacional.
P. Empresas privadas devem comprar vacina?
R. Devem, sim. Tenho um projeto (534/2021 aprovado no Senado) que prevê a possibilidade de pessoas jurídicas de direito privado adquirirem vacinas. Contudo, enquanto não houver imunização dos grupos prioritários do programa nacional de imunização, o produto dessa aquisição pela iniciativa privada deve ser integralmente doado ao Sistema Único de Saúde (SUS). É a filantropia, a ajuda do setor privado ao Estado brasileiro.
P. O senhor tem conversado com empresários sobre esse tema. Qual é o retorno?
R. Esse grupo de empresários só quer ter essa autorização para fazer um contrato com a Pfizer e com outras empresas para poder adquirir vacinas e doar para o SUS. É um grande pacto social e nacional dentro desse propósito comum em busca de solução pela vacina. Depois, em um segundo momento, quando estiverem vacinados os grupos prioritários, se pode pensar em uma metodologia para poder comprar e imunizar sua comunidade, sua empresa e doar a metade para o SUS, que é a regra exposta no projeto. E, lá na frente, quando todos estiverem imunizados e eventualmente precisarem renovar doses de vacinas, vai poder se comercializar como toda e qualquer vacina.
Auxílio emergencial
P. No atual cenário, quais são as prioridades para o Senado?
R. Sob o ponto de vista de conceitos, as prioridades são: saúde, desenvolvimento social e crescimento econômico do Brasil. Especificando isso, eu resumiria em vacina, auxílio emergencial e reformas econômicas.
P. A PEC Emergencial, que discute uma série de medidas fiscais, sugere a retirada da Constituição do piso obrigatório de despesas com saúde e educação. Como vê essa sugestão?
R. A ideia de desvinculação não pode ser de pronto demonizada ou criticada como se fosse de tirar dinheiro da saúde e da educação. Não é essa a lógica. Quando se fala de desvinculação se fala da possibilidade do gestor público ter, com conhecimento de sua realidade local, a possibilidade de aplicar recursos a partir das necessidades de sua população. Contudo, nós devemos reconhecer que há um déficit de educação no Brasil muito grave. Também devemos reconhecer que há um déficit de saúde muito grave. De modo que a compreensão e o sentimento que tem sido manifestada por líderes partidários, por senadores, por segmentos da população e por governadores é de que este não seria o momento de se fazer essa desvinculação. Nem sequer de unificar os pisos de saúde e educação, 25% e 15%, para poder ter o remanejamento entre esses dois segmentos. É um ponto que vai ser tratado pelo Senado. O relator, senador Márcio Bittar, ao manter no seu texto, provavelmente será destacado para entender qual é o sentimento da maioria em relação à desvinculação. Há um movimento, neste momento, muito contrário à essa regra.
P. Com a pandemia, e nesse cenário de colapso da saúde, o Congresso já não deveria ter votado a volta do auxílio emergencial?
R. O que ficou ajustado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, é que o auxílio emergencial é uma realidade que precisa ser implementada no Brasil. No entanto, havia a necessidade de ter uma responsabilidade fiscal com a votação de proposta de emenda constitucional que está tramitando desde 2019, a PEC Emergencial. Esses são os compromissos recíprocos que nós fizemos. Queremos ter o auxílio, mas queremos ter essa proposta da responsabilidade fiscal, materializada na PEC Emergencial.
Fuga do extremismo
P. Quando, em 2016, votou a favor da abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff, o senhor analisou juridicamente um crime de responsabilidade dela. O senhor não vê nenhum crime de responsabilidade cometido pelo presidente Bolsonaro hoje?
R. Eu examinei um crime de responsabilidade apontado em um processo específico de impeachment já admitido pelo presidente da Câmara dos Deputados, para o qual eu fui instado a apreciar para poder decidir se eu votava a favor do impeachment da Dilma ou contra. Como não existe nenhum processo admitido contra o presidente Bolsonaro, eu nunca examinei a existência ou não de crime de responsabilidade.
P. Mas os equívocos estão à luz do dia. Há pressões de vários setores da sociedade civil para que ele seja responsabilizado. Pelo que o senhor lê, pelo que vê das atitudes do Governo e do presidente no dia a dia, não enxerga nenhum crime?
R. Nós não podemos concluir prática de crime só por uma percepção pessoal ou por ouvir dizer. A conclusão de se há crime ou não, depende da existência de um processo.
P. O senhor foi eleito presidente do Senado com o apoio do presidente Bolsonaro e do PT. Como equacionou esses dois apoios?
R. A Presidência do Senado transcende essas relações políticas eleitorais. Transcende as relações de ideologia. Ela impõe alguém que defenda o Senado, a sua independência, que tenha valores democráticos e eu fiz questão de externar isso como compromisso com todos. A defesa da República e dos seus fundamentos, da soberania nacional, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores do trabalho e da livre iniciativa. Do pluralismo político, do Estado democrático de direito. É fundamental nos dias de hoje, afirmarmos a democracia, a defesa do federalismo, especialmente com foco nos municípios, a defesa da prerrogativas dos parlamentares. Isso fez com que uníssemos divergentes. Tenho verdadeira adoração pela divergência. É a divergência que nos permite construir soluções adequadas. O ponto de vista único, rígido, engessado, que não ouve quem está ao seu redor, tende a ser errado. Esse espírito é o que me faz ter uma boa relação com os senadores, com todos os partidos, com o presidente da República, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com os ministros do Supremo. Tenho de defender o Senado dentro desse espírito de pacificação.
P. Esse discurso moderado, fugindo do extremismo, tem sido raro ultimamente. É possível mantê-lo por muito tempo ainda?
R. É bom que essa fuga dos extremismos seja a regra. Me disseram esses dias: “Mas Rodrigo, você tem de ter mais emoção em sua fala. Tem de externar mais”. É óbvio que por trás disso tem um ser humano com dilemas, angústias, com aflições. Mas o que precisamos neste momento é de racionalidade, de entender o que é melhor e se apegar à técnica, à ciência, aos caminhos de obediência à Constituição para solucionar os problemas. Carregar de emoções essas soluções tende a não dar certo. É o que você está vendo aí, com muita intolerância no Brasil, com muito passionalismo, sempre a pessoa querendo acreditar que ela é a dona da verdade e que o outro está sempre errado. Isso é muito ruim para o Brasil.
P. Os ataques à democracia são constantes no Brasil atual. O senhor acredita que a democracia corre risco? Entende que, diante de tantos ataques, as instituições estão funcionando de verdade?
R. A democracia do Brasil é uma realidade consolidada. A instituições do país estão funcionando e têm suas prerrogativas e autonomias. Há equívocos nas relações eventualmente em se ultrapassar os limites de seu próprio papel, isso se aplica a todos os poderes e temos de remediar também. O poder Judiciário não pode interferir no Legislativo, o Legislativo não pode interferir nas atribuições do Judiciário e o mesmo com o Executivo. Mas isso não significa, absolutamente qualquer risco à democracia. Essa verborragia que existe invocando AI-5, ditadura militar, está no campo das ilações, das manifestações livres ou não, mas não constituem risco concreto à democracia porque essa é uma realidade que não vamos abrir mão.
P. Para ficar claro. O papel a que o senhor se propõe cumprir é o de amenizar as tensões que temos visto nos últimos dois anos. É isso?
R. Sim. É de colocar água na fervura, não colocar mais gasolina. É de pacificar as relações, as instituições, entender que temos um propósito institucional de defender o Parlamento, o que é bom para o país. Nesse sentido, qualquer antecipação de jogo eleitoral atrapalha muito tudo isso. Estou muito mais preocupado com o presente e o futuro imediato de nós termos esse ambiente de construção do que pretende alçar qualquer tipo de voo porque acho que essa discussão é muito ruim para o Brasil agora.
P. Como vê a política externa do Governo Bolsonaro, que vez ou outra tem entrado em alguns confrontos com outros países?
R. Está ruim, né? Tem de mudar porque a política externa nos traz divisas importantes. Não dá para manter embate com outros países. Não dá para fechar portas. Quando digo que tem de mudar, não me refiro a nomes. Não defendo que troque, necessariamente, o ministro Ernesto Araújo. Mas tem de mudar a maneira de se fazer política externa. É preciso deixar claro para não sair a manchete de que eu defendo a troca do ministro.
Arranjos políticos
P. O quanto pesaram os acordos regionais na sua escolha para a Presidência do Senado? Muito se falou que o senhor trocou o apoio do PSD por abrir mão da candidatura ao Governo de Minas Gerais em 2022.
R. A candidatura nasceu primeiro da impossibilidade do presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP) ser reeleito. Se ele pudesse ser reeleito, ele teria votos suficientes para ganhar a eleição. Diante disso alguns senadores que foram meus colegas na Câmara dos Deputados sugeriram meu nome ao presidente Davi. Tais como o Marcos Rogério, o Weverton Rocha, o Irajá Filho. Houve manifestações de outros senadores e o presidente Davi refletiu e disse que eu seria o candidato apoiado por ele. E, ao ser apoiado pelo Davi e por esse grupo de senadores, começamos nosso trabalho de conversas com esses partidos. Me lembro que em uma semana, fechamos sete partidos políticos e ali consolidou nossa candidatura.
P. Como entraram os acordos regionais nessa equação?
R. Era muito importante o apoio do PSD, que é uma bancada com muita qualidade, com 11 senadores. Aquela união com o PSD representava não só a união com 11 senadores, mas o apoio de dois senadores do meu Estado. Fechar a bancada de Minas Gerais era uma sinalização muito positiva para a minha campanha também. O apoio dos senadores Carlos Viana e Antonio Anastasia foi fundamental. Junto com o PSD e dos outros partidos consolidou a nossa candidatura. O que eu disse, desde o primeiro instante, era que caso eu fosse eleito, eu não via ambiente para poder disputar uma eleição local, uma eleição em Minas Gerais.
P. Por que não via essa possibilidade de disputar o governo de Minas?
R. Por que sendo presidente do Senado, diante de tantos desafios, tantas questões que precisamos tratar sob o ponto de vista nacional, não gostaria de que nenhuma ação minha como presidente do Senado fosse interpretada como um casuísmo ou oportunismo para ser candidato a governador. Foi isso que aconteceu. Foi mais uma questão de reflexão pessoal, íntima, e que eu externei a todos os sujeitos desse processo, a todos os partidos, que eu considerava incompatível a presidência do Senado com ser candidato a governador. E o PSD tem dois pré-candidatos em Minas Gerais, o senador Carlos Viana e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. Naturalmente essa aproximação com o PSD deve ser considerada no futuro.
Sucessão presidencial
P. Alguns analistas dizem que o senhor, neste começo de mandato, vem se cacifando para concorrer à presidência da República em 2022. O quanto está se movimentando pelo Planalto?
R. Não, não procede isso. A mesma lógica que tem em relação ao Governo do Estado eu tenho a qualquer outra eleição. O meu propósito é ser um presidente do Senado que possa ser solucionador dos problemas do país, com o cumprimento de minha obrigação e não me permito absolutamente conversar sobre eleição de 2022 porque acho que pode atrapalhar o Brasil.
P. Como o senhor vê a criação de uma frente anti-Bolsonaro, pró-democracia? Estaria em uma frente dessa?
R. Neste momento não posso participar de uma frente anti-presidente da República. Meu papel como presidente do Senado impõe um diálogo com o presidente da República. Tenho dito sempre que o Congresso Nacional e o Senado precisam ser colaborativos com o governo federal porque temos problemas muito graves no país. Temos problemas de saúde pública, de déficit social, de déficit educacional e o Congresso não pode ser um instrumento utilizado com um fim político-partidário e eleitoreiro. Meu compromisso como presidente do Senado é estar próximo das instituições, do Governo Federal e encontrar soluções comuns para o país.
P. O que o senhor espera do DEM para 2022? Estará numa chapa com Jair Bolsonaro pela reeleição? Vai lançar seu próprio candidato?
R. Não faço a menor ideia. É um partido importante, hoje bem representativo no Brasil, cresceu muito em todos os aspectos, número de senadores, deputados, prefeitos, capitais, um partido de bons quadros, de bons propósitos e ideias e, obviamente, vai se posicionar em um momento oportuno. Entendo quais são as propostas possíveis e obviamente vamos escolher a que for melhor para o Brasil.
P. Como o senhor avalia a intervenção do presidente Bolsonaro na Petrobras?
R. Eu considero que não se pode superestimar trocas de executivos. Até porque o executivo que substitui o que está sendo retirado pode até ter um perfil melhor que o antecessor. Isso está dentro da esfera de gestão do presidente da República de compreender a disposição dessas peças, dessas figuras, desses agentes dentro do seu Governo. O que temos é de compreender isso como um fato já superado e buscar ter a recuperação da Petrobras como um grande ativo nacional que nós temos.
P. Mas a Petrobras perdeu mais de 100 bilhões de reais em seu valor de mercado após a indicação do general Joaquim Silva e Luna para a presidência. A confiança dos investidores nela não diminui com a intervenção do Bolsonaro?
R. Essa é uma perda que pode ser recuperada com o tempo a partir da credibilidade do novo executivo. A Petrobras é maior que os seus presidentes que passaram e é um ativo que o Brasil tem. Obviamente, ela não será desvalorizada de forma perene. São momentos que se têm oscilação no mercado, especialmente das empresas cotadas em Bolsas. Este é um momento mais crítico, mas logo se recupera. Acredito na recuperação plena da Petrobras porque ela é uma grande empresa.
P. E o fatode o novo presidente ser um militar? Como vê esse ingresso de tantos militares em cargos-chave do Executivo?
R. Temos de reconhecer que nas Forças Armadas há valores humanos muito significativos. Há pessoas altamente preparadas, capacitadas, bem formadas, com experiência de vida e que podem e devem ser aproveitadas em postos estratégicos para poder dar a inteligência devida àquelas posições. É natural que o presidente da República, nessas posições de confiança, possa lançar mão daqueles com os quais ele conviveu ao longo da sua vida privada, profissional e pública. Eu, talvez se estivesse na posição do presidente, faria o mesmo, não em relação aos militares, mas a membros de carreira jurídica, advogados, juízes, promotores, delegados com os quais eu convivi ao longo de minha vida e descobri valores de inteligência, de decência, de patriotismo, que podem ocupar essas posições. Vejo com normalidade até porque o presidente é um ex-militar, tem essa convivência com as Forças Armadas.
Imunidade parlamentar e Chico Rodrigues
P. A Câmara começou a analisar a PEC da Imunidade Parlamentar na última semana. O que espera desse projeto no Senado? É a favor das alterações que estavam sendo propostas?
R. Teve muita reação. Prefiro aguardar o texto final da Câmara para me manifestar a respeito disso. Sei que a intenção da Câmara é estabelecer a clareza sobre as prerrogativas dos parlamentares evitando que haja decisões injustas. Vamos avaliar assim que chegar ao Senado Federal. Não tenho como antecipar nenhum juízo de valor sobre o projeto sem que haja assimilação pelo Senado do que representa esse projeto. Num momento oportuno vamos colocá-lo em pauta, caso ele chegue.
P. Pretende dar celeridade a esse tema?
R. Tenho buscado dar celeridade a todos os projetos, especialmente a esses projetos que despertam o interesse social, o interesse da Câmara. Se a Câmara imprimir uma urgência tenho de levar isso em conta também no Senado.
P. O senador Chico Rodrigues, flagrado em uma operação policial com dinheiro na cueca, tem um processo no conselho de ética aberto, aguardando análise de sua conduta. O senhor já determinou a abertura do Conselho para essa análise?
R. Estamos sob a égide no Senado, em função da pandemia, do funcionamento remoto da Casa. Eu pretendo voltar as comissões permanentes da Casa também pelo sistema semipresencial. Pretendo, logo após experimentando as comissões permanentes, evoluir para os demais órgãos, inclusive, o Conselho de Ética. A nossa pretensão é que todos os órgãos do Senado funcionem em sua plenitude, mas precisamos respeitar as regras sanitárias. O Conselho de Ética tem uma peculiaridade, pela natureza dos temas ali tratados, é recomendável que a reunião seja presencial. Estamos confiando muito na imunização do Brasil, da volta da normalidade, e com toda tranquilidade teremos o funcionamento do Conselho de Ética para permitir que os fatos sejam apurados. E aqueles senadores que tenham representações contra si possam se defender e demonstrar suas razões nesses processos até para dirimir qualquer tipo de dúvida.
P. A partir de quando o Conselho de Ética funcionaria?
R. Vai depender das possibilidades técnicas do Senado de adequar o funcionamento dessas comissões à realidade de pandemia que impõe esse distanciamento ainda. Mas estamos muito atentos e, no decorrer dos próximos dias, meses podemos reavaliar a retomada da plenitude do Senado.
José Eduardo Faria: Qual o rumo da democracia brasileira
Entre os diferentes modos de compreender o que é a democracia, em termos funcionais, destaca-se o que a encara como um regime de dispersão e neutralização de confrontos que podem colocar em risco as estruturas sociais. Nessa perspectiva, a democracia é vista como um entrechoque entre interpretações e aspirações, entre alternativas e opções, percepções e convicções, que se desenvolve em espaços públicos sujeitos a extravasamento de paixões, aspirações, reivindicações, promessas, dissimulações, maniqueísmos, agressões morais e mentiras.
Para neutralizar os riscos de corrosão do pacto social daí decorrentes e viabilizar a construção de decisões coletivas com base em diálogos construtivos, evitando o retrocesso do Estado civil para o estado da natureza, a democracia desenvolveu um sistema de freios e contrapesos — ou seja, regras e procedimentos, como o voto universal, eleições livres e o princípio da maioria, que canalizam reivindicações e desarmam insatisfações, ao mesmo tempo em que permitem construção de acordos coletivos e de deliberações públicas.
Se em vários momentos na segunda metade do século XX a democracia foi marcada por embates ideológicos profundos e acirrados, ainda que por vezes sem que os líderes políticos e partidários se desqualificassem reciprocamente no plano moral, nas duas primeiras décadas do século XXI isso mudou. Em decorrência dos avanços das tecnologias de comunicação e de informação, os partidos se fragmentaram, as linhas de demarcação que separam responsabilidades e delimitam as diferentes zonas de poder se tornam mais porosas e novos espaços políticos surgiram, intercruzando-se e se justapondo, enfraquecendo com isso a mediação parlamentar. No mesmo sentido, a imprensa tradicional, as novas mídias e os antigos e novos espaços políticos justapostos foram sendo progressivamente envolvidos por atitudes cada vez mais polarizadas e por retóricas cada vez mais agressivas de políticos cuja identidade é forjada mais pelo que negam e agridem do que pelas ideias que defendem. Em vez de uma convivência democrática entre adversários, ao destilar o ódio e recorrer a agressões morais e à mentira sistemática uma corrente entre os novos atores converteu a política não em disputa ou competição, mas numa guerra, em cuja dinâmica quem não é amigo é inimigo e como tal tem de ser liquidado.
Foi o que se viu, por exemplo, nas atitudes do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán logo após sua reeleição, em 2014, descrevendo o futuro de seu país na perspectiva de um Estado autocrático, que não rejeitaria os valores da democracia liberal, mas não os adotaria como elemento estruturante da organização das instituições húngaras. Foi o que também se viu no final do governo Trump, com o triste espetáculo da invasão do Capitólio, em janeiro.
Também foi o que se viu entre nós, com a escolha de ministros civis e militares medíocres, mas que se ajustam à maneira de agir, às opiniões xenofóbicas e racistas e aos objetivos ditatoriais de Bolsonaro. É, igualmente, o que se tem visto com as sucessivas afrontas promovidas por ele e sua falange autocrática aos Poderes constituídos, com a construção de inimigos fantasiosos — como um Paulo Freire ou a TV Globo, por exemplo — para que possam radicalizar o debate político e com o progressivo aparelhamento dos mecanismos constitucionais de controle do Executivo, levando-os a fazer vistas grossas para os crimes de responsabilidade e os crimes comuns praticados pelo inquilino do Planalto. É o que se tem visto, ainda, com a militarização das várias áreas de políticas públicas e as facilidades legais para o crescente armamento do que o presidente chama de “cidadãos de bem”, mas que na prática nada mais são do que suas milícias. Tudo isso com o apoio de parlamentares abjetos oriundos da área da segurança pública que, lembrando a “dialética da malandragem” — termo cunhado por Antônio Cândido em ensaio clássico sobre Memórias de um Sargento de Milícia — não conseguem diferenciar as fronteiras entre a moralidade e a imoralidade.
Em contextos como esses, o que esperar da democracia? A corrosão democrática tende a se acelerar, fundada em um discurso do ódio de gente incapaz de saber que, sem coexistência, divergências e competição não há vida política nem uma sociedade aberta? Ou as instituições democráticas resistirão? Apesar das sucessivas tensões institucionais causadas pela estratégia bolsonarista de ir testando o grau de resiliência das instituições e das liberdades públicas, talvez seja possível, com a devida prudência, apontar dois cenários possíveis.
O primeiro cenário envolve esse risco de conversão da democracia liberal em uma democracia iliberal — conceito desenvolvido por Fareed Zakaria em artigo publicado na Foreign Affairs, no ano de 1997. Os problemas por ele suscitados foram aprofundados mais recentemente por Adam Przeworski, em um importante livro sobre as crises democracia, editado em 2019. Também chamada de “democracia de baixa intensidade” ou de “autoritarismo furtivo” e entendida como processo de “desconsolidação da democracia liberal”, a democracia iliberal é um sistema de governo em que, os cidadãos votam, mas suas garantias vão sendo progressivamente esvaziadas e eles não exercem controle sobre as atividades daqueles que detêm o poder efetivo.
A democracia iliberal encontra as condições para crescer quando a economia passa por períodos de estagnação, a circulação de riquezas diminui, as receitas fiscais caem e a desigualdade aumenta. Programas sociais não atingem toda população desvalida e sem representação. Políticas públicas são canceladas em nome da austeridade fiscal e a situação de incerteza e insegurança sociais daí decorrentes abre caminho, pelo voto, para o surgimento de concepções regressivas de ordem pública e para a degradação do debate político. A progressiva ascensão de um populismo nacionalista e autoritário desenfreado menospreza a pluralidade inerente a uma sociedade democrática, desqualifica o diálogo como meio de resolução de divergências e mobiliza a população contra inimigos reais ou inventados.
Desse modo, quando votam em candidatos populistas, nacionalistas e autoritários, o eleitorado acaba, paradoxalmente, restringindo seu direito de determinar o rumo de seu país, ao mesmo tempo em que endossa propostas de resolução pela força bruta, em detrimento da segurança do direito. A democracia iliberal é, assim, um regime no qual regras e procedimentos democráticos são utilizados por grupos autoritários com o objetivo de reduzir as mediações institucionais, minar garantias fundamentais, inviabilizar juridicamente eventuais resistências e de alterar as regras democráticas com base nas quais seus candidatos se elegeram. Se de um lado a democracia iliberal recorre a instrumentos do regime democrático em busca de uma pretensa tintura de legitimidade, de outro não esconde a propensão por uma concepção de poder fundada em técnicas ardilosas de transgressão da ordem constitucional.
Em linha oposta, o segundo cenário parte das premissas de que a “desconsolidação” da democracia seria mais mito do que fato e de que a democracia liberal — uma construção política que experimenta avanços e retrocessos que variam nos graus de representatividade, liberdade e possibilidade de alternância no poder – é mais estável do que parece com relação àqueles que propagam o ódio. Aqui, a referência intelectual é o filósofo basco Daniel Innerarity, que tem discutido se a fragilidade da democracia é um fato ou apenas um mito. Doutorado na Alemanha, professor do Instituto Universitário Europeu, em Florença, e diretor do Instituto de Governança Democrática, na Espanha, ele é autor de importantes ensaios e livros sobre democracia na perspectiva da teoria dos sistemas. “Vivemos numa época em que há muito ódio, mas pouca violência. Convém não confundir as duas coisas. Este grau de hostilidade intensa do qual padecemos hoje em nossas democracias nada tem a ver com a violência armada organizada. O ódio não é a antessala da violência, mas algo que a substitui. Não nos permitimos odiar tanto porque sabemos que — pela solidez de nossas instituições, pelo Estado de Direito ou pela ameaça ao castigo da lei — é muito improvável que esse desprezo mútuo desemboque em violência”, diz ele.
Tomando por base a democracia americana e a europeia, Innerarity afirma que um regime democrático não cai necessariamente por meio de um golpe do Estado e que eleições acirradas, agressões verbais, paralisia decisória e agressividade retórica fazem parte do jogo político. A seu ver, o que de fato vem desarranjando a democracia são formas mais sutis de degradação, como descontentamento popular, negativismo dos eleitores, oportunismo dos políticos profissionais e deslocamento dos espaços tradicionais de decisão para espaços novos — muitos deles transterritroriais – não controlados democraticamente. Por isso, personagens que ameaçam a vida democrática — como um Trump ou um Bolsonaro, por ele não nominados expressamente — são mais oportunistas do que propriamente golpistas. Se por um lado recorrem à retórica violenta para atrair atenção, por outro não sabem nem têm condições de exercer um poder expandido ou forte no âmbito de países dotado de um mínimo de complexidade.
Se a debilidade da democracia liberal decorre mais do enfraquecimento de uma cultura política baseada no sentimento de pertencimento a uma comunidade unida, diversa e aberta do que a ameaça de políticos populistas autoritários, diz Innerarity, sua força tende a aumentar à medida que forem construídas instituições que não sejam demasiadamente condicionadas por aqueles que eventualmente as dirijam. Mais precisamente, em que as regras prevaleçam sobre o voluntarismo dos dirigentes.
Em um período de aceleração do tempo, de deslocamento da produção jurídica para instâncias não legislativas, de integração dos espaços nacionais pelos meios de comunicação, de transferência da titularidade dos Legislativos para organismos intergovernamentais, a chave de resistência democrática está na criação de estruturas institucionais bem mais complexas do que as forjadas nos séculos XIX e XX, que moldaram uma democracia mais simples, eficaz para a época, mas lenta nos períodos de crise econômica, e com jurisdição limitada às fronteiras dos Estados.
A situação hoje é outra. Em decorrência da internacionalização da decisão econômica, do advento de tecnologias mais integradas, de novas formas de comunicação e de informação, da tendência da sociedade contemporânea de subdividir em subsistemas funcionalmente diferenciados, são necessárias instituições capazes de trabalhar com sistemas mais complexos e inteligentes — o que não ocorria quando a democracia liberal emergiu no mundo moderno. Também é necessário articular robotização, automatização e digitalização com princípios de autogoverno, que constituem o núcleo normativo das estruturas democráticas, diz o autor. Essas mudanças configurariam estruturas, processos e regras que proporcionariam à democracia contemporânea um alto grau de inteligência sistêmica — uma inteligência que não está nas pessoas, mas nos componentes constitutivos de um sistema institucional mais flexível e capaz se adaptar a mudanças e inovações.
É isso que tornaria o regime democrático funcionalmente mais eficiente e resistente, frente a falhas de atores individuais, fraquezas de partidos políticos e más intenções de aventureiros populistas. Sem relativizar a importância da autorização popular que está por trás de suas decisões, a democracia só sobrevive se a própria inteligência do sistema institucional for capaz de compensar a mediocridade, a inépcia e a até má fé e a maldade dos atores políticos — conclui o autor de Una teoria de la democracia compleja – gobernar en el siglo XXI (Barcelona, Galaxia-Gutemberg).
Em princípio, esses cenários não são animadores. Diante do cenário da tendência à democracia iliberal, por meio de medidas astuciosas, porém nem sempre ilegais, e o cenário da afirmação da força de uma democracia baseada em sistemas inteligentes, é difícil apontar qual é o mais viável. A verdade é que, quanto mais nos enveredamos na análise de cada um deles, mais voltamos ao paradoxo socrático da ignorância, à medida que sabemos do quanto não sabemos qual será o destino da democracia entre nós.
*José Eduardo Faria é Professor Titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).
(Esse artigo foi originalmente publicado em Estado da Arte, revista eletrônica vinculada ao jornal O Estado de São Paulo, em 20/02/2021)
Marcus Pestana: Congresso Nacional e imunidade parlamentar
O parlamento é o centro de gravidade no funcionamento da democracia. Ali está presente a representação plural da sociedade para a construção permanente dos marcos constitucionais e legais que regram a vida da sociedade, do Estado e da economia e um contrapeso ao poder, que não é absoluto, do governo de plantão.
No Brasil, o abismo existente entre a sociedade e o Congresso não é novidade. De 1999 a 2002, tive acesso a pesquisas nacionais de opinião pública que testavam a confiança da população em 42 instituições. Os resultados foram quase os mesmos nos quatro anos. Nos primeiros lugares vinham os Correios e o Corpo de Bombeiro, nos últimos, o Congresso Nacional e os partidos políticos. A população tende a avaliar bem individualmente o deputado que atua na sua região e mal a instituição como um todo.
Há picos de rejeição em casos como a CPI dos anões do orçamento, mensalão, Lava Jato, rejeição da Emenda das Diretas, e momentos de aproximação como na eleição de Tancredo Neves, na Constituinte de 1986, nos impeachments de Collor e Dilma.
Esta relação entre Congresso e sociedade está sendo testada mais uma vez. A votação da manutenção ou não da prisão do deputado Daniel Oliveira (PSL/RJ) que agrediu de forma violenta e desqualificada membros do STF e fez apologia da ditadura, do AI-5 e do fechamento do Congresso e do Judiciário, se desdobrou na manutenção da prisão por 305 contra 154 e na discussão da emenda constitucional sobre imunidade e inviolabilidade do mandato parlamentar.
Entre os que 154 votos contra a manutenção da prisão existem dois grupos. Os que são a favor da impunidade sempre e os que entenderam que o Supremo exorbitou de suas prerrogativas e feriu a Constituição na caracterização da flagrância do crime cometido. Mas houve crime inequivocamente. Não se pode evocar o direito à liberdade de opinião e expressão individual contra o direito coletivo à democracia e à liberdade. A questão política se colocou dentro do atual clima de polarização radical, colocando em jogo a defesa da democracia contra o golpismo autoritário. Sugiro aos incautos lerem o livro COMO AS DEMOCRACIA MORREM e assistirem o filme clássico O OVO DA SERPENTE.
Do ponto de vista jurídico a questão é mais complexa. A imunidade parlamentar e a inviolabilidade do mandato foram inseridas na Constituição como proteção à liberdade de expressão, opinião e ação política dos representantes do povo, mas nunca em relação a crimes bem tipificados na legislação penal. Os parlamentares só podem ser presos em flagrante delito de crimes inafiançáveis. O Supremo decretou a prisão do deputado Daniel com base na Lei de Segurança Nacional, que merece ser revista. O STF não é formado por analfabetos jurídicos, ao contrário, é de se pressupor que ali estão alguns dos maiores constitucionalistas e juristas do país. E, por unanimidade, viu fundamentos jurídicos para a prisão em flagrante.
A complexidade é que se tratava de um crime no ambiente da internet, um vídeo nas redes sociais, que permanecia no ar no momento da prisão, portanto o crime estava sendo cometido naquele exato momento. É diferente de um assalto ou um homicídio, quando o criminoso é preso em flagrante. Fato é que o evento ressuscitou o tema do golpismo contra a democracia e suas instituições. A violência e irresponsabilidade do deputado mereciam uma resposta firme e forte das instituições democráticas.
Ato contínuo a Câmara dos Deputados colocou em discussão a PEC que propõe novo regramento do assunto, reduzindo os poderes dos magistrados, submetendo a aplicação de medidas cautelares e mesmo a avaliação de materiais aprendidos em operações policiais à prévia deliberação do plenário do STF, tipificando os crimes que permitirão prisão em flagrante (tortura, tráfico, crimes hediondos, racismo e ações armadas). A pressa na votação não se justifica em matéria tão complexa.
Mesmo sem conhecer o texto final da relatora e o resultado que poderá ter ocorrido na última quinta, fico preliminarmente com a visão do deputado Beto Pereira (PSDB/MS): “O critério de imunidade vigente hoje é suficiente para garantir o pleno exercício da atividade parlamentar. A alteração proposta peca ao transformar parlamentares em privilegiada casta, protegida pela impunidade. Como efeito colateral seremos contaminados pela indignação do povo”.
*Marcus Pestana, ex-deputado federal (PSDB-MG)














