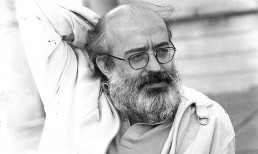comunicação
Luiz Carlos Azedo: Ideia de jerico
Faltou um memento mori, por exemplo, na hora em que Bolsonaro assinou o decreto autorizando estudos para privatização das unidades básicas de atendimento do SUS
Tem razão o general da reserva Rêgo Barros, ex-porta-voz da Presidência: falta alguém ao lado do presidente Jair Bolsonaro para dizer-lhe no ouvido: “Memento Mori!” — lembra-te que és mortal! A sentença latina intitula o artigo publicado, na terça-feira, pelo Correio Braziliense, com a assinatura do militar. É a mais dura crítica feita ao ex-capitão por um dos generais que apoiaram sua eleição e agora se arrependem. “Os líderes atuais, após alcançarem suas vitórias nos coliseus eleitorais, são tragados pelos comentários babosos dos que o cercam ou pelas demonstrações alucinadas de seguidores de ocasião. É doloroso perceber que os projetos apresentados nas campanhas eleitorais, com vistas a convencer-nos a depositar nosso voto nas urnas eletrônicas, são meras peças publicitárias, talhadas para aquele momento. Valem tanto quanto uma nota de sete reais.”
Rêgo Barros não cita Bolsonaro, mas é a ele que se refere quando alerta que os demais Poderes da República “precisarão, então, blindar-se contra os atos indecorosos, desalinhados dos interesses da sociedade, que advirão como decisões do ‘imperador imortal’. Deverão ser firmes, não recuar diante de pressões. A imprensa, sempre ela, deverá fortalecer-se na ética para o cumprimento de seu papel de informar, esclarecendo à população os pontos de fragilidade e os de potencialidade nos atos do César”. Rêgo Barros foi defenestrado do cargo depois de uma longa queda de braço com o vereador carioca Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, que dá as cartas na Comunicação Social do Palácio do Planalto.
Seu artigo reflete o pensamento de uma parcela dos altos oficiais das Forças Armadas, principalmente depois da humilhação a que foi submetido o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, desautorizado por Bolsonaro e, depois, constrangido a dar uma declaração, ao lado do chefe, dizendo que Bolsonaro manda e ele obedece. Na semana passada, no Dia do Aviador, durante a solenidade de entrega dos novos caças F-39E Gripen da Aeronáutica, era visível o constrangimento dos generais presentes, inclusive do comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, para quem o cerimonial da Presidência reservou a cadeira mais distante do presidente da República, entre todas as autoridades presentes.
Entretanto, nada disso muda o fato de que Bolsonaro manda e os militares, de fato, obedecem, por dever constitucional. São poucos os militares que se manifestam contra Bolsonaro, a maioria apoia o governo incondicionalmente. Além de abrigar muitos oficiais no governo — estima-se que sejam em torno de sete mil, inclusive, alguns generais da ativa —, Bolsonaro poupou os militares na reforma da Previdência, mantendo o salário integral dos oficiais ao se aposentar, sem idade mínima obrigatória, e a contribuição máxima de 10,5% ao INSS, contra o teto de 11,68% na iniciativa privada.
Atendimento em massa
A propósito, faltou um memento mori, por exemplo, na hora em que Bolsonaro assinou o decreto autorizando a realização de estudos para privatização das unidades básicas do Sistema Único de Saúde (SUS), a cargo dos municípios, para espanto dos sanitaristas, dos prefeitos e da população que utiliza os serviços públicos, a maioria por não ter plano de saúde. A reação foi tão negativa nas redes sociais que Bolsonaro teve de cancelar o decreto, que incluía o sistema de atendimento básico — considerado um dos melhores do mundo — no programa de privatizações e parcerias público-privadas do Ministério da Economia. Como filho feio que não tem pai, ninguém assume a ideia de jerico. O governo divulgou a versão de que a proposta era do Ministério da Saúde. E que seria uma solução para conclusão de 4 mil UBS inacabadas, que já consumiram R$ 1,7 bilhão de recursos do SUS, obras de responsabilidade do governo federal.
Bolsonaro não levou em conta que o SUS atende 190 milhões de brasileiros, contra 46 milhões dos planos de saúde. Antes de sua criação, eram apenas 30 milhões. Produz 7,8 bilhões de medicamentos, sendo 163 milhões de antiretrovirais. Realiza 2 milhões de partos por ano, tem mais de 30 mil equipes de saúde da família e 248 mil agentes comunitários de saúde em 5.393 municípios. Graças a essa estrutura, com todas as suas deficiências, a tragédia da pandemia do novo coronavírus, que já matou 157,8 mil brasileiros, não é maior. Dos 5,4 milhões de infectados — Bolsonaro disputa com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ver quem lidera o país com maior número de casos —, 4,9 milhões recuperaram-se e 375,2 mil estão em recuperação. A esmagadora maioria utiliza os serviços do SUS.
Luiz Carlos Azedo: Dinheiro na cueca pode?
A verdade pode ser distorcida para obter vantagem política, aproveitar o momento mais conveniente, obter a resposta desejada, favorecer pessoas, priorizar fatos e reescrever a História
Coluna boi com abóbora, como diria meu querido Noca da Portela, rende polêmicas inesperadas. Foi o que aconteceu na sexta-feira, comigo, por causa da grana na cueca do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado pela Polícia Federal, supostamente, tentando ocultar provas e obstruir a ação da Justiça durante uma operação de busca e apreensão em sua residência, em Boa Vista. Vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, a notícia se espalhou pelo mundo e virou meme nas redes sociais, porque o parlamentar governista tentara esconder R$ 33,1 mil no calção do pijama, uma parte nas nádegas, dentro da cueca. Havia pedido para ir ao banheiro, e o delegado desconfiou do grande volume dentro do pijama. A versão vazada era de que o senador se borrou todo, nervoso, quando sofreu a revista íntima.
Diz um velho jargão das redações: um homem ser mordido por um cachorro não é notícia (não é bem assim), ela só existe quando o homem morde o cachorro, fato que nunca vi registrado nos jornais. Já vi atirar ou espancar um animal. Era óbvio que a história do senador Chico Rodrigues seria o assunto político do dia, a ponto de ofuscar o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do polêmico habeas corpus do traficante André de Oliveira Macedo, o André do Rap, que havia sido concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), e fora suspenso pelo presidente daquela Corte, ministro Luiz Fux. Como vinha acompanhando o julgamento, tive de tratar dos dois assuntos na mesma coluna, intitulada “O traficante e o senador”.
O julgamento do caso de André do Rap terminou 9 a 1, a favor da excepcionalidade da suspensão do habeas corpus, mas gerou muita discussão entre os ministros sobre: a) o poder de Fux no comando do tribunal para sustar liminares dos pares, contestado pela maioria; b) as fragilidades do sistema de distribuição de processos (o advogado entrou com nove habeas corpus sucessivos e os retirava sempre que julgava que o ministro escolhido não o concederia, até ser distribuído para Marco Aurélio, que já havia concedido mais de 70 liminares com a mesma interpretação literal da lei); c) a sucessão de omissões da Justiça, do Ministério Público e das autoridades policiais quanto ao caso de André do Rap; e d) a libertação automática dos presos preventivamente, caso o juiz não faça a revisão a cada 90 dias, que, no entendimento da maioria, com exceção de Marco Aurélio, não deve ocorrer mais.
Toda a confusão deu-se por causa da exegese do artigo 316 do Código de Processo Penal, que diz, em seu parágrafo único: “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Marco Aurélio Mello interpretava ao pé da letra o citado artigo e mandava soltar todos os presos nessa situação, cujos casos fossem parar em suas mãos, inclusive, André do Rap, segundo o princípio do direito germânico-romano, predominante na legislação brasileira, de que a lei precede o fato, não importa o “paciente” nem as consequências. É o que os advogados chamam de “bom direito”.
Ombudsman
Voltemos ao dinheiro na cueca, que entrou para o nosso folclore político mais escatológico. Ao ler a coluna de sexta-feira, um querido amigo, em mensagem pela mesma rede social pela qual havia lhe enviado a coluna, indagou: “Mas o crime é carregar dinheiro na cueca?”. Dei-me conta de que estava diante de um questionamento ético, uma discussão muito séria. Tentei explicar: ocultação de prova e obstrução da justiça. E arrematei: vai acabar cassado e preso, por causa do desvio do dinheiro das emendas. Aí veio o questionamento definitivo: “Aí, sim. Mas levar dinheiro na cueca, eu fiz muitas vezes, quando viajava sem cartão de crédito. Mas a manchete tem sido: ‘Dinheiro na cueca’. Pois é. Não é crime. É bullying! ”
Meu ombudsman acidental tem razão. Não é crime mesmo, quem já não viajou com dinheiro e documentos numa pochete sob as vestes para evitar furtos? Eis a questão, estamos diante de uma situação em que a notícia não é o crime, a investigação ainda tem de provar a origem ilícita do dinheiro. Penso que isso acabará acontecendo, mas, quem acha vive se perdendo, advertia Noel Rosa. O parlamentar já foi lançado ao mar pelo presidente Jair Bolsonaro, de quem era próximo, e não será surpresa se seu mandato for cassado por seus pares no Senado, como já aconteceu outras vezes, porque a situação é muito desmoralizante para a vetusta instituição. Tanto que o ministro Luís Roberto Barroso, sem pestanejar, afastou-o do mandato por 90 dias, decisão monocrática que causou mal-estar entre os políticos. A cúpula do Congresso tem ojeriza a isso, porém, não reage, para não afrontar a opinião pública.
Os fatos ocorrem e são registrados como História, os meios de comunicação têm um papel fundamental nisso. Entretanto, como já advertiu Hanna Arendt, a verdade desses eventos pode ser distorcida para justificar uma ação política particular, garantir a revelação dos fatos num momento mais conveniente, assegurar a resposta desejada em determinados momentos e reescrever a história para favorecer certas pessoas ou priorizar certos fatos. A ação policial na casa do senador Chico Rodrigues foi documentada e está anexada aos autos do processo, mas os vídeos da revista íntima foram mantidos em sigilo de Justiça, trancados num cofre, por determinação do ministro Barroso. A divulgação de que o senador estava com dinheiro nas nádegas, o que, por si, não é crime, como já foi dito, fez da operação de busca e apreensão um fenômeno midiático mundial. Entretanto, se não for comprovada a origem ilícita do dinheiro, nada poderá ser feito contra ele, além de exigir o pagamento do Imposto de Renda. Quem se desgasta com a tese de que a polícia prende e a justiça solta, como no caso de André do Rap? O Supremo.
Luiz Carlos Azedo: Bolsonaro recrudesceu
“O caso Fabrício Queiroz tira o presidente do sério, porque a história da rachadinha chegou ao Palácio da Alvorada. Não pode ser investigado, mas a primeira-dama pode”
No Dicionário Houaiss, o significado de recrudescer é “exacerbar-se”, “agravar-se”, se tornar mais intenso. A palavra ficou famosa durante o regime militar, quando o presidente João Batista Figueiredo, que era grosseiro pra caramba, brandiu o verbo. Outro dia, o cronista da Folha de S.Paulo Ruy Castro, grande biógrafo de Garrincha, Nelson Rodrigues e Carmem Miranda, além de historiador da bossa nova, na base da gozação, resgatou a frase enigmática do último presidente do regime militar: “Reagindo às tremendas pressões sobre ele, vindas tanto dos civis quanto da linha-dura militar, Figueiredo explodiu: ‘Olha que eu recrudesço!’. O país parou, expectante. Parecia uma ameaça — mas de quê, como e contra quem? No Pasquim, Jaguar botou seus dois calunguinhas para discutir. Um deles pergunta: ‘O que é ‘recrudesço’?’. E o outro: ‘Não sei. Mas tem cru no meio’”. Apesar da censura e das prisões, a turma do Pasquim não refrescava o general Figueiredo.
Pois bem, Bolsonaro recrudesceu nas grosserias. Irritado com um repórter do jornal O Globo, que havia lhe feito a pergunta que não quer calar nas redes sociais — “Presidente, por que a sua esposa recebeu R$ 89 mil do Fabricio Queiroz?” —, Bolsonaro partiu para a ignorância: “Vontade de encher sua boca de porrada”, respondeu. Estava em silêncio obsequioso desde quando o tempo fechou no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Congresso, contra sua escalada para intimidar os demais poderes. Na semana passada, porém, voltou a ficar à vontade, fortalecido pela bem-sucedida articulação de sua nova base na Câmara e por pesquisas de opinião que, depois de longo tempo, registram aprovação popular maior do que a desaprovação. O caso Queiroz, porém, é seu calo inflamado. O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), seu filho mais velho, está cada vez mais enrolado no escândalo das rachadinhas da Assembleia Legislativa e nas movimentações financeiras suspeitas de Queiroz, o amigo do presidente e seu ex-assessor parlamentar, que arrasta o clã para as relações perigosas com o submundo das milícias do Rio de Janeiro.
A ameaça de agressão ao jornalista virou meme nas redes sociais, com a pergunta sendo repetida não só por grande número de seus colegas, como também por formadores de opinião e influenciadores digitais. É óbvio que a base de Bolsonaro, que é truculenta e não suporta a mídia tradicional, vibrou com a resposta do presidente. Mas a sua repercussão política foi péssima, tanto no Congresso como internacionalmente. O presidente vinha cultivando a imagem “Jair paz e amor”, para alegria dos militares que formam seu estado-maior no Palácio do Planalto e dos líderes do Centrão, que dão sustentação ao governo. A declaração explosiva foi um banho de água fria nas expetativas de uma distensão com a mídia.
Rachadinha
O governador de São Paulo, João Doria, desafeto do presidente, ironizou: “Bolsonaro voltou a ser Bolsonaro”. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, também não deixou barato: “O presidente vinha muito bem nas últimas semanas. Com sua moderação estava contribuindo para a pacificação do debate público. Lamentável ver a volta do perfil autoritário que tanta apreensão causa nos democratas”, disparou no Twitter. O caso Queiroz tira Bolsonaro do sério porque a história da rachadinha chegou ao Palácio da Alvorada. Bolsonaro não pode ser investigado por fatos ocorridos antes do seu mandato, salvo se atuar para obstruir a Justiça, mas a primeira-dama pode. E seu filho mais velho, o senador Flávio, está cada vez mais enrolado na Justiça. O envolvimento de Michelle tira o sono de Bolsonaro, porque cada vez mais a história tece um enredo de não-conformidades na atuação parlamentar de todo o clã.
Se alguém pensava que o caso fosse parar por aí, ontem, Bolsonaro voltou a atacar os jornalistas: “Aquela história de atleta, né, que o pessoal da imprensa vai para o deboche, mas quando pega (covid-19) num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor”. Deu a declaração durante discurso no Palácio do Planalto, no evento batizado de “Brasil vencendo a covid-19”. Como assim? Estamos levando uma surra do vírus letal. O Brasil registrava 3,6 milhões de casos e 115 mil mortes, até ontem à tarde. Depois de desafiar a doença até contraí-la, Bolsonaro passou de vilão a vítima da pandemia, à qual sobreviveu, segundo diz, se tratando com cloroquina e outros medicamentos. Mas a pandemia não acabou, o trauma causado pela doença atinge um número cada vez maior de famílias. De certa forma, o silêncio e a doença descolaram Bolsonaro da pandemia, mas o desgaste de sua imagem por causa da peste também pode recrudescer.
Luiz Carlos Azedo: Cuidado com a palavra
“Na opinião pública mundial, os heróis não são os militares, são os índios, que têm suas terras invadidas e, agora, de novo, estariam ameaçados de extinção. Como? Pela covid-19”
A palavra genocídio, substantivo masculino, significa extermínio de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso (Houaiss). O maior de todos, no século passado, foi o Holocausto, o assassinato em massa de judeus pelos nazistas, que defendiam a superioridade racial dos arianos. Genocida era, por exemplo, o médico alemão Josef Menguele, que morreu em Bertioga (SP), em 1979, com o nome falso de Wolfgang Gerhard. Ele realizava experiências genéticas no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, durante a II Guerra Mundial. Estima-se que morreram no Holocausto 6 milhões de judeus, de um total de 21 milhões de prisioneiros assassinados pelos nazistas na II Guerra Mundial.
O genocídio foi tipificado como crime contra a humanidade em 1951, quando foi criada a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. A partir daí, assassinatos em massa como consequência de diferenças étnicas, nacionais, raciais e religiosas passaram a ser qualificados como tal, especialmente quando se trata de limpeza étnica. Houve genocídio na colonização das Américas e da África; no século passado, na Turquia (armênios), Camboja (oposição ao regime comunista), Timor Leste (nacionalistas), Kosovo (albaneses), Ruanda (tutsis), Bósnia (muçulmanos) e Iraque (curdos). O Brasil reconhece o genocídio como crime desde 1956.
Por isso mesmo, não foi gratuita a reação dos militares às declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, que criticou duramente o general de divisão Eduardo Pazzuelo, um graduado oficial da ativa, por sua atuação à frente do Ministério da Saúde: “Não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio. Pode até se dizer: a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção é preciso se fazer alguma coisa. Isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara: o Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável. É preciso pôr fim a isso”, disse.
Povos indígenas
O Ministério da Defesa anunciou, em nota, que encaminhará uma representação na Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ministro. O presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e o chefe do gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, manifestaram apoio à nota, no mais novo contencioso entre as Forças Armadas e um ministro da Corte. A nota foi assinada pelo ministro Fernando de Azevedo e Silva, que é general da reserva do Exército, e pelos comandantes do Exército, general Edson Leal Pujol; da Marinha, almirante Ilques Barbosa Junior; e da Aeronáutica, brigadeiro Antonio Carlos Bermudez.
Os bombeiros de sempre entraram no circuito para circunscrever a crise à nota dos militares, que o ministro Gilmar Mendes tirou por menos. No Twitter, disse que tem apreço pelas Forças Armadas, mas reiterou a crítica à presença de Pazuello no Ministério da Saúde, um assunto que também não é pacífico entre os militares da ativa. O general comanda a pasta interinamente. A pretexto de cuidar da logística do combate à epidemia, na prática, opera a “imunização de rebanho”.
É aí que mora o perigo. Estados Unidos e Brasil são responsáveis por metade dos novos casos de coronavírus registrados nas últimas 24 horas em todo mundo. Pazzuelo está perdendo a guerra, camuflado de burocrata no seu gabinete da Esplanada, por mais que a nota do Ministério da Defesa enalteça seu trabalho. No plano internacional, o Brasil virou um pária ambiental e sanitário. Na opinião pública mundial, os heróis nessa história não são os militares, são os índios, que têm suas terras invadidas e, agora, de novo, estariam ameaçados de extinção. Como? Pela covid-19. Bolsonaro é demonizado por seu desapreço pelas florestas e pelos índios.
A população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões, divididos entre 1.000 povos diferentes, sendo 2 milhões no litoral. Em 1650, esse número caiu para cerca de 700 mil indígenas, chegando a 70 mil em 1957. Cerca de 80 povos indígenas desapareceram no Brasil no século XX. Segundo o IBGE, atualmente, há no Brasil cerca de 817 mil indígenas. Desse total, 502 mil encontram-se na zona rural e 315 mil nos centros urbanos. Em apenas 10 das 505 reservas indígenas (12,5% do território brasileiro), somente dez apresentam uma população indígena maior do que 10 mil habitantes.
Luiz Carlos Azedo: A rede do ódio
“O Facebook revelou que as contas canceladas estavam envolvidas com a criação de perfis falsos e ‘comportamento inautêntico’, ou seja, enganavam os usuários das redes sociais”
O chamado “gabinete do ódio”, grupo de funcionários da Secretaria de Comunicação da Presidência da República que opera o jogo bruto do presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e principais apoiadores nas redes sociais, foi praticamente desmantelado no Facebook, que cancelou 35 contas, 14 páginas e um grupo; e no Instagram, no qual eliminou 38 contas. O grupo reunia, aproximadamente, 350 pessoas, que eram seguidas por 883 mil bolsonaristas no Facebook e 917 mil, no Instagram. O Facebook revelou que as contas canceladas estavam envolvidas com a criação de perfis falsos e “comportamento inautêntico”, ou seja, enganavam os demais usuários sobre quem eram e o que faziam nas redes sociais. Foram gastos US$ 1,5 mil em anúncios por essas páginas, pagos em real.
Segundo a empresa, foi possível identificar as ligações dessas pessoas com funcionários dos gabinetes do presidente Jair Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos -RJ) e também dos deputados estaduais Anderson Moraes e Alana Passos, do PSL no Rio de Janeiro. “A atividade incluiu a criação de pessoas fictícias fingindo ser repórteres, publicação de conteúdo e gerenciamento de páginas fingindo ser veículos de notícias”, diz o Facebook. A empresa antecipou-se às conclusões do inquérito presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que investiga ameaças à Corte e aos ministros que a integram, e também da CPMI das Fake News, cujo relator, deputado Angelo Coronel (PSDD-BA), comemorou a decisão.
O grupo usava uma combinação de contas duplicadas e contas falsas para evitar a aplicação de políticas de combate ao conteúdo de ódio e perfis falsos. Não houve divulgação das contas, mas, entre elas, estão os perfis “Jogo Político” e “Bolsonaro News”, no Facebook. Nos Estados Unidos e na Europa, está havendo uma forte reação à utilização das redes sociais para manipular as eleições, como aconteceu nas eleições de 2016, que elegeram Donald Trump. O Congresso norte-americano investigou a suposta interferência da Rússia naquelas eleições, em favor de Trump, e convocou o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, para explicar o caso da Cambridge Analytica, que teria utilizado informações sigilosas dos usuários das redes para manipular as eleições e recebeu uma multa de US$ 5 bilhões da Free Trade Comission (comissão reguladora dos Estados Unidos), por vazamento de dados.
Mais controle
Para evitar complicações judiciais, o Facebook e o Twitter, desde então, resolveram adotar novos procedimentos. No fim do ano passado, o presidente e fundador do Twitter, Jack Dorsey, baniu anúncios políticos da rede social. O presidente e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, porém, manteve os anúncios. Twitter e Facebook têm nos anúncios ou posts patrocinados mais de 80% de suas receitas.
Impulsionamentos fazem com que uma postagem chegue a mais pessoas. O anunciante consegue delimitar seu público, por idade, região, interesses. Com isso, os políticos alcançam públicos específicos e formam bolhas de seguidores. Bolsonaro estruturou sua campanha fazendo isso com eficiência, mas sempre jogando pesado contra os adversários. A rede de perfis falsos e robôs desmantelada, ontem, servia para isso. O modelo era o mesmo da campanha de Trump: fake news.
Em 2016, o portal Breitbart espalhou notícias falsas sobre a candidata democrata Hillary Clinton. O homem forte do Breitbart era Steve Bannon, que foi chefe de campanha de Trump. Aqui no Brasil, nas eleições de 2018, ele também foi o estrategista de Bolsonaro nas redes sociais. Entretanto, o principal canal utilizado foi o WhatsApp. Os disparos em massa patrocinados por empresários fizeram a diferença. Pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Agência Lupa, analisaram mais de 300 grupos de WhatsApp sobre política e constataram que 56% das imagens eram enganosas.
Ontem, o Facebook revelou que os conteúdos publicados nas contas canceladas no Brasil eram sobre notícias e eventos locais, incluindo política e eleições, memes políticos, críticas à oposição, organizações de mídia e jornalistas e sobre a pandemia de coronavírus. O Facebook também removeu contas nos Estados Unidos e na Ucrânia, que miravam audiências internas. No Canadá e no Equador, foram canceladas contas que operavam em outros países: El Salvador, Argentina, Uruguai, Venezuela, Equador e Chile.
Luiz Carlos Azedo: Aposta na hidroxicloroquina
“Com covid-19, Bolsonaro tenta fazer do limão uma limonada, pois se iguala aos brasileiros que contraíram a doença; antes, era visto por eles como vilão da pandemia”
O presidente Jair Bolsonaro testou positivo para covid-19. Sentiu-se mal no domingo, teve febre e dores musculares na segunda-feira e, ontem, ele próprio confirmou o diagnóstico. Aproveitou a oportunidade para anunciar que está se tratando com hidroxicloroquina, desde a segunda-feira. Chegou, inclusive, a divulgar um vídeo no qual toma a terceira dose e incentiva a população a recorrer ao medicamento para se tratar da doença. Com um sorriso irônico, disse que está se sentindo muito bem. O exemplo do presidente da República não deve ser subestimado, para o cidadão comum é como se sua aparente melhora fosse a prova dos nove em relação à eficiência do medicamento, que, até agora, não tem nenhuma comprovação científica. O que têm comprovação são seus efeitos colaterais.
A hidroxicloroquina é um remédio muito utilizado na Região Norte do país, por causa da malária; nas demais regiões, em tratamentos para afecções reumáticas e dermatológicas; artrite reumatoide e lúpus. Seus efeitos colaterais mais comuns são: anorexia, porfiaria, labilidade emocional, cefaleia, visão borrada, arritmia, enjoo, dor abdominal, diarreia e vômito, erupção cutânea e prurido. Deve ser utilizado com muita precaução em pacientes que estejam recebendo medicamentos antiarrítmicos, antidepressivos, antipsicóticos e alguns anti-infecciosos, devido ao aumento do risco de arritmia ventricular. Drogas antiepilépticas podem ser prejudicadas pela hidroxicloroquina.
Como um jogador compulsivo, Bolsonaro se expôs permanentemente ao risco de contaminação, desobedecendo de todas as formas as recomendações de distanciamento social, até contrair a doença. Demitiu dois ministros da Saúde e nomeou um general da ativa para o cargo, Eduardo Pazuello, por causa da não-adoção do medicamento como política de governo. Ordenou ao Exército produzir em seus laboratórios uma quantidade imensa do medicamento, com um estoque suficiente para combater a malária por 18 anos.
O Ministério da Saúde passou a distribuir o medicamento em grande escala, para tratamento precoce, recomendado por médicos que adotam esse procedimento. A maioria dos estudos científicos realizados sob patrocínio da OMS não comprovou a eficácia do medicamento, mas apontou os riscos de seus efeitos colaterais. Mesmo assim a polêmica continuou; muita gente acha que se curou graças à hidroxicloroquina, associada a outros medicamentos. Agora, a polêmica foi novamente intensificada pelo presidente da República.
Limonada
Bolsonaro defende a “imunização de rebanho”, menospreza o isolamento social, critica governadores e prefeitos que adotaram a quarentena e naturaliza as mortes por covid-19, que já comparou a uma “gripezinha”. Ontem, disse que a pandemia é como uma chuva, todo mundo vai se molhar. Estava perdendo a batalha das narrativas sobre a doença na opinião pública, com seu prestígio em baixa nas pesquisas, mas começou uma lenta recuperação de imagem graças ao auxílio emergencial de R$ 600 distribuídos à população de baixa renda, principalmente no Nordeste.
Agora, acometido da covid-19, tenta fazer do limão uma limonada, pois se iguala a todos os brasileiros que contraíram a doença, quando antes era visto como uma espécie de vilão da pandemia. Já se apresenta como pioneiro na defesa do uso de hidroxicloroquina como medicamento eficaz no tratamento precoce. É uma posta de alto risco, que depende mais de suas condições físicas e resistência ao vírus do que da eficácia do remédio. Se a hidroxicloroquina fosse realmente a solução para evitar os casos graves, não haveria tanta letalidade na pandemia e ela já teria sido adotada em todo o mundo, inclusive, nos Estados Unidos, onde seu uso foi defendido pelo presidente Donald Trump, mas não pelas autoridades médicas.
Bolsonaro pretende despachar por videoconferência na residência oficial do Palácio da Alvorada e, talvez, receba auxiliares para assinar documentos. Cancelou as viagens que faria a Bahia e Minas Gerais. No Palácio do Planalto, todos os ministros e funcionários com quem teve contato estão sob observação, mas até agora ninguém testou positivo. Ao todo, 62 pessoas estão sendo monitoradas e rastreadas. Oito governadores e alguns prefeitos já contraíram a doença; nenhum havia se exposto tanto quanto Bolsonaro.
No momento, o caso mais grave é o do prefeito de Manaus (AM), Arthur Virgílio Netto, que está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Bolsonaro foi atendido no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, e é acompanhado pelos médicos da Presidência da República. Pelo protocolo do Ministério da Saúde, o paciente que utiliza hidroxicloroquina precisa autorizar seu médico a adotar a prescrição e correr os riscos dos efeitos colaterais por sua própria conta. Ontem, o Brasil registrou mais de 66 mil mortes por coronavírus, com 1,643 milhão de casos.
Luiz Carlos Azedo: A alegoria de Camus
“A epidemia de meningite só acabou após a vacinação de 80 milhões de pessoas, o que seria impossível com a manutenção da censura sobre a doença”
Publicado em 1947, A Peste, do escritor franco-argelino Albert Camus (1913-1960), é uma alegoria da ocupação nazista. Por isso, fez tanto sucesso não só na França como na Europa do pós-guerra e também na América Latina, inclusive no Brasil, nas décadas de 1960 e 1970. Camus foi um militante da Resistência, mas teve uma posição muito moderada em relação aos que colaboraram com os invasores alemães durante a II Grande Guerra, condenando os “justiçamentos”. Já era um escritor consagrado, com duas obras elogiadíssimas pela crítica: O estrangeiro e O mito de Sísifo.
Albert Camus nasceu em 7 de novembro de 1913 na Argélia, à época uma colônia francesa, cenário de seu romance, que conta a história de uma epidemia na cidade de Oran, no norte daquele país. Em 1940, um médico encontrou um rato morto ao deixar seu consultório. Comunicou o fato ao responsável pela limpeza do prédio. No dia seguinte, outro rato foi encontrado morto no mesmo lugar. A esposa do médico tinha tuberculose e foi levada para um sanatório. A quantidade de ratos aumentou exponencialmente. Em um único dia, oito mil ratos foram coletados e encaminhados para cremação.
Em pânico, a cidade declarou estado de calamidade, as pessoas tinham febre e morriam em massa. Os muros foram fechados, em quarentena, ninguém entrava ou saía; os doentes foram isolados, as famílias, separadas. Enquanto o padre apregoava que tudo aquilo era um castigo divino, prisioneiros eram mobilizados para enterrar os cadáveres, que empilhavam nas ruas: velhos, mulheres e crianças morriam. O livro é uma alegoria da condição de vida regulada pela morte, fez muito sucesso porque era uma crítica ao fascismo e relatava as diferenças de comportamento diante de situações-limite. Fora escrito durante a ocupação militar alemã. Camus foi editor do jornal clandestino Combat, porta-voz dos partisans.
Em 1951, Camus lançou o livro O homem revoltado, no qual condenava a pena de morte e criticava duramente o comunismo e o marxismo, o que provocou uma ruptura com seu amigo e filósofo Jean-Paul Sartre, que liderou seu linchamento moral por parte da intelectualidade francesa. Mesmo depois do Prêmio Nobel de Literatura, em 1957, continuou sendo um renegado para a esquerda. Seu discurso na premiação foi profético. Permanece atual nestes tempos de epidemia de coronavírus.
“Cada geração se sente, sem dúvida, condenada a reformar o mundo. No entanto, a minha sabe que não o reformará. Mas a sua tarefa é talvez ainda maior. Ela consiste em impedir que o mundo se desfaça. Herdeira de uma história corrupta onde se mesclam revoluções decaídas, tecnologias enlouquecidas, deuses mortos e ideologias esgotadas, onde poderes medíocres podem hoje a tudo destruir, mas não sabem mais convencer, onde a inteligência se rebaixou para servir ao ódio e à opressão, esta geração tem o débito, com ela mesma e com as gerações próximas, de restabelecer, a partir de suas próprias negações, um pouco daquilo que faz a dignidade de viver e de morrer”, disse Camus.
Epidemia
Em comemoração aos 60 anos de sua morte, divulgou-se na França um de seus textos da época da resistência, cujo original foi encontrado nos arquivos do general De Gaulle, o presidente francês que liderara a Resistência do exílio. O documento era destinado às forças que combatiam o marechal Pétain e trata de dois sentimentos presentes no contexto da ocupação: ansiedade e incerteza. A ansiedade “em uma luta contra o relógio” para reconstruir o país; a incerteza, em razão do fato de que, “se a guerra mata homens, também pode matar suas ideias”.
A alegoria de A Peste também serve de advertência diante de certas manifestações de apoio ao regime militar implantado após o golpe de 1964, cujo aniversário foi comemorado ontem. Em 1974, o Brasil enfrentou a pior epidemia contra a meningite de sua história. Para evitar o contágio, o governo decretou a suspensão das aulas e cancelou os Jogos Pan-Americanos de 1975, que foram transferidos de São Paulo para o México. A epidemia começou em 1971, no distrito de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Com dor de cabeça, febre alta e rigidez na nuca, muitos morreram sem diagnóstico ou tratamento.
Em setembro de 1974, a epidemia atingiu seu ápice. A proporção era de 200 casos por 100 mil habitantes, como no “Cinturão Africano da Meningite”, que hoje compreende 26 países e se estende do Senegal até a Etiópia. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, com apenas 300 leitos disponíveis, chegou a internar 1,2 mil pacientes. Na época, eu era um jovem repórter do jornal O Fluminense, de Niterói (RJ). Com a cumplicidade de um acadêmico de medicina, conseguimos fotografar pela janela uma enfermaria lotada de crianças com meningite, no Hospital Universitário Antônio Pedro (UFF). A foto foi publicada com a matéria, mas gerou a maior crise política para a direção do jornal, porque a meningite era um assunto censurado pelos militares. A epidemia só acabou no ano seguinte, após a vacinação de 80 milhões de pessoas, que seria impossível com a manutenção da censura sobre a meningite pelo governo do general Ernesto Geisel.
Luiz Carlos Azedo: Uma homenagem póstuma
“Bolsonaro enquadrou Mandetta e responsabiliza governadores e prefeitos pelo desemprego, embora tenham a dura tarefa de conter a epidemia na ponta”
Escrevo antes do pronunciamento de Bolsonaro de ontem à noite, em cadeia de tevê. Pela live que compartilhou no Twitter, a conversa que teve com Luiz Henrique Mandetta obrigou o ministro da Saúde a flexibilizar geograficamente a política de distanciamento social, levando em conta a progressão da doença nos estados. É um perigo, mas Mandetta hasteou a bandeira branca e bateu continência para o presidente da República. Na entrevista coletiva que deu à tarde, deixou isso claro: “Quem comanda este time aqui é o presidente Jair Messias Bolsonaro”, disse. “Tivemos nossas dificuldades internas, isso é público, mas estamos prontos, cada um ciente de seu papel nesta história.”
Não sei qual o acordo que fizeram, mas essa é a ordem natural das coisas num sistema de poder no qual o vértice é o presidente da República. A propósito, Norberto Bobbio, após o assassinato do primeiro-ministro Aldo Moro pelas Brigadas Vermelhas, escreveu uma série de artigos sobre a crise italiana, reunidos numa coletânea publicada no Brasil, intitulada As ideologias e o poder em crise, em tradução de Marco Aurélio Nogueira. Destaco dois deles: a política não pode absolver o crime, no capítulo sobre Os fins e os meios, e Quem governa?, em O mau governo.
A referência a Bobbio veio ao caso devido a uma passagem da entrevista do ministro Mandetta. Em certo momento, no chamamento que fez à união de todos contra a epidemia, disse que as autoridades médicas precisam da ajuda de todos, inclusive das milícias e dos traficantes. O ministro não é nenhum ingênuo, deve ter algum motivo para ter falado isso, mesmo sabendo que seria duramente criticado por essa referência ao crime organizado. A grande dúvida é se fez um apelo dramático por puro desespero, pois estamos num momento crucial do crescimento exponencial da epidemia, ou se realmente houve um pacto do governo Bolsonaro com as milícias e os traficantes.
Não seria a primeira que vez que isso aconteceria, com consequências desastrosas, porque favorece a expansão do crime organizado na sociedade e sua infiltração na política. Por outro lado, é muito fácil fazê-lo, pela via das relações perigosas nos sistemas de segurança pública e penitenciário. Ministro-chefe da Casa Civil, o general Braga Netto, ex-interventor no Rio de Janeiro, conhece bem essas conexões. Qual é a lógica perversa por trás desse raciocínio? Todos sabemos que a epidemia ainda não chegou ao povão, está na classe média alta, e só agora registra os primeiros casos de mortes nas favelas e periferias das grandes cidades e regiões metropolitanas conurbadas, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus. Na prática, isso significa toque de recolher e dura punição nas favelas e nas periferias, numa hora em que o presidente da República pressiona pela flexibilização da política de isolamento social.
Quem governa?
Governos monolíticos nas democracias não existem, ainda mais num sistema federativo e de equilíbrio entre os poderes. Bolsonaro enquadrou Mandetta e responsabiliza governadores e prefeitos pelo distanciamento social e o desemprego. Mas sabe também que os governadores e prefeitos, que têm a dura tarefa de conter a epidemia na ponta, contam com o apoio do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) para agir com autonomia, na esfera de suas competências. Por mais que queira, não existe correlação de forças para Bolsonaro intervir nos estados. É assim que funciona na democracia.
O Estado brasileiro é ampliado, cada ministério é um subgoverno que se relaciona com os demais poderes e esferas de poder com relativa autonomia, além de terem imbricações com agências privadas e grandes setores empresariais. Mas é daí que veio a reação para garantir o funcionamento do sistema de saúde, com produção de suprimentos de proteção individual, equipamentos e aparelhos de saúde para ampliar a capacidade de absorção de pacientes pelos hospitais. Existe um grande business na área da saúde, cujas políticas públicas foram capturadas por grande fornecedores, muitos dos quais importadores, e também algumas máfias, que desviaram recursos ao longo dos anos. Agora, chegou a hora de verdade: os profissionais de saúde estão no comando, o governo está sendo obrigado a inventar um novo orçamento da Saúde e a recriar a indústria do setor.
Nesse aspecto, foi patética a constatação de que os hospitais federais do Rio de Janeiro não têm profissionais para atuar contra a epidemia, assim como os hospitais universitários. O governo federal é responsável por 5% da capacidade hospitalar do país, porém, deveria entrar com mais força, principalmente na montagem de hospitais de campanha e na contratação de profissionais para atuar junto às comunidades de periferia e regiões remotas da Amazônia e nos sertões do Nordeste, resgatando o Programa Mais Médicos.
Finalmente, uma homenagem póstuma ao sanitarista Sérgio Arouca, grande idealizador do SUS, que liderou milhares de profissionais de saúde que hoje estão na linha de frente do combate à epidemia. Lembro-me de duas conversas com ele: na primeira, me disse que a emergência era o ponto mais fraco do sistema, subestimada pela cultura dos sanitaristas; na segunda, lamentou não ter conseguido levar adiante seu programa de agentes comunitários de saúde no Rio de Janeiro, sem os quais seria impossível erradicar a dengue e conter epidemias mais graves nas comunidades pobres.
http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-uma-homenagem-postuma/
Luiz Carlos Azedo: A alegoria de Camus
“A epidemia de meningite só acabou após a vacinação de 80 milhões de pessoas, o que seria impossível com a manutenção da censura sobre a doença”
Publicado em 1947, A Peste, do escritor franco-argelino Albert Camus (1913-1960), é uma alegoria da ocupação nazista. Por isso, fez tanto sucesso não só na França como na Europa do pós-guerra e também na América Latina, inclusive no Brasil, nas décadas de 1960 e 1970. Camus foi um militante da Resistência, mas teve uma posição muito moderada em relação aos que colaboraram com os invasores alemães durante a II Grande Guerra, condenando os “justiçamentos”. Já era um escritor consagrado, com duas obras elogiadíssimas pela crítica: O estrangeiro e O mito de Sísifo.
Albert Camus nasceu em 7 de novembro de 1913 na Argélia, à época uma colônia francesa, cenário de seu romance, que conta a história de uma epidemia na cidade de Oran, no norte daquele país. Em 1940, um médico encontrou um rato morto ao deixar seu consultório. Comunicou o fato ao responsável pela limpeza do prédio. No dia seguinte, outro rato foi encontrado morto no mesmo lugar. A esposa do médico tinha tuberculose e foi levada para um sanatório. A quantidade de ratos aumentou exponencialmente. Em um único dia, oito mil ratos foram coletados e encaminhados para cremação.
Em pânico, a cidade declarou estado de calamidade, as pessoas tinham febre e morriam em massa. Os muros foram fechados, em quarentena, ninguém entrava ou saía; os doentes foram isolados, as famílias, separadas. Enquanto o padre apregoava que tudo aquilo era um castigo divino, prisioneiros eram mobilizados para enterrar os cadáveres, que empilhavam nas ruas: velhos, mulheres e crianças morriam. O livro é uma alegoria da condição de vida regulada pela morte, fez muito sucesso porque era uma crítica ao fascismo e relatava as diferenças de comportamento diante de situações-limite. Fora escrito durante a ocupação militar alemã. Camus foi editor do jornal clandestino Combat, porta-voz dos partisans.
Em 1951, Camus lançou o livro O homem revoltado, no qual condenava a pena de morte e criticava duramente o comunismo e o marxismo, o que provocou uma ruptura com seu amigo e filósofo Jean-Paul Sartre, que liderou seu linchamento moral por parte da intelectualidade francesa. Mesmo depois do Prêmio Nobel de Literatura, em 1957, continuou sendo um renegado para a esquerda. Seu discurso na premiação foi profético. Permanece atual nestes tempos de epidemia de coronavírus.
“Cada geração se sente, sem dúvida, condenada a reformar o mundo. No entanto, a minha sabe que não o reformará. Mas a sua tarefa é talvez ainda maior. Ela consiste em impedir que o mundo se desfaça. Herdeira de uma história corrupta onde se mesclam revoluções decaídas, tecnologias enlouquecidas, deuses mortos e ideologias esgotadas, onde poderes medíocres podem hoje a tudo destruir, mas não sabem mais convencer, onde a inteligência se rebaixou para servir ao ódio e à opressão, esta geração tem o débito, com ela mesma e com as gerações próximas, de restabelecer, a partir de suas próprias negações, um pouco daquilo que faz a dignidade de viver e de morrer”, disse Camus.
Epidemia
Em comemoração aos 60 anos de sua morte, divulgou-se na França um de seus textos da época da resistência, cujo original foi encontrado nos arquivos do general De Gaulle, o presidente francês que liderara a Resistência do exílio. O documento era destinado às forças que combatiam o marechal Pétain e trata de dois sentimentos presentes no contexto da ocupação: ansiedade e incerteza. A ansiedade “em uma luta contra o relógio” para reconstruir o país; a incerteza, em razão do fato de que, “se a guerra mata homens, também pode matar suas ideias”.
A alegoria de A Peste também serve de advertência diante de certas manifestações de apoio ao regime militar implantado após o golpe de 1964, cujo aniversário foi comemorado ontem. Em 1974, o Brasil enfrentou a pior epidemia contra a meningite de sua história. Para evitar o contágio, o governo decretou a suspensão das aulas e cancelou os Jogos Pan-Americanos de 1975, que foram transferidos de São Paulo para o México. A epidemia começou em 1971, no distrito de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Com dor de cabeça, febre alta e rigidez na nuca, muitos morreram sem diagnóstico ou tratamento.
Em setembro de 1974, a epidemia atingiu seu ápice. A proporção era de 200 casos por 100 mil habitantes, como no “Cinturão Africano da Meningite”, que hoje compreende 26 países e se estende do Senegal até a Etiópia. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, com apenas 300 leitos disponíveis, chegou a internar 1,2 mil pacientes. Na época, eu era um jovem repórter do jornal O Fluminense, de Niterói (RJ). Com a cumplicidade de um acadêmico de medicina, conseguimos fotografar pela janela uma enfermaria lotada de crianças com meningite, no Hospital Universitário Antônio Pedro (UFF). A foto foi publicada com a matéria, mas gerou a maior crise política para a direção do jornal, porque a meningite era um assunto censurado pelos militares. A epidemia só acabou no ano seguinte, após a vacinação de 80 milhões de pessoas, que seria impossível com a manutenção da censura sobre a meningite pelo governo do general Ernesto Geisel.
http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-a-alegoria-de-camus/
Luiz Carlos Azedo: Corpo fechado
“Há muita agitação contra a política de distanciamento social. Os aliados de Bolsonaro partiram para cima de prefeitos e governadores”
Os Estados Unidos se tornaram, ontem, o país com mais casos confirmados da Covid-19 no mundo, superando a Itália e a China, com 82 mil registros. O presidente Donald Trump minimizou o fato, com o argumento de que o aumento dos casos se deve à ampliação dos exames. “No fundo, não sabemos quais são os números reais da doença, mas nós testamos um grande número de pessoas e, a cada dia, vemos que nosso sistema funciona”, disse. Trump está preocupado com a economia norte-americana, que corre risco de entrar em profunda recessão. Negociou com o Congresso um pacote de US$ 2 trilhões, que serão injetados na economia e já estão repercutindo positivamente no mercado financeiro mundial.
No Brasil, ontem, o presidente Jair Bolsonaro insistiu na linha de minimizar a doença, a ponto de tripudiar da política de distanciamento social do Ministério da Saúde, que vem sendo seguida por governadores e prefeitos. “Eu acho que não vai chegar a esse ponto”, disse, se referindo aos Estados Unidos. “Até porque, o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Você vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil, há poucas semanas ou meses, e ele já tem anticorpos que ajuda a não proliferar isso daí”, disse.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nos últimos dois dias, o mundo registrou mais de 100 mil novos casos de coronavírus. Ao todo, já são mais de meio milhão de pessoas infectadas. A OMS explicou que os primeiros 100 mil casos da Covid-19 foram registrados em 67 dias, mas foram necessários apenas mais 11 dias para dobrar e atingir 200 mil casos, e outros quatro dias para chegar a 300 mil. Agora, levou dois dias para somar mais 100 mil novos casos ao balanço.
Para reagir à inevitável recessão que a economia mundial sofrerá, o G-20, grupo dos 20 países mais ricos do mundo, do qual o Brasil faz parte, reuniu-se ontem por teleconferência, encontro do qual Bolsonaro tomou parte. A injeção de recursos na economia já programada por esses países deve chegar a R$ 5 trilhões, o que jogou o dólar para baixo de R$ 5 aqui no Brasil, e fez a Bovespa subir 3,67%, chegando a 77,709 pontos.
Desobediência civil
Nas redes sociais, há muita agitação contra a política de distanciamento social adotada pelas autoridades de saúde. Os aliados de Bolsonaro partiram para cima de prefeitos e governadores, estimulando a desobediência civil, o que se traduziu em mobilização de comerciantes, empreendedores e trabalhadores informais nas redes sociais. Com a virada do mês, a falta de dinheiro por causa dos negócios parados aumentou a tensão social, que pode transbordar do ambiente virtual para as ruas. Será muito difícil manter a quarentena a partir deste fim de semana, com o clã Bolsonaro comandando a mobilização contrária. Se isso ocorrer, será uma tragédia.
A posição de Bolsonaro sobre a epidemia contraria a política da Organização Mundial de Saúde (OMS), que recomenda que as pessoas não saiam de casa, a fim de conter a velocidade de propagação da epidemia. Bolsonaro defende uma espécie de salve-se quem puder: “A quarentena vertical tem que começar pela própria família. O brasileiro tem que aprender a cuidar dele mesmo, pô”, disse. É mais ou menos como fez o coronel Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo (1837-1897) na Guerra de Canudos. Os habitantes do arraial, comandados pelo líder religioso Antônio Conselheiro, já haviam rechaçado duas expedições do Exército, entre outubro de 1896 e janeiro de 1897. Mas a derrota da terceira expedição, uma força de 1.300 homens comandada por um dos heróis da Guerra do Paraguai, o coronel Moreira César, o Corta-Cabeças, foi um espanto.
Moreira César era um militar que se esvaía “na barbaridade revoltante”, segundo Euclides da Cunha em Os Sertões. Quando foi capitão, participou do linchamento de um jornalista, Apulcro de Castro. Encarregado de reprimir duas rebeliões contra o governo Floriano Peixoto (a Revolta da Armada, no Rio de Janeiro, e a Revolução Federalista, em Santa Catarina), executou prisioneiros indefesos. Entrou em batalha de salto alto: “Vamos almoçar em Canudos”, anunciou antes de invadir o arraial. O coronel Tamarindo, que assumiu o comando da terceira expedição após a morte de Moreira César, entrou para a história ao comandar a debandada: “É tempo de murici, cada um cuide de si…”. Como Moreira Cezar, foi esquartejado pelos jagunços.
Ontem, a Câmara aprovou um auxílio mensal de R$ 600 a ser pagos aos trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa durante a crise gerada pela pandemia. O valor inicial proposto pela equipe econômica era de R$ 200, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), propôs aumentar para R$ 500, com o argumento de que a proposta do governo era “muito pequena”. Ao saber disso, Bolsonaro não quis ficar para trás: “Está em R$ 500, pode subir para R$ 600. Vê lá com o Guedes”, disse. O ministro da Economia, Paulo Guedes, por enquanto, é o grande mudo nas polêmicas sobre a mudança na política econômica.
http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-corpo-fechado/
Luiz Carlos Azedo: O soldado mais lento
“Enquanto governadores e prefeitos mantêm a política de distanciamento social da Saúde, o ministro Mandetta manobra para não entrar em rota de colisão com Bolsonaro”
Reza a cartilha da infantaria que o ritmo da coluna depende do soldado mais lento, o comandante apenas orienta o rumo da marcha, pois, se acelerar demais, a tropa se dispersa pelo caminho. Formado numa unidade de elite — a Brigada de Paraquedista —, o presidente Jair Bolsonaro conhece os manuais, mas foi treinado para lutar na retaguarda do inimigo, sem front de batalha definido, improvisando muito para chegar aos objetivos. É mais ou menos o que está fazendo na crise do coronavírus, depois de se dar conta de que estava sendo o soldado mais lento, em vez de comandar a coluna.
O bate-boca com o governador de São Paulo, João Doria, que está no epicentro da epidemia, ontem, desnudou as preocupações de Bolsonaro no surpreendente pronunciamento de terça-feira à noite, no qual atacou governadores, prefeitos e a imprensa e criticou a política de distanciamento social: as eleições de 2022. O presidente da República viu na atuação de Doria uma ameaça ao seu projeto de reeleição, porque se deu conta de que a recessão é inevitável, não somente por causa da política de isolamento social: o Brasil já vinha num voo de galinha, frustrando as expectativas geradas pela sua própria eleição, em 2018.
Bolsonaro resolveu mirar a retaguarda dos governadores e prefeitos: os 40 milhões de pessoas ameaçadas de ficarem desempregadas, falidas ou sem nenhuma outra atividade, em razão da crise. A recessão, que está vindo a galope, chegaria de qualquer maneira, porque estamos diante do que pode ser a maior crise da economia mundial desde a Grande Depressão. Se não descobrirem logo uma remédio eficaz para os contaminados e uma vacina que imunize os demais, será inevitável, a não ser que haja uma ação coordenada dos governos das principais economias para mitigar os efeitos da retração global.
Seu discurso teve muita repercussão nas redes sociais e atingiu plenamente o alvo: jogou a culpa da recessão futura nos governadores e prefeitos. Bolsonaro lida com a morte como uma contingência inevitável. Prefere um ciclo breve de epidemia, com uma taxa de letalidade em torno de 3% a 5%, do que uma recessão dessa mesma ordem. Bolsonaro não é médico, que também lida racionalmente com a morte, mas com uma visão humanista, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), um aliado de primeira hora, que, ontem, rompeu com o presidente da República e questionou a autoridade de Bolsonaro para tomar decisões de ordem sanitária.
Entretanto, Bolsonaro faz política pelas redes sociais, que reagiram sob seu comando. Os partidários do presidente ganharam uma nova narrativa, saíram da defensiva e partiram para cima dos governadores e prefeitos, melhorando muito o nível de aprovação de Bolsonaro, que havia despencado nesse ambiente das redes sociais. A aposta no confronto aberto, porém, politizou a epidemia e manteve o clima de polarização eleitoral na sociedade, ainda que de forma completamente extemporânea.
Economia
Enquanto governadores e prefeitos mantêm a política de distanciamento social recomendada pelo Ministério da Saúde, o ministro Luiz Henrique Mandetta manobra para não entrar em rota de colisão com Bolsonaro e acabar moído no confronto. Outros atores também se movimentam. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), negocia a aprovação de cortes de despesas nos três Poderes, inclusive redução temporária de salários de servidores, para destinar mais recursos para a saúde. Esse pacote está sendo elaborado pelo secretário do Tesouro, Mansueto de Almeida. O ministro da Economia, Paulo Guedes, mergulhou. Está sendo eclipsado também pelo presidente do Banco Central (BC), Campos Neto, e pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que já estão sendo cotados para substituí-lo. Guedes é um ultraliberal, dificilmente aceitará uma guinada keynesiano na economia que contrarie frontalmente seus princípios.
Outro personagem importante se movimentou na crise, o vice-presidente Hamilton Mourão, que defendeu o isolamento social como uma política de governo, ao contrário de Bolsonaro. Nos bastidores, comenta-se que seu pronunciamento havia sido combinado com os generais que hoje compõem o Estado-maior do Palácio do Planalto. Na véspera, o comandante do Exército, Leal Pujol, fez um pronunciamento que gerou muitas especulações: “O braço forte atuará se for necessário. E a mão amiga estará mais estendida do que nunca aos nossos irmãos brasileiros”, disse. Trocando em miúdos, reafirmou que a Força é uma instituição do Estado e está em condições operacionais para promover a ajuda humanitária e conter distúrbios sociais, além de evitar que a epidemia chegue aos quartéis e às famílias dos militares.
http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-o-soldado-mais-lento/
Luiz Carlos Azedo: Reflexões sobre a epidemia
“Na cabeça do presidente, não existe guerra sem defuntos: as taxas de letalidade da epidemia são baixas demais para justificar uma recessão econômica”
Quando as ideias liberais clássicas de Adam Smith pareciam consagradas no Ocidente, em meio à corrida mundial para reinventar o Estado, a epidemia de coronavírus virou tudo de pernas para o ar. O revisionismo reformista de Lord John Maynard Keynes parece renascer das cinzas, com sua Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro. Para conter a epidemia, o mundo está mergulhando numa recessão geral, fruto da globalização tanto quanto a propagação do novo coronavírus, que começou na China, tomou de assalto a Europa, se instala nos Estados Unidos e se expande na periferia, na qual países como a Índia e o Brasil se preparam para a uma tragédia anunciada.
Para o keynesianismo, os níveis de consumo, de investimentos público e privados e aplicações dos cidadãos são determinantes da política econômica. Quando eles se retraem, a crise vem a galope. A velha fórmula de Keynes para enfrentar essa situação está sendo exumada por ninguém menos do que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pretende injetar mais de US$ 1 trilhão na economia norte-americana para aliviar o sufoco gerado pela paralisação da economia. A Casa Branca foi o centro da resistência à política de distanciamento social preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), mas capitulou, diante da tomada de Nova York pela epidemia. Da cidade mais rica do mundo, a epidemia se espalha por todos os estados da União.
Como na Grande Depressão de 1929, só o Estado pode conter o atual desequilíbrio da economia. Aquela crise teve outras causas: foi consequência da grande expansão de crédito por meio de oferta monetária (emissão de dinheiro e títulos), que precisou ser freada. O governo parou, começou a enxugar o mercado e a operar uma política de restrição de empréstimos. Temendo a desvalorização da moeda, muitas pessoas e empresas retiraram suas reservas dos bancos, dando início a um processo de recessão.
A solução para esse problema seria controlar a recessão, permitindo a liberdade de preços e salários, até que o mercado se adequasse à nova situação. No entanto, ao contrário disso, o governo passou a exercer arrochado controle sobre os preços e os salários, além de promover aumento de impostos. Isso agravou a recessão e, em cinco dias, a Bolsa quebrou, levando à falência empresas e bancos e, ao desemprego, 12 milhões de pessoas nos Estados Unidos, uma recessão que se alastrou por todo o mundo.
A fórmula de Keynes era os governos aplicarem grandes remessas de capital na realização de investimentos que aquecessem a economia de modo geral, além de linhas de crédito a baixo custo para garantir a realização de investimentos do setor privado e a elevação dos níveis de emprego. Mas isso era uma ofensa ao “livre mercado”. Coube ao presidente Franklin Delano Roosevelt, um homem paraplégico por causa da poliomielite, enfrentar a recessão.
Governador de Nova York desde 1928, disputou e ganhou a Presidência dos Estados Unidos em 1932, prometendo um novo e ousado plano de ação para resgatar a nação dos efeitos da grande depressão. Convenceu os americanos de que não havia mais nada a temer. Empossado em março de 1933, em apenas 100 dias, Roosevelt conseguiu aprovar no Congresso seu plano baseado nas ideias keynesianas. O New Deal (Nova Ordem) garantiu US$ 3,3 bilhões para investir na criação de empregos e na recuperação industrial. Nascia o Estado de bem-estar social.
Errático
Roosevelt propôs programas inovadores, que geraram milhões de empregos, e criou a Lei de Seguridade Social, um plano de aposentadoria com abrangência nacional, a grande herança de seu governo. Reeleito três vezes (1936, 1940 e 1944), morreu pouco antes do fim da II Guerra Mundial, na qual foi um dos Três Grandes, ao lado de Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, e Youssef Stálin, o líder da antiga União Soviética, que comandaram as forças aliadas contra o nazifascismo.
Aqui no Brasil, diante da epidemia de coronavírus, a política econômica ultraliberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, entrou em colapso. Tornou-se insustentável diante da redução da atividade econômica. Na verdade, seus resultados já eram pífios antes da epidemia.. Economistas como Armínio Fraga, Monica de Bolle e André Lara Rezende já vinham questionando o ministro. O mercado já está com saudades do ex-ministro Henrique Meirelles, hoje secretário da Fazenda de São Paulo.
É esse debate que está por trás do embate entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores em relação às medidas de quarentena adotadas nos estados e municípios. Na cabeça do presidente, não existe guerra sem defuntos: as taxas de letalidade da epidemia são baixas demais para justificar uma recessão econômica. O remédio é deixar morrer. Ontem, foi à tevê, em cadeia nacional, para atacar a imprensa, os governadores e os prefeitos e criticar as medidas de distanciamento social adotadas para conter a epidemia, que continua chamando de gripezinha. Quando parecia ter entrado em entendimento com os demais governantes, recrudesceu. Temos um presidente errático em relação à crise que o país enfrenta.
http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-reflexoes-sobre-a-epidemia/