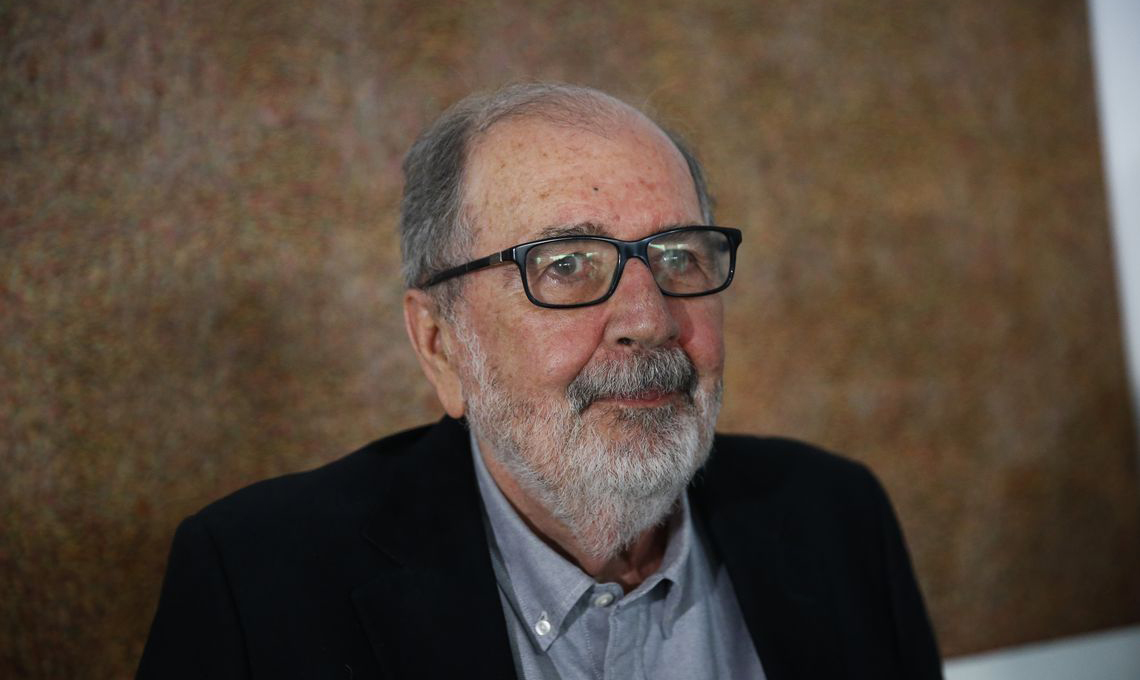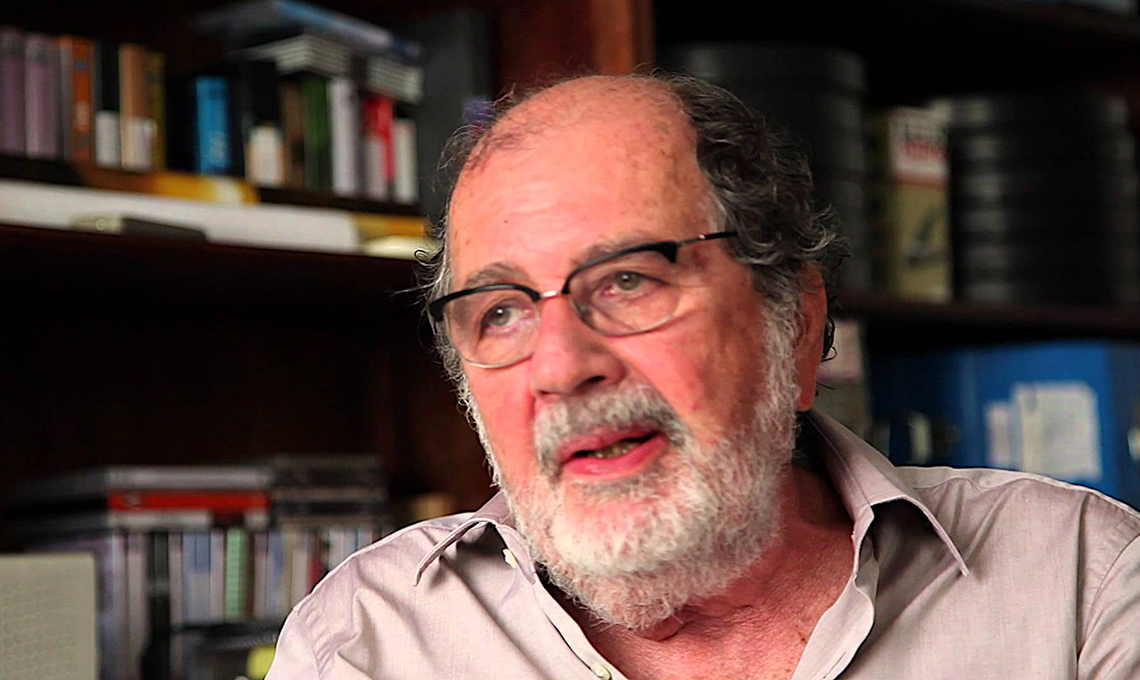cinema
Lilia Lustosa analisa obra de um dos maiores cineastas do país na revista Política Democrática de dezembro
Crítica de cinema aborda longametragem Terra em Trase, do diretor baiano Glauber Rocha
Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP
“Terra em Transe é o terceiro longa metragem de Glauber Rocha (1939-1981), um dos maiores cineastas que o Brasil já teve, considerado louco por muitos, gênio ou visionário por outros, e até ‘profeta alado’ pelo grande historiador e crítico de cinema Paulo Emilio Sales Gomes”. A análise é da doutora em História e Estética do Cinema pela Universidad de Lausanne (UNIL) Lilia Lustosa, em artigo que ela produziu para a revista Política Democrática online de dezembro.
» Acesse aqui a 14ª edição da revista Política Democrática online
Realizado em 1967, o filme gerou enorme polêmica à época de seu lançamento, desagradando em cheio a gregos e troianos, conforme escreve Lilia. “Em um contexto de guerra fria, a direita acusava-o de fazer ‘propaganda subliminar marxista’, incitando a luta de classes; a esquerda o considerava ‘fascista’, já que se via representada na tela como populista e demagoga”, afirma ela.
De acordo com a especialista em crítica de cinema, a única unanimidade em torno do filme era a de que se tratava de uma obra confusa, hermética, praticamente impossível de se entender, um “texto chinês de cabeça para baixo”, como escreveu o direitista Nelson Rodrigues no Correio da Manhã. “Mas o que não se sabia na época é que toda essa confusão havia sido planejada - ou, ao menos almejada - por Glauber, que queria, de fato, que seu filme tivesse o efeito de uma bomba, atirando faíscas para todos os lados”, diz Lilia.
Não por acaso, segundo a análise publicada na revista Política Democrática online, o formato escolhido por ele foi o da alegoria, figura de linguagem/retórica que permite múltiplas interpretações. “Em Terra em Transe, ele já não falava mais de Brasil, não precisando, portanto, temer nem a censura nem os militares. O Golpe acontece em Eldorado, ‘país interno atlântico’, que poderia ser qualquer país da América Latina, até o Brasil!
Leia mais:
» Brumadinho: a dor quase um ano depois da tragédia
» ‘País vive em tempos sombrios’, alerta Martin Cezar Feijó à Política Democrática de dezembro
» ‘Não vejo o governo Bolsonaro capaz de se impor’, avalia Carlos Melo à Política Democrática online
» ‘Governo Bolsonaro envenena o Brasil’, critica Randolfe Rodrigues à revista Política Democrática
» Brasil e Argentina têm nova tensão, explica Rubens Barbosa na Política Democrática de dezembro
» Democracia está sob risco, destaca revista Política Democrática de dezembro
» Veja aqui todas as edições anteriores da revista
Revista Política Democrática || Lilia Lustosa: Uma plateia em transe
Terceiro longa metragem de Glauber Rocha (1939-1981), filme gerou enorme polêmica à época de seu lançamento. Em um contexto de guerra fria, a direita acusava-o de fazer “propaganda subliminar marxista” enquanto a esquerda o considerava “fascista", por se vê representada na tela como populista e demagoga
Estive há pouco em Genebra para falar sobre Terra em Transe (1967) no Festival FILMAR en América Latina, um festival de cinema que acontece nesta cidade desde 1997, extremamente politizado e de fundamental importância para a divulgação do cinema latino-americano. O convite veio da Maison de l’Histoire, da Universidade de Genebra, instituição que elegeu o filme brasileiro em função de seu status de filme cult e, ao mesmo tempo, de sua incrível atualidade.
Terra em Transe é o terceiro longa metragem de Glauber Rocha (1939-1981), um dos maiores cineastas que o Brasil já teve, considerado louco por muitos, gênio ou visionário por outros, e até “profeta alado” pelo grande historiador e crítico de cinema Paulo Emilio Sales Gomes.
Realizado em 1967, o filme gerou enorme polêmica à época de seu lançamento, desagradando em cheio a gregos e troianos. Em um contexto de guerra fria, a direita acusava-o de fazer “propaganda subliminar marxista”, incitando a luta de classes; a esquerda o considerava “fascista”, já que se via representada na tela como populista e demagoga. A única unanimidade em torno do filme era a de que se tratava de uma obra confusa, hermética, praticamente impossível de se entender, um “texto chinês de cabeça para baixo”, como escreveu o direitista Nelson Rodrigues no Correio da Manhã.
Mas o que não se sabia na época é que toda essa confusão havia sido planejada - ou, ao menos almejada - por Glauber, que queria, de fato, que seu filme tivesse o efeito de uma bomba, atirando faíscas para todos os lados. Não por acaso o formato escolhido por ele foi o da alegoria, figura de linguagem/retórica que permite múltiplas interpretações. Em Terra em Transe, ele já não falava mais de Brasil, não precisando, portanto, temer nem a censura nem os militares. O Golpe acontece em Eldorado, “país interno atlântico”, que poderia ser qualquer país da América Latina, até o Brasil!
Assim, o diretor baiano acabou criando uma obra que serviu, e serve até hoje, como disparador de discussões e reflexões sobre a situação política de nosso país e de nosso continente. Não é difícil traçar paralelos entre o Eldorado de 1967 e o Brasil de 2019. O jogo político é o mesmo, tramado a portas fechadas, como nos grandes dramas barrocos, bem longe dos olhos e ouvidos do povo. Terra em Transe mostra uma esquerda populista, que convence o povo de que vai realizar as mudanças necessárias para transformar o país em um lugar mais justo, e uma direita sem escrúpulos, que não aceita perder o poder, dando o bote quando percebe o avanço do inimigo. A esquerda acaba se deixando dominar, porque também tem ali seus interesses…
Ainda que ciente de que de lá pra cá demos largos passos rumo à democracia, me peguei várias vezes conjecturando sobre que tipo de filme Glauber faria hoje… Que tipo de alegoria escolheria para retratar seu país e sua América Latina neste final de 2019? E resolvi terminar minha fala justamente lançando essa pergunta no ar.
Como era de se esperar, com essa escolha, afastei toda e qualquer possibilidade de discussão cinematográfica. As perguntas que se seguiram foram quase todas sobre a atual situação da América Latina. Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Venezuela, Argentina… todas estiveram na boca (e nos corações) do público ali presente. E eu querendo falar de Terra em Transe, querendo apresentar Glauber Rocha, querendo falar de sua genialidade, de sua poética, de sua importância para a cinematografia brasileira. Ora, não sou cientista política e só poderia dar ali uma opinião de leiga, da cidadã brasileira e latino-americana que sou. Confesso que fiquei um pouco frustrada com o rumo que tomava o debate, mas, à medida que as discussões avançavam, fui entendendo que estava sendo ali um instrumento para o que Glauber havia idealizado. Sua obra não fora concebida para ser apenas arte ou objeto estético. Sua obra sempre quis ser (e foi), acima de tudo, um manifesto. Cada um de seus filmes foi construído para gerar discussão, para fazer pensar, para colocar o espectador em situação incômoda, para fazer-lhe refletir sobre o que estava acontecendo a seu redor. Fui-me acalmando e senti que, apesar de não ter conseguido falar muito de Terra em Transe, havia feito valer o papel que Glauber sonhara para seu filme.
E concluí, com ajuda daquela plateia em transe, que infelizmente a alegoria de hoje seguiria sendo uma “alegoria do desencanto”, como é Terra em Transe, chamada assim por Ismail Xavier, maior autoridade em Glauber Rocha.
‘Coringa é um filmaço’, afirma Lilia Lustosa à Política Democrática online
Análise do filme de Todd Phillips é da doutora em História e Estética do Cinema pela Universidad de Lausanne (UNIL)
Cleomar Almeida, da Ascom/FAP
O filme Coringa, do diretor Todd Phillips, “é um filmaço, daqueles que você sai e fica por horas discutindo, refletindo”. A afirmação é da doutora em História e Estética do Cinema pela Universidad de Lausanne (UNIL), Lilia Lustosa, em artigo produzido para a nova edição da revista Política Democrática online. “Excesso de verdade atirada na nossa cara. Excesso quase insuportável quando entendemos que nós, que estamos ali sentados confortavelmente naquela sala de cinema, somos a elite ali representada”, diz ela.
» Acesse aqui a 13ª edição da revista Política Democrática online
O público tem acesso gratuito a todos os conteúdos da revista no site da FAP (Fundação Astrojildo Pereira), que produz e edita a publicação. De acordo com a Lilia Lustosa, “obviamente, Coringa é uma grande alegoria de nossa sociedade, e, por isso mesmo, se permite trabalhar com excessos e metáforas”. Segundo ela, são justamente essas extrapolações ou caricaturas que fazem entender a tela como um espelho do que as pessoas estão se tornando ou do que já são.
Segundo Lilia Lustosa, ao acompanharmos o passo a passo da construção do “monstro” em que vai se convertendo Arthur Fleck (magistralmente interpretado por Joaquin Phoenix), enxergamos muitos conhecidos nossos, quer seja na pele do próprio Arthur, quer seja na pele dos que estão em seu entorno, ajudando a construir a “criatura”.
“Enxergamos, no início, um homem com um sonho: vencer na vida como comediante. Uma pessoa que, apesar das adversidades sociais (pobreza) e psicológicas (doença mental em que não controla o riso), tenta alcançar licitamente seu sonho”, diz ela, no artigo publicado na revista Política Democrática online.
Leia mais:
» “Sem negros, não há Brasil”, diz Ivan Alves Filho à nova edição da Política Democrática online
» Por que a manifestação no Chile? Alberto Aggio responde à Política Democrática online
» ‘Patrão manda passar motosserra na Amazônia’, diz garimpeiro de Serra Pelada
» ‘Tinha escravos nos Palmares’, diz Antonio Risério à revista Política Democrática online
» Nova edição da Política Democrática online analisa desastre do petróleo no litoral brasileiro
Revista Política Democrática || Lilia Lustosa: Coringa — o grito liberado
Minha curiosidade em ver Coringa foi mais forte que minha bronca. Me rendi e digo: valeu cada segundo. Filme é duro de ver, não pelo excesso de violência física, mas pelo excesso de realidade impresso na tela, avalia Lilia Lustosa
Logo que soube que ia sair o Coringa, pensei: mais um blockbuster de heróis! No caso, de anti-herói. Superprodução, efeitos especiais, muito barulho, cortes rápidos, muita ação, pouco tempo para se analisar qualquer coisa, puro cinema de entretenimento. E logo imaginei que isso fosse uma reação da DC Films, que anda perdendo terreno para a Marvel Studios nos últimos anos, com seus Avengers e Panteras Negras da vida.
Confesso que não estava muito animada para vê-lo, até que soube da repercussão que o filme estava tendo nos Estados Unidos, onde chegou mesmo a ser entendido como uma mensagem subliminar contra o governo Trump. E, ainda, do texto que Michael Moore publicou defendendo o filme e ressaltando o valor de sua mensagem em tempos atuais, época sombria, em que tantos medos povoam nossos pensamentos.
Me rendi então à famosa peer pressure e fui assistir ao Coringa, mesmo ciente de que estava em pleno período de “invasão blockbuster”. Ou seja, um único filme hollywoodiano ocupando praticamente todas as salas de cinema da cidade, deixando os piores horários para produções locais ou estrangeiras menores. Mas minha curiosidade foi mais forte que minha bronca. Me rendi e digo: valeu cada segundo!
O filme de Todd Phillips é um filmaço, daqueles que você sai e fica por horas discutindo, refletindo. Um filme, sem dúvida, duro de ver, não pelo excesso de violência física, mas pelo excesso de realidade impresso na tela. Excesso de verdade atirada na nossa cara. Excesso quase insuportável quando entendemos que nós, que estamos ali sentados confortavelmente naquela sala de cinema, somos a elite ali representada. Aquela elite que ataca, que chuta, que discrimina e que, acima de tudo, ignora o que está acontecendo. Elite que desvia o olhar ao passar ao lado de um mendigo dormindo na rua, que fecha rapidamente o vidro do carro quando vê chegar aquele velhinho ou deficiente físico para pedir dinheiro outra vez. Mea culpa.
Obviamente, Coringa é uma grande alegoria de nossa sociedade e, por isso mesmo, se permite trabalhar com excessos e metáforas. E isso assusta! Mas são justamente essas extrapolações ou caricaturas de nós mesmos que nos fazem entender aquela tela como um espelho do que estamos nos tornando ou, quem sabe até, do que já somos.
Ao acompanharmos o passo a passo da construção do “monstro” em que vai se convertendo Arthur Fleck (magistralmente interpretado por Joaquin Phoenix), enxergamos muitos conhecidos nossos, quer seja na pele do próprio Arthur, quer seja na pele dos que estão em seu entorno, ajudando a construir a “criatura”. Enxergamos, no início, um homem com um sonho: vencer na vida como comediante. Uma pessoa que, apesar das adversidades sociais (pobreza) e psicológicas (doença mental em que não controla o riso), tenta alcançar licitamente seu sonho. Vemos, então, ao longo do filme, vários gestos de bondade (como o cuidado com a mãe velha e doente) e até mesmo de ingenuidade, transmitidos por aquele corpo frágil que não se faz compreender nem pela assistente social que deveria ajudá-lo. No entanto, o descaso e a ignorância dos que detêm o poder (políticos, empresários, imprensa, artistas, assistentes sociais, “meninos de Wall Street” etc.) vão minando a conta-gotas a bondade que resta naquele corpo solitário e sofrido.
Não à toa, o Coringa de Phillips é cheio de referências implícitas e explícitas ao grande Charles Chaplin, que sabia tão bem dosar o riso e a dor. Quem melhor, na história do cinema, soube e teve coragem de levar às telas comédias de aparência ingênua e que eram, na verdade, grandes críticas à sociedade moderna?
Não, definitivamente Coringa não é uma apologia à violência, como muitos clamam por aí. Ao contrário. O triunfo do Coringa, aplaudido em seu ato final, não é pelos assassinatos que cometeu, muito menos pelo monstro em que se transformou. Sua grande vitória – e por isso as palmas –, é ter-se feito ouvir e, assim, ter liberado o grito de milhões de “palhaços” que vivem na penumbra, escondidos atrás de máscaras que lhes roubam a identidade. É de ter dado voz aos “invisíveis”. É de ter despertado uma camada da sociedade que vinha aguentando as pequenas violências do dia a dia sem nada fazer.
O filme de Todd Phillips me fez pensar na tela O Grito, de Edvard Munch. É isso: Coringa é a liberação daquele grito sufocado, que tenta escapar de dentro de um ser deformado pela sociedade, de uma figura contorcida de dor e sofrimento. É a materialização daquele grito, do pedido de socorro de nossa gente!
‘Bacurau, muitos amaram, outros odiaram’, afirma Martin Cezar Feijó
Historiador faz comentário do filme em artigo de sua autoria publicado na nova edição da revista Política Democrática online
“Bacurau (Brasil, 2019), dos brasileiros Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, é um filme polêmico, gerou debates polarizados, muitos amaram, outros odiaram, nem sempre por razões cinematográficas, em grande parte por razões políticas e ideológicas, mas, antes de tudo, é um filme. E bom. Cumpre o que se propõe: contar uma história atual, mesmo que anuncie se passar em um futuro próximo”. O comentário sobre o filme é do historiador Martin Cezar Feijó, em artigo de sua autoria publicado na nova edição da revista Política Democrática online, produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), vinculada ao Cidadania, em Brasília.
» Acesse aqui a 12ª edição da revista Política Democrática online
Feijó, que também é doutor em comunicação pela USP e professor de comunicação comparada na FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), ressalta que o objetivo do seu texto não é fazer uma crítica cinematográfica, mas um comentário cultural. “O filme estreou mundialmente no Festival de Cannes deste ano e levou o Prêmio do Júri. O que não é pouco”, lembra.
O autor ressalta que o filme também ganhou como melhor filme no Festival de Munique. E deve participar ainda em muitas competições internacionais. “Está, portanto, fazendo uma carreira internacional vitoriosa, com boas avaliações em Paris ou Nova York, por exemplo. E, o mais importante, atraindo um grande público. Um filme que se assiste com grande atenção”, afirma.
Com um grande elenco. E que conta uma história original, da ameaça a uma comunidade por um grupo de atiradores estrangeiros, dotados de aparelhos sofisticados como drones e se comunicando em inglês através de satélites. “A população da cidade também, apesar de pobre, é bem atualizada, reconhecendo tecnologias e até reclamando quando não recebe sinais para seus aparelhos de telefones celulares”, observa.
Os invasores, segundo o autor, apesar de serem em sua maioria constituídos de norte-americanos, têm entre eles dois brasileiros da região Sudeste, revelando no decorrer do filme um divertimento entre pessoas que querem descarregar frustrações alvejando uma população pobre impunemente. Até com a ajuda de líderes políticos regionais.
Integram o conselho editorial da revista Alberto Aggio, Caetano Araújo, Francisco Almeida, Luiz Sérgio Henriques e Maria Alice Resende de Carvalho. A direção da revista é de André Amado.
Leia mais:
» Garimpeiros deflagram guerra silenciosa em Serra Pelada, mostra Política Democrática online
» ‘Diálogos da Lava Jato são divulgados de maneira homeopática’, afirma Henrique Herkenhoff
» Bolsonaro está perturbado por seus próprios demônios, afirma Marco Aurélio Nogueira
» ‘Cultura deveria funcionar dentro do Ministério da Educação’, diz Caio de Carvalho
Revista Política Democrática || Martin Cezar Feijó: Bacurau - um faroeste do século 21
O artigo de Martin Cezar Feijó, segundo o autor, não tem o objetivo de fazer uma crítica cinematográfica, mas um comentário cultural. Polêmico, Bacurau é, antes de tudo, um filme, cumprindo o que se propõe: contar uma história atual
Bacurau (Brasil, 2019), dos brasileiros Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, é um filme polêmico; gerou debates polarizados; muitos amaram, outros odiaram, nem sempre por razões cinematográficas, em grande parte por razões políticas e ideológicas; mas, antes de tudo, é um filme. E bom. Cumpre o que se propõe: contar uma história atual, mesmo que anuncie se passar em um futuro próximo.
Até porque o objetivo deste texto não é fazer uma crítica cinematográfica, mas um comentário cultural. O filme estreou mundialmente no Festival de Cannes deste ano e levou o Prêmio do Júri. O que não é pouco. Também ganhou como melhor filme no Festival de Munique. E deve participar ainda em muitas competições internacionais.
Está, portanto, fazendo uma carreira internacional vitoriosa, com boas avaliações em Paris ou Nova York, por exemplo. E, o mais importante, atraindo um grande público.
Um filme a que se assiste com grande atenção. Com um grande elenco. E que conta uma história original, da ameaça a uma comunidade por um grupo de atiradores estrangeiros, dotados de aparelhos sofisticados como drones e se comunicando em inglês através de satélites. A população da cidade também, apesar de pobre, é bem atualizada, reconhecendo tecnologias e até reclamando quando não recebe sinais para seus aparelhos de telefones celulares.
Os invasores, apesar de serem em sua maioria constituídos de norte-americanos, têm entre eles dois brasileiros da região Sudeste, revelando no decorrer do filme um divertimento entre pessoas que querem descarregar frustrações alvejando uma população pobre impunemente. Até com a ajuda de líderes políticos regionais.
Uma questão social vem à tona no decorrer da narrativa. Racistas demonstram todo um ódio quando descarregam nos brasileiros do grupo muitos tiros por “não terem entendido” que deveriam respeitar regras e serem submissos a seus “superiores” estrangeiros.
É neste ponto que o filme revela seu caráter político – na linha de Brecht, até didático –, assim como fica explicita uma vocação para aderir a uma resistência que se organiza na comunidade. Até um proscrito foragido é convocado à resistência, que desenterra armas para a população se preparar para o enfrentamento ao ataque de que está sendo ameaçada.
O tiroteio corre solto, os invasores são mortos até entre si, e suas cabeças cortadas, lembrando a morte dos cangaceiros liderados por Lampião, em 1938.
Enquanto gênero, Bacurau pode ser visto como parte de um cinema de ação, conhecido como western. Até pela localização geográfica em que a ação se passa – Oeste de Pernambuco.
Western, um gênero decisivo, a ponto de o crítico francês André Bazin escrever que o gênero se confunde com o próprio cinema. E que mantém sua vitalidade, apesar das variações, em toda a história do cinema. Bacurau é definido por um de seus diretores, Kleber Mendonça Filho, em entrevista à revista Veja, como um faroeste e não um panfleto, como às vezes é visto e analisado. Claro que o filme faz referências não só aos filmes de faroeste, como ao maior cineasta da história do cinema brasileiro, Glauber Rocha, para quem o cangaço e o messianismo, a partir de Euclides da Cunha, demonstram um Brasil pouco conhecido nas metrópoles.
Mas Bacurau é, antes de tudo, um filme. Um filme de ação. Violento, sim. Mas que deve ser visto em sua estrutura narrativa como um filme que provoca emoções, uma catarse. Que alguns amam, outros odeiam. Um filme político na melhor tradição do cinema, que entretêm e faz pensar nesses tempos sombrios em que a cultura vem sendo cerceada de várias formas, de censura a bloqueios burocráticos. Portanto, é muito bom o sucesso de um filme que emociona, conta uma história de ação e resistência, e enfrenta uma situação que revela nos comentários emitidos muito mais uma relação subjetiva e, portanto, ideológica, do que estética.
Que Bacurau siga sua trilha de sucesso e abra caminhos para mais filmes ousados no cinema brasileiro.
Luiz Carlos Azedo: Política, sexo e religião
“Não há força no mundo capaz de mudar a realidade das famílias policêntricas e multiétnicas, nem a complexidade das identidades de gênero no estilo de vida contemporâneo”
Clássico da sociologia brasileira, Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, é uma obra polêmica desde sua primeira edição, em 1933, pois desnudou aspectos da formação da sociedade que a elite da época se recusava a considerar. Teve mais ou menos o mesmo impacto de Os Sertões, de Euclides da Cunha, lançado em 1902, a maior e mais importante reportagem já escrita no Brasil. Seu autor descreveu com riqueza de detalhes as características do sertão nordestino e de seus habitantes, além de narrar, como testemunha ocular, a Guerra de Canudos, no interior da Bahia, uma tragédia nacional.
Nas palavras de Antônio Cândido, o lançamento de Casa-Grande & Senzala “foi um verdadeiro terremoto”. À época, houve mais críticas à direita do que à esquerda; com o passar do tempo, porém, Freyre passou a ser atacado por seu conservadorismo. Essa é uma interpretação errônea da obra, por desconsiderar o papel radical que desempenhou para desmistificar preconceitos e ultrapassar valores desconectados da nossa realidade: “É uma obra surpreendente e esclarecedora sobre a formação do povo brasileiro — com todas as qualidades e seus vícios”, avalia Cândido. Consagrou “a importância do indígena — e principalmente do negro — no desenvolvimento racial e cultural do Brasil, que é um dos mais complexos do mundo.”
O presidente Jair Bolsonaro talvez tenha lido Os Sertões, de Euclides da Cunha, porque a Guerra de Canudos faz parte dos currículos das academias militares. Esse foi o livro de cabeceira dos jovens oficiais que protagonizaram o movimento tenentista, servindo de referência para toda a movimentação tática da Coluna Prestes (1924-1927), que percorreu 25 mil quilômetros pelo interior do país. Certamente, porém, não leu Gilberto Freyre, obra seminal sobre a formação da cultura brasileira, traduzida em diversos países. Se o fizesse, talvez conhecesse melhor e respeitasse mais os “paraíbas”, como são chamados os nordestinos por aquela parcela dos cariocas que se acha melhor do que os outros. Ser paraibano é naturalidade, não é pejorativo.
Mas voltemos ao leito antropológico do sociólogo pernambucano. A ideia de que o livro defende a existência de uma “democracia racial” no Brasil, disseminada pelos críticos de Freyre, é reducionista. Casa-Grande &Senzala exalta a formação de nosso povo, mas não esconde as mazelas de uma sociedade patriarcal, ignorante e violenta. A origem dessa crítica é o fato de que o autor destaca a especificidade de nossa escravidão, menos segregacionista do que a espanhola e a inglesa. O colonizador português não era um fanático religioso católico como o espanhol nem um racista puritano como os protestantes ingleses.
Família unicelular
Tanto que Casa-Grande & Senzala escandalizou o país por causa dos capítulos sobre a sexualidade do brasileiro. Entretanto, não foram os indígenas nem os negros africanos que criaram a fama de promíscuo sexual do brasileiro. Foi o sistema escravocrata e patriarcal da colonização portuguesa, que serviu para criar um ambiente de precocidade e permissividade sexuais. Tanto os índios quanto os negros eram povos que viam o sexo com naturalidade, sem a malícia sensual dos europeus.
Freyre lutou como um gigante contra o racismo “científico”, que atribuía aos indígenas e ao africano as origens de nossas mazelas sociais. Há muito mais o que dizer sobre a sua obra, mas o que a torna mais atual é a agenda de costumes do presidente Jair Bolsonaro, que reproduz, em muitos aspectos, características atrasadas e perversas do patriarcado brasileiro, que estão na raiz da violência, da ignorância e do preconceito contra os índios, os negros e as mulheres.
Bolsonaro estabeleceu com eixo de sua atuação a defesa da fé, da ordem e da família. Há um forte ingrediente eleitoral nessa estratégia, mas não é somente isso. Há convicções de natureza “terrivelmente” religiosas e ideológicas, que não têm correspondência com o modo de vida e o imaginário da maioria da sociedade brasileira, com os nossos costumes e tradições, pautados pelo sincretismo e pela miscigenação. No Brasil, tudo é mitigado e misturado, não existe pureza absoluta. Além disso, não se pode fazer a roda da História andar para trás. A família unicelular patriarcal, por exemplo, é minoritária, nem o clã presidencial manteve esse padrão; não há força no mundo capaz de mudar a realidade das famílias policêntricas e multiétnicas, nem a complexidade das identidades de gênero no estilo de vida contemporâneo.
Um dos equívocos de Bolsonaro é acreditar que pode aprisionar a cultura nacional no âmbito dos seus dogmas. Quando investe contra o cinema nacional, a pretexto de que obras como Bruna Sufistinha, um blockbuster da nossa indústria cinematográfica, são mera pornografia e não um retrato da prostituição no Brasil, sua motivação é mais política do que religiosa. Na verdade, deve estar mais incomodado com filmes como Marighella e Democracia em vertigem, que glamoriza a luta armada e enaltece o ex-presidente Luiz Inácio Lula das Silva, respectivamente. Uma coisa é a crítica à obra cinematográfica, outra é o dirigismo oficial à produção cinematográfica, numa ótica que lembra o cinema produzido durante a II Guerra Mundial.
Pura perda de tempo. Com “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”, o Cinema Novo emergiu como resposta à falta de recursos técnicos e financeiros. O que temos hoje no cinema brasileiro resulta da centralidade dada por Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e outros cineastas à discussão dos problemas e questões ligadas à “realidade nacional” e a uma linguagem inspirada na nossa própria cultura. “Domesticar” a cultura popular é uma tarefa tão inglória como foi a censura à música popular no regime militar, tanto quanto obrigar os jovens a manter a virgindade até o casamento e mandar os gays de volta para dentro dos armários.
http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-politica-sexo-e-religiao/
Cacá Diegues: Um Oscar novo
A inteligência e o entretenimento se somam em Hollywood para formalizar o reconhecimento de uma nova cultura
Há certos assuntos que a humanidade vive e discute há muito tempo. A migração, por exemplo, não é um tema de prática e teoria novas, embora, em anos recentes, tenha se tornado referência nos debates sobre o presente e o futuro do ser humano no planeta. A migração está na origem do reino do ser humano sobre a Terra, se levarmos em conta os movimentos de populações inteiras pelo globo afora, em todos os tempos. O homo sapiens surgiu em algum lugar da África e se deslocou para outros continentes até chegar à América, sua mais recente e grande migração. O ser humano, seja por que motivo for, nunca ficou parado para sempre num mesmo pedaço de terra.
Hoje, repetindo o passado, assistimos a um movimento trágico de populações africanas que se deslocam de suas origens, fugindo da fome e da guerra, duas formas brutais de extermínio humano, rumo sobretudo à Europa, a esperança mais próxima. Em alguns países alvos desses movimentos, como a Alemanha, já se organizaram as formas de recepção e acolhimento desses povos, de acordo com as leis locais e as características socioeconômicas de cada um. Em outros, como alguns centro-europeus, o horror ao migrante se revela em sinais brutais de racismo e xenofobia, de recusa sistemática dos necessitados, que acabam desajustados nas fronteiras ou no fundo sinistro do Mediterrâneo.
Em países mais longínquos, ondas migratórias se deram desde muito tempo atrás, fazendo parte da própria formação da nação, mesmo que setores políticos reacionários não as desejem e tentem negá-las. Como nos Estados Unidos ou no Brasil. No caso americano, o Oscar deste ano nos revela surpreendente superação de preconceitos multiétnicos.
Entre as obras que disputam as diferentes categorias nesse 91º Oscar, fora os específicos filmes falados em outra língua que não o inglês, há trabalhos e diretores vindos de México, Grécia, Alemanha, Polônia, Suécia, Dinamarca, além de cinco cineastas negros, etnia que nunca se deu bem nessas premiações, sempre esquecida graças aos preconceitos racial, social e cultural. Esses cineastas negros são herdeiros dos “migrantes compulsórios”, trazidos da África para serem escravos no Novo Mundo branco de ascendência europeia. Tornados cidadãos americanos na segunda metade do século XIX, durante a presidência de Abraham Lincoln, só no século seguinte, a partir do governo de John F. Kennedy, em 1962, eles conquistaram com muito sofrimento seus direitos civis e passaram a ser obrigatoriamente tratados como qualquer outro dos diferentes migrantes que construíram a nação.
O Oscar é um prêmio corporativo, seus vencedores são escolhidos pelos profissionais de Hollywood, executivos, técnicos e talentos que fazem a grandeza do cinema americano, para o bem ou para o mal. Essa tendência atual, aparentemente consolidada, de premiar o que se julga de qualidade, sem restrições de preconceitos, não é um esforço institucional, nem uma política de Estado (mesmo porque não seria essa a política do atual presidente Donald Trump). Mas a confirmação de um desejo e de um projeto em que a inteligência e o entretenimento se somam para formalizar o reconhecimento de uma nova cultura que seja o resultado de todas as influências que formaram a complexidade do país.
Claro, falta ainda fazer justiça às mulheres atrás das câmeras. Embora algumas produtoras estejam indicadas pelos filmes que produziram, as listas dos indicados não incluem diretoras ou técnicas de qualquer natureza. Mas não se pode subestimar uma premiação que indica, entre os oito melhores filmes, dois dirigidos por estrangeiros (“A favorita”, do grego Yorgos Lanthimos, e “Roma”, do mexicano Alfonso Cuarón) e dois por cineastas negros (“Infiltrado na Klan”, de Spike Lee, e “Pantera Negra”, de Ryan Coogler). Se formos analisar essa tendência pela indicação dos candidatos ao Oscar de melhor diretor, veremos ainda que, dos cinco indicados, três são estrangeiros (Lanthimos, Cuarón e o polonês Pawel Pawlikowski), um é afro-americano (Lee) e só o quinto, Adam Mckay, nascido na Filadélfia, é certamente um autêntico sucessor dos migrantes fundadores do Mayflower.
Tão significativa quanto a extensão do reconhecimento a todos os filhos de um país formado por tantos povos, como os Estados Unidos, é também a natureza cinematográfica dos principais filmes indicados. Do blockbuster afro-americano de “Pantera Negra” à dramédia politizada de “Green Book”, do estranhamento agressivo de “A favorita” ao politicamente explosivo de “Vice”, do romance bélico de “Guerra Fria” ao épico documental de “Roma”, esse Oscar decreta a superação do realismo naturalista que dominou os últimos festivais internacionais com filmes bem intencionados sobre fait divers políticos, cheios de piedade social e conformismo estilístico, apontando agora para o futuro do cinema.
Correio Braziliense: Brasília Patrimônio Vivo - Cinema
Brasília, para sempre, um eterno cineclube
Como sempre, houve o dedo dos criadores, que trouxeram a nata da intelectualidade brasileira para fazer da capital um projeto inovador. Com o cinema, não foi diferente. Graças a pioneiros, como Paulo Emílio Sales Gomes e Nelson Pereira dos Santos, tivemos o primeiro curso superior de cinema no país e temos um dos mais prestigiados festivais. A 13ª edição do Brasília, patrimônio vivo: os protagonistas da história da capital mostra talentos da produção audiovisual.
Sem fronteiras nem limites, um fluxo constante de sonhos
Estamos falando de cinema, e quem o descreveu assim, como uma caminho ilimitado, para a imaginação, foi Orson Welles. Brasília permanece firme nessa trajetória
"Sem fronteiras nem limites, um fluxo constante de sonhos". Este texto poderia ser composto só de nomes, além da frase do ator, produtor e cineasta norte-americano Orson Welles: “O cinema não tem fronteiras nem limites. É um fluxo constante de sonho”. Em Brasília, não faltou nem falta a ousadia para sonhar e transformar roteiros em arte nas telas.Foram tantos os que contribuíram para tornar Brasília um importante polo do cinema nacional, que fica difícil resumir, numerar, escalar, elencar ou reduzir a páginas. Atores, produtores, diretores, professores, há um sem número de pessoas que transformaram Brasília em referência na produção e na disseminação da produção audiovisual brasileira.
Referência porque aqui foi concebido o primeiro curso superior de cinema no Brasil. Porque para cá vieram, por força da Universidade de Brasília, as grandes cabeças do cinema nacional. Porque a capital é sede ainda hoje de um dos mais prestigiados e queridos festivais, que premia e evidencia os talentos da produção brasileira.
O 13° suplemento da série Brasília, patrimônio vivo: a história dos protagonistas da capital, parceria entre o Correio Braziliense e o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), é sobre cinema. Resgatamos a história de alguns pioneiros, mas também mostramos quem são os novos talentos que estão movimentando a arena cinematográfica da capital.
Recordar é viver; lembrar é homenagear
Afonso Brazza

O que dizer do ator e cineasta Afonso Brazza, o Rambo do Cerrado, nosso bombeiro-cineasta? Ele começou cedo e, infelizmente, morreu cedo, aos 48 anos, em 2003, por complicações decorrentes de um câncer no esôfago. Nasceu José Afonso dos Santos Filho, em São João do Piauí. Foi criado no Gama, para onde os pais migraram, e teve uma infância difícil.
Legítimo representante do cinema trash, Brazza deixou um filme inacabado, Fuga sem destino. Coube ao amigo e também cineasta Pedro Lacerda, diretor de Vidas vazias e as horas mortas, finalizar a produção, apresentar a Brasília e lutar pela preservação do acervo e da memória do nosso Rambo.
Paulo Emílio Sales Gomes

Historiador, crítico de cinema, ensaísta, professor e militante político, o paulista Paulo Emílio tem enorme importância para o cinema brasileiro e, especialmente, para Brasília se firmar como polo de produção audiovisual. Criador da Cinemateca Brasileira, do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, ele chegou a Brasília logo após a inauguração.
Em 1964, a convite de Pompeu de Souza, criou, com Nelson Pereira dos Santos e outros, o curso de Audiovisual da Universidade de Brasília, o primeiro do tipo no Brasil. No ano seguinte, o curso seria dissolvido após o governo militar cassar 15 professores da universidade – em solidariedade, os outros professores demitiram-se.
Em 1965, Paulo Emílio integrou uma comissão de intelectuais, escolhidos pela Fundação Cultural do Distrito Federal, para fundar a 1ª Semana do Cinema Brasileiro, que, dois anos depois, seria renomeada como Festival de Brasília, o mais antigo do país.
Em homenagem ao professor, em 2016, ano do centenário de nascimento de Paulo, o Festival criou, como homenagem a figuras da área, a medalha “Paulo Emílio Sales Gomes”, que foi dada a Jean-Claude Bernardet, outro criador do curso da UnB, e Nelson Pereira dos Santos. Foi um ferrenho defensor e militante do cinema nacional. Morreu em 1977, aos 60 anos.
Aos 12 anos, foi morar em São Paulo. Lá, conheceu José Mojica, o Zé do Caixão. Trabalhava numa pastelaria de manhã e, à noite, frequentava a Boca do Lixo, participando da equipe técnica e elenco de diversas produções.
Voltou a Brasília, já casado com a atriz Claudete Joubert, tornou-se bombeiro, mas nunca deixou de ser cineasta. Sem recursos, filmava do jeito que dava e ganhou um público especial. O autor de Inferno no Gama e Gringo não perdoa, mata chegou a conseguir público recorde com Tortura selvagem, mantendo-se no cinema por quatro semanas.
Geraldo Moraes
Ele foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento e reconhecimento da produção audiovisual brasileira. O cineasta Geraldo Moraes, que morreu no ano passado, aos 78 anos, foi presidente do Congresso Brasileiro de Cinema e secretário de Audiovisual e Planejamento do Ministério da Cultura. Coordenou a regulamentação da lei do audiovisual, além de outras atuações políticas importantes para o cinema nacional.
Radicou-se em Brasília em 1967, depois de ampla vivência com o cinema em Porto Alegre, onde viveu a infância e a adolescência, e em Goiânia, para onde seguiu depois do golpe de 64, ajudando a montar o Departamento de Cinema do estado de Goiás.

Na capital federal, foi professor da UnB, onde criou o CPCE — Centro de Produção Cultural e Educativa, a partir de um convênio com o BID, onde produziu ampla documentação audiovisual da Região Centro-Oeste.
Nos anos 1970, realizou dois curtas-metragens, escreveu e dirigiu peças teatrais e começou a preparar seu primeiro longa, A difícil viagem (1981). Dirigiu também os longas Círculos de fogo (1990), No coração dos deuses (1997) e O homem mau dorme bem (2009).
O cineasta tinha também vários livros publicados. Seus seis filhos seguiram no ramo de comunicação: Márcio (diretor de animação), Marta (jornalista), Denise (cineasta e professora de cinema), Paulo (produtor de televisão), André (músico e diretor de cinema e televisão) e Bruno (ator e cineasta).
Nelson Pereira dos Santos
Ele levou para as telas clássicos da literatura, como Vidas secas e Memórias do cárcere. Montou o primeiro longa-metragem de Glauber Rocha, Barravento. Foi precursor do Cinema Novo e o primeiro cineasta a ocupar cadeira na Academia Brasileira de Letras. Foi vencedor do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, com Tenda dos Milagres, em 1977. Premiado também em Cannes, Gramado e Havana. Também foi homenageado no festival e com a medalha Paulo Emílio Salles Gomes.

O genial mestre de clássicos, como Rio, 40 graus, foi um dos grandes mentores do cinema brasileiro. Também tem um vínculo estreito com Brasília. Jornalista, documentarista da realidade nacional, tornou-se um dos pioneiros fundadores do curso de cinema da UnB, de onde foi professor. Também fundou o Polo de Cinema e Vídeo do Distrito Federal. Tinha grande ligação com a capital, que ambientou parte de suas produções, como Brasília 18 graus. Nelson era paulista e morreu no Rio de Janeiro, aos 89 anos, em abril deste ano.
Brasília por quem é daqui

Nascido em Brasília, o diretor, roteirista e editor Santiago Dellape, 35, busca retratar a cidade fora dos lugares-comuns de quem conhece a capital por cartões-postais. Funcionário público há oito anos, ele sabe bem como é a rotina burocrática da cidade e transporta para as telas particularidades da vida brasiliense. Com um longa, seis curtas e um telefilme no currículo, Santiago encara o cinema como uma segunda profissão e acumula projetos e planos para novas produções.
O gosto pelo cinema cresceu na época da faculdade. Filho de jornalistas, ele seguiu o caminho dos pais, mas, ainda na UnB, se envolveu com audiovisual e fez seus primeiros filmes. “Peguei dupla habilitação. Eu me formei em jornalismo e em audiovisual ao mesmo tempo. Uma banca foi às 8h e outra, às 10h”, conta.
Nada consta, um dos curtas apresentados como projeto de conclusão de curso, recebeu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 2007. “Foi o primeiro reconhecimento relevante da minha carreira”, diz ele.
Desde então, foram várias premiações. Entre as mais importantes, uma menção especial do júri do Fantasporto, maior festival de cinema de Portugal e um dos maiores festivais de gênero do mundo, em 2017, pelo longa A repartição do tempo. E o prêmio de melhor curta pelo júri popular de Gramado para Ratão, em 2010. “A gente acertou a mão bonito no Ratão, deu muito certo e virou meu melhor portfólio”, admite.
Fã de filmes da sessão da tarde e de diretores como John Hughes, Robert Zemeckis e Richard Donner, responsáveis por clássicos dos anos 1980 e 1990, ele tem clara referência estética nas produções a que assistia na infância e adolescência. “Esses filmes despertaram em mim a paixão pelo cinema. Gosto dessa coisa meio despretensiosa e de gêneros pouco explorados pela produção nacional, como terror, ficção científica e ação”, explica. Entre outras inspirações, estão os irmãos Coen — diretores de O Grande Lebowski, seu filme favorito —, Quentin Tarantino, e os brasileiros Fernando Meirelles, José Padilha e Beto Brant.
Longa
Dividido entre vários projetos, Santiago concluiu em 2016 seu primeiro longa, A repartição do tempo. Da concepção à chegada às telas, no início deste ano, foram mais de seis anos. Ele trabalha, agora, para levar o filme aos Estados Unidos. “As exigências para entrar no mercado do país são inacreditáveis e, ironicamente, o filme fala exatamente sobre burocracia”, diz Santiago, que investiu dinheiro do próprio bolso para finalizar a obra.
O longa inspirou o telefilme Meio expediente, produzido para a Rede Globo, no fim de 2017, na qual foram mantidas “as cores de Brasília”, como o elenco, a equipe e a trilha sonora da cidade. O filme foi exibido em rede nacional e em 77 países.
“Era para ter sido exibido só no DF, mas acho que o resultado ficou tão legal que eles passaram em todo o Brasil, no dia 26 de dezembro”, comemora. “Marcamos 14 pontos, o que significa que cerca de 14 milhões de pessoas assistiram à transmissão. Foi indescritível, acompanhei a resposta nas redes sociais e foi muito bem avaliado.”
Sócio da produtora Gancho de Nuvem desde 2016, ele se juntou ao antigo sócio, o diretor Gui Campos, para o próximo especial de Natal da emissora, que vai se chamar Fuga de Natal. “Estamos procurando locação e fazendo ensaio com os atores”, revela. Baseado no curta Rosinha, de Campos, o filme começa a ser rodado nesta semana e conta a história de três idosos que decidem fugir do asilo na véspera do feriado, para reviver memórias da cidade. “A direção é de Gui Campos, eu faço produção e edição, e estou feliz porque não tenho muitas oportunidades de trabalhar com montagem.”
Outros dois longas estão em fase de desenvolvimento. O verão da lata vai lembrar a história real da tripulação de um navio, proveniente da Austrália, que lançou na costa brasileira cerca de 22 toneladas de maconha enlatada, em setembro 1987, temendo problemas com a polícia local. O outro, Saçurá, é um terror de época, uma adaptação da lenda de Saci-Pererê. “Juntar Saci e o terror me parece óbvio, todos os detalhes são sombrios. Não sei quando pensei nessas ideias, mas são antigas, da época da faculdade”, conta.
Com especializações em roteiro, Santiago se organiza para participar de cursos de verão na mesma área, na Universidade da Califórnia (UCLA). “Consigo uma licença capacitação e não preciso parar minha produção de cinema”, diz, explicando a opção por um curso rápido.
“Gosto dessa coisa meio despretensiosa e de gêneros pouco explorados pela produção nacional, como terror, ficção científica e ação”
Santiago Dellape
Escultor de memórias

Um dos principais cineastas brasileiros, o paraibano de Itabaiana Vladimir Carvalho foi um dos primeiros a apontar a câmera para um Brasil pouco visto nas telas de cinema. Com um olhar crítico e, ao mesmo tempo, poético e sensível, ele mostra personagens reais, recupera memórias da história do país e perpetua em imagem e som a complexidade e a contradição da realidade nacional.
Vladimir, que neste ano completou 83, está intimamente ligado à história da capital. Em Brasília desde 1970, ele realizou, no Centro-Oeste, algumas de suas obras mais icônicas, mas sua contribuição para o cinema começou anos antes, depois que uma projeção de O homem de Aran, de Robert Flaherty, mudou sua perspectiva sobre o cinema documental.
O pontapé para a carreira foi uma parceria com Linduarte Noronha, seu antigo professor de geografia, e João Ramiro Mello, amigo de toda a vida, com quem coescreveu o roteiro de Aruanda (1959). O curta-metragem foi considerado um manifesto da geração de cineastas que viveu a agitação política e social dos anos que antecederam o golpe militar. Apontado como precursor do Cinema Novo, Aruanda estampou a aridez da Serra do Talhado e as precárias condições de subsistência no Nordeste canavieiro, influenciando uma série de trabalhos que o sucederam.
Em 1962, realizou com João Ramiro o documentário Romeiros da guia, que acompanha uma romaria anual de pescadores rumo às ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Guia. Em seguida, partiu para Salvador, onde terminou o curso de filosofia e fez amigos que também se destacariam na cena cultural e política brasileira. Na capital baiana, viveu um período de efervescência artística dividido com Glauber Rocha, Caetano Veloso, Carlos Nelson Coutinho, Torquato Neto e outros jovens que fomentaram a produção nacional.
Foi na Bahia que recebeu o convite de Eduardo Coutinho para assumir a assistência de direção de Cabra marcado para morrer, filme que mistura ficção e documentário para contar a história de João Pedro Teixeira, líder camponês de quem Vladimir se tornara amigo antes de seu assassinato. Com o golpe de 1964, as gravações foram interrompidas e, perseguido por militares, Vladimir entrou para a clandestinidade, protegendo a viúva de João Pedro, Elizabeth Teixeira.
Antes de se mudar para Brasília, passou uma temporada no Rio de Janeiro. Trabalhou como repórter e como assistente de direção de dois filmes de Arnaldo Jabor.
À época, começou a elaborar o clássico País de São Saruê, finalizado em 1979. Agraciado com o Prêmio Especial do Júri do Festival de Brasília, a produção dividiu opiniões, mas foi classificada pelo crítico José Carlos Monteiro como “uma obra tão perturbadora que resistirá aos modismos e tropismos do real”.
Mudança
Em 1969, Vladimir veio a Brasília para participar do festival de cinema com o curta A bandoleira. Ele se lembra da primeira impressão que teve da cidade quando saiu do Hotel Nacional para conhecer a capital. “Vi a rodoviária e o Congresso ao fundo. Era um domingo, não tinha ninguém em lugar nenhum.” Hoje, vê a cidade como um “reflexo de todo o Brasil”.
Durante o festival, ele encontrou Fernando Duarte, diretor de fotografia de Cabra marcado para morrer, que o convidou para organizar na UnB um “núcleo cinematográfico do Centro-Oeste”. O chamado era, na verdade, uma artimanha de Duarte, que queria convencer o amigo a integrar o corpo docente do curso de cinema. Deu certo. “Vim para passar dois meses e estou há 48 anos. Nos dois meses, comecei a ver a cidade como uma caixa de ressonância para os problemas brasileiros. O centro nervoso do país é aqui. Um projeto nacional, se existisse, passaria por Brasília. Adotei a cidade e acho que Brasília também me adotou.”
Na cidade, rodou Vestibular 70, que registra a participação de candidatos de todo o país na prova de admissão da UnB. Vladimir também dirigiu os longas Conterrâneos velhos de guerra e Barra 68, Sem perder a ternura, e o curta Brasília, segundo Feldman, que são um contraponto à ideia utópica dos idealizadores da nova capital.
Em Barra 68, ele expõe o esvaziamento do projeto de universidade pensado por Darcy Ribeiro, causado pela invasão de tropas do Exército no campus. Nos outros dois, lembra o trabalho árduo dos candangos que foram, majoritariamente, esquecidos pelas narrativas da capital. “O Conterrâneos é praticamente a síntese de todo o meu trabalho, me marcou muito porque é uma memória que começa com a construção de Brasília e vem até os dias de hoje.”
Cinememória
Pouco antes de completar 80 anos, Vladimir doou sua casa, com tudo o que há nela, à UnB. O Cinememória é uma espécie de museu particular da história do cinema nacional, localizado na W3 Sul. O local abriga 5 mil títulos, a maioria ligada ao cinema, além de câmeras, equipamentos antigos, fotografias e centenas de outras lembranças colecionadas ao longo de mais de cinco décadas.
É na casa, onde viveu por anos com a esposa, a escritora Lucília Garcez, que ele concentra também o seu trabalho de escultor. O dom da carpintaria, herdado do pai, é mais do que uma distração. Desde a juventude, Vladimir surpreende amigos com um trabalho primoroso de esculturas e xilogravuras. “Gosto muito desse trabalho, mas nunca expus.”
Torcedor do flamengo e leitor fervoroso, Vladimir garante que não se aposentará. Embaixador cultural de Brasília, ele foi homenageado em 2015 pelo festival de cinema, sendo premiado na abertura do evento.
No ano passado, lançou seu longa mais recente - Cícero Dias, o compadre de Picasso.
“Comecei a ver a cidade como uma caixa de ressonância para os problemas brasileiros”
Vladimir Carvalho
"Sentia que seria a minha vida"
Criada em Taguatinga, Camila atualmente mora em São Paulo e vem a Brasília duas ou três vezes por ano - Crédito: Carlos Moura/CB/D.A Press.
A vocação de atriz surgiu muito por acaso na vida de Camila Márdila, 30 anos. O pai e a mãe vieram para Brasília em busca de condições melhores, deixando para trás uma vida rural. Apesar de os pais representarem a primeira geração alfabetizada na família humilde, ela não tinha livros em casa e muito menos o hábito de frequentar o teatro e o cinema. O lado artístico de Camila teve seu despertar quando entrou na escola.
Nascida em Brasília, Camila morou em Taguatinga a vida inteira e estudou no colégio Jesus Maria José, que, segundo ela, tinha um movimento cultural muito interessante. Era ela que lia a poesia no Dia das Mães e também nas missas da escola católica. “Muito intuitivamente, comecei a fazer peça nas aulas e a dirigir as amigas pequenininhas”, comenta. A mãe perguntou se ela não gostaria de fazer um curso.
Curiosamente, Camila não gostava de fazer teatro infantil. Até que, aos 11 anos, conheceu a atriz e diretora brasiliense Luciana Martuchelli, que, na época, dava aulas na Faculdade Dulcina, no Conic. “Assim que comecei a estudar a interpretação e o ofício de ser ator, coloquei todo meu empenho naquilo. Eu via aquilo como trabalho e sentia que aquilo seria a minha vida”, ressalta.
Camila começou a trabalhar muito nova, como monitora de cursos e fazendo publicidade como atriz-mirim. Aos poucos, foi construindo uma poupança para investir na carreira. Em 2009, fez uma oficina com os irmãos Guimarães e começou a trabalhar com eles de maneira mais profissional, viajando com peças. “Percebi a carreira como algo permanente.”
Que horas ela volta?
A mãe sempre sugeria que ela buscasse a televisão, mas não era esse caminho que ela queria trilhar. “Eu queria fazer teatro e cinema, a televisão seria consequência disso.” Foi o que aconteceu. Após a formatura em comunicação social na UnB, Camila se mudou para o Rio de Janeiro para entrar em um coletivo de atrizes. Depois de um tempo, foi para São Paulo, onde mora atualmente.
Na opinião dela, o papel que mais marcou sua trajetória foi a Jéssica – personagem que interpretou no filme Que horas ela volta?, de Anna Muylaert, interpretando a filha de uma empregada doméstica vivida por Regina Casé. Segundo Camila, uma obra que marcou a cinematografia brasileira e virou um conceito. Com ele, ganhou prêmios de melhor atriz no Festival de Sundance e melhor atriz coadjuvante no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. “A Jéssica foi uma personagem muito relevante, que até hoje me marca muito e as pessoas me falam sobre se sentirem Jéssicas. O maior privilégio que um ator pode ter é um papel conceito como este”, reconhece.
Também tem outros filmes no currículo, como Entre idas e vindas e Cora Coralina, todas as vidas. Atuou ainda na série Justiça, da Globo. Para o futuro, Camila Márdila deseja ter mais personagens incríveis e que tragam alguma história relevante para o mundo. Além disso, está escrevendo, dirigindo e produzindo. “Acredito que tenho que participar ativamente e criativamente de tudo que eu faço, reescrevendo cenas, propondo novas ideias”, complementa.
A atriz de origem brasiliense vem para Brasília duas ou três vezes por ano, sendo uma das visitas durante o festival de cinema, e afirma que, quando não está aqui, sente falta dos amigos e familiares. “Além disso, tem a paisagem. Como não falar do céu de Brasília? A luz é especial e tem períodos do ano em que a cidade realmente fica muito mágica.”
Grandes Talentos

O mineiro migrou para a Ceilândia ainda pequeno, com os pais, nos anos 1970. Foi jogador de futebol, professor particular e funcionário público até ingressar no curso de cinema da UnB, aos 28 anos. Seu trabalho de conclusão de curso, o curta-metragem Rap, o canto de Ceilândia, recebeu diversos prêmios. Seus longas-metragens A cidade é uma só? (2011) e Branco sai, preto fica (2014) também foram premiados em importantes festivais brasileiros. Também comandou o documentário Era uma vez Brasília, com ênfase das questões da periferia. A fita foi exibida no Festival de Locarno, na Suíça.
André Luiz Oliveira

Meteorango Kid — O herói
intergalático foi o filme que apresentou André Luiz Oliveira, em 1969, ao público brasiliense. O diretor baiano chegou a Brasília em 1991 e aqui continuou a trabalhar com as câmeras. Também músico, conquistou o troféu Candango de melhor filme, no 28º Festival de Brasília, em 1994, com o filme Louco por cinema, que reuniu um elenco de muitos artistas locais. Também ganhou o prêmio pelo Zirig Dum
Brasília, documentário sobre Renato Matos, em 2014.
René Sampaio

Ele levou 1.500.000 de pessoas ao cinema para ver Faroeste caboclo, lançado em maio de 2013, que foi exibido mundo afora e levou inclusive o Prêmio Especial do Júri em Direção em um festival de Dallas. É também o filme vencedor do 13º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 7 categorias, incluindo melhor filme de ficção. O longa recebeu também o 10º Prêmio Fiesp 2014 do Cinema Brasileiro como Melhor Filme. Antes disso, havia abocanhado sete Candangos com o curta Sinistro. Formado em jornalismo e publicidade, René também tem uma carreira bem-sucedida nessa área, tendo alcançados vários prêmios, como o Leão de Cannes.
Iberê Carvalho

Ele nasceu em Brasília em 1976. Estudou antropologia, jornalismo e fez pós graduação em direção cinematográfica em Madrid, na Espanha. Seus filmes já foram exibidos em diversos festivais no Brasil e no exterior. Foi vencedor do prêmio de melhor Curta-metragem latino-americano no Festival de Havana, com o filme Para pedir perdão. Outro longa, Procura-se, foi reconhecido no Festival Prix Jeunesse Iberoamericano. No Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, foi agraciado com um candango pelo curta Suicídio cidadão.
José Eduardo Belmonte

Formado na Universidade de Brasília, o cineasta já tem longa trajetória no cinema. Em 2003, fez sua primeira investida em longas-metragens, com Subterrâneos. O filme Alemão, exibido em 2014, fez grande sucesso comercial. Em 2015, fez uma série da HBO, O hipnotizador. No ano seguinte, elenco bastante conhecido, como Ingride Guimarães, Fábio Assunção, Alice Braga e Rosanne Mulholland, estreou o filme de Belmonte, intitulado Idas e vindas. Dirigida por ele, a série Carcereiros, foi premiada em Cannes, na França.
Dácia Ibiapina

Ela tem uma vasta produção cinematográfica. Diretora e roteirista dos filmes Palestina do Norte: o Araguaia passa por aqui (1998), O chiclete e a rosa (2001), Vladimir Carvalho: conterrâneo velho de guerra (2004), Cinema Engenho (2007), Entorno da beleza (2012), O gigante nunca dorme (2013), além de Ressurgentes: um filme de ação direta (2014). Em 2017, seu filme Carneiro de ouro foi selecionado para diversos festivais e mostras de cinema, como o 50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e na 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Há uma forte presença da questão social em seus filmes, como seu primeiro longa-metragem, Entorno da beleza, que aborda os concursos de miss.
Animação em destaque

Apaixonado por animação, Fernando Guitiérrez, 41, precisou abrir caminhos na área para trabalhar em Brasília. Depois de investir em especializações fora da cidade, ele retornou à capital, onde promove o estilo tanto em sala de aula, como professor, quanto na produção do Brasilia Animation Festival (BAF), mostra local voltada para a animação.
Fernando dirigiu quatro curtas na área, participou de diferentes etapas de criação em diversos projetos e se prepara para dirigir seu primeiro longa, O sonho de Clarice, cujo roteiro foi inspirado na filha de 6 anos.
Filho de pai boliviano e mãe cearense, ele nasceu em La Paz e se mudou para o Plano Piloto aos 2 anos. O interesse por animação foi despertado na adolescência, quando, motivado pelos pais arquitetos, começou a desenvolver desenhos técnicos para projetos do casal.
“Sempre gostei de mexer com peças e eletrônicos, por isso, achava que ia gostar de estudar engenharia elétrica, mas me sentia em um lugar entre as exatas e as humanas, e fui percebendo que o curso não era para mim”, conta, sobre a escolha feita na faculdade.
Fernando passou pelo curso de artes cênicas, participou de grupos alternativos de teatro, e se formou em publicidade pelo UniCeub. Ele já flertava com a animação quando decidiu se jogar de cabeça no cinema. “Era concursado da Caixa e aproveitei esse momento em que eu tinha salário e estava solteiro para ir São Paulo estudar”, lembra.
Depois de vários cursos de curta duração, passou quatro anos na capital paulista, onde se especializou em computação gráfica 3D, deu aulas no Sesc e na Universidade Anhembi Morumbi e trabalhou com grandes produtoras de desenhos animados.
Seu primeiro curta, O mascote, tem quatro minutos e é inspirado na trajetória de sua mãe, que saiu do Ceará para viver em Brasília. “Apesar de uma certa ingenuidade em termos de linguagem audiovisual, ele teve uma repercussão muito boa”, diz. A animação recebeu prêmio de melhor curta no festival de Cabo Frio, foi exibido em diversos festivais nacionais e acumula mais de 600 mil visualizações em plataformas digitais.
Brasília é cenário para outros curtas, como Devaneios, que mostra a viagem psicológica de um motorista estacionado em uma quadra do Plano Piloto, e José, história de um senhor que espera a volta do filho. “Ele mora em um lugar que lembra os condomínios do Lago Sul, uma área rural que acabou sendo transformada pela presença do urbano.”
Reconhecimento
José foi o primeiro filme de Fernando selecionado para o Anima Mundi (Festival Internacional de Animação do Brasil), o maior do país, e foi uma das produções que entraram para a grade do festival no Canal Brasil. “Sou muito fã e sempre tive o sonho de participar. Fiquei extremamente feliz, emocionado, quando o filme foi aceito. Acho que é um reconhecimento inigualável do meu trabalho.”
Fernando é direto sobre os planos de fomentar a produção brasiliense. Para O sonho de Clarice, que assina junto com Cesar Lignelli, o animador pretende organizar cursos de capacitação e preparar profissionais para o trabalho. Ele destaca que a prática é comum em estúdios de São Paulo e Rio, que, apesar de maiores, também sofrem com a escassez de mão de obra qualificada.
“Meu sonho é contribuir para que Brasília realmente se transforme em um polo de animação. Para isso, a gente não pode terceirizar os trabalhos.” Ele ressalta que, hoje, o acesso à informação, a tutorias e a cursos de qualidade é muito maior .
Em 2015, Fernando produziu o Animecê (Festival de Animação do Cerrado), um embrião do Brasilia Animation Festival. A edição foi uma contrapartida para uma produção do animador, que organizou uma mostra na Galeria Alfinete e no Gama, onde os filmes foram exibidos em um trailer.
A transformação em BAF aconteceu pela insistência de outro companheiro, o também animador Fernando Nisio. “Eu estava desanimado, mas ele botou muita pilha e era o que eu precisava”, diz.
A dupla organizou duas edições com exibições, cursos e palestras gratuitos. “Não conseguimos realizar a terceira, mas planejamos concretizá-la em 2019. Queremos estimular a produção, viemos para somar o que o Anima Mundi já faz.”
“Meu sonho é contribuir para que Brasília realmente se transforme em um polo de animação”
Fernando Gutiérrez
Olha transformador
Com participação em mais de 10 filmes, o diretor e diretor de fotografia Alan Schvarsberg não sonhava em trabalhar com cinema, não assistia a filmes com frequência, não cresceu cercado por referências, não foi aficcionado pelos clássicos. Graduado em jornalismo pelo UniCeub, Alan estudou ciências sociais na UnB, e enveredou para o audiovisual defendendo causas sociais, como a proteção do Santuário dos Pajés, alvo da especulação imobiliária no setor Noroeste.
“Fiz um percurso muito fluido. Quando me dei conta, estava trabalhando com cinema, pagando minhas contas com isso e me realizando profissionalmente”, conta. Aos 33 anos, se preparando para iniciar seu primeiro longa como diretor, Alan trilhou um caminho consistente, com trabalhos premiados, como o curta Ninguém nasce no paraíso, de 2015, que conta a história de gestantes impedidas de dar à luz em Fernando de Noronha.
A obra conquistou o prêmio de melhor curta-metragem pelo júri popular na Mostra Brasília, parte do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, e o de crítica, no Festival Internacional de Cinema Ambiental (FICA). Também foi exibido em mostras estrangeiras, como Havana Film Festival e o GATTFEST Film Festival, na Jamaica.
Rodado com uma equipe de produção exclusivamente feminina, o curta é um exemplo da crescente participação das mulheres no cinema de Brasília. “Foram 20 dias de trabalho muito pesado, com pouco descanso. Os homens reclamam muito mais, até porque, se elas reclamarem, vão dizer que fazem isso porque são mulheres. Mas elas estão cada vez mais presentes e engajadas e esse filme é só um de muitos exemplos”, assegura.

Na edição deste ano do festival de Brasília, ele participa com três produções — o longa A roda da vida e os curtas O homem banco e Entre parentes. Alan assina a direção de fotografia de todas elas.
Com a carreira no cinema iniciada no videoativismo, tendo trabalhado em projetos do Centro de Mídia Independente (CMI), ele mantém o foco em perspectivas políticas, sociais e de luta por direitos. “Acredito realmente no cinema como ferramenta de transformação e em seu impacto na vida das pessoas. Tento seguir com um cinema crítico e reflexivo, que, de alguma maneira, mude a sociedade.”
Nascido no Rio de Janeiro, mas brasiliense de criação, Alan cresceu imerso pela consciência política e cultural que herdou dos pais. A infância livre pelas ruas de Brasília rendeu a ele um olhar observador e sensível, que pode ser percebido em seu trabalho. A transformação da cidade e dos hábitos, o crescimento do medo da violência e a construção de muros em busca de proteção são o tema do híbrido de ficção e documentário Gradear, cuja gravação está prevista para o início do próximo ano.
Tendo passado por várias áreas do cinema, ele encontrou, na direção de fotografia, um espaço para focar “na construção artística da narrativa por meio da câmera e da luz”. Foi nessa área que passou a receber mais convites de trabalho. “Busquei uma atuação no cinema em que as pessoas me chamassem, viessem até mim com seus projetos, e tive a sorte de ter recebido propostas interessantes”. Em 2017, ele concluiu um mestrado em direção de fotografia pela Escola Superior de Cinema e Audiovisual da Catalunha (Escac).
Limites
Alan também assina a direção de fotografia de O Processo, de Maria Augusta Ramos, documentário estreado neste ano, que mostra os bastidores do impedimento da presidente Dilma Rousseff. “Foram sete meses acompanhando o impeachment no Senado. Presenciar um jogo de cartas marcadas foi muito duro, tanto física quanto emocionalmente”, lembra.
O excesso de trabalho e a dedicação a projetos complexos levaram Alan a reavaliar prioridades em 2016. No mesmo ano, participou das gravações do documentário Voices of Children, que registra a perspectiva de crianças de cinco países sobre seus direitos. A iniciativa do World Forum Fundation, levou a equipe a Salvador, aos Estados Unidos, ao Quênia, à Singapura e à Índia.
“Na primeira noite em Nairobi, estava muito cansado, absolutamente exausto, e não conseguia dormir”, lembra. Enquanto os colegas de produção descansavam, Alan teve uma síncope convulsiva por estresse fisiológico e desmaiou. “Quando dei por mim, estava sentado, chacoalhando a cabeça, todo ensanguentado, batendo os dentes e vendo pedaços deles no chão.”
Depois de uma visita às pressas ao dentista, o desespero foi amenizado pela carência que viu nas ruas do país e pelo carinho que recebeu das crianças que participaram das gravações. Apesar de não ter impedido a continuação das filmagens, o episódio foi um divisor de águas. “Me fez aprender a colocar limites, parei de priorizar sempre o trabalho”, ressalta.
Desde então, a prática de escalada e a fuga para a natureza ganharam mais importância. Além de treinos semanais, ele faz escalada em pedras ao menos uma vez por semana e participa de campeonatos. “Ir para rocha, para lugares onde o celular não pega, ver o pôr do sol, ver a lua nascer, estar em absoluto contato com a natureza é terapêutico, um escape espiritual”, diz ele.
“Tento seguir com um cinema crítico e reflexivo, que, de alguma maneira, mude a sociedade”
Alan Schvarsberg
Para voos mais altos
Roteirista do curta A arte de andar pelas ruas de Brasília, vencedor de mais de 20 prêmios, Rafaela Camelo mira os longas-metragens
Quando o assunto era que carreira seguir, a brasiliense Rafaela Camelo, 32 anos, sempre soube que gostaria de estar na área da comunicação. “Sempre gostei de ler e escrever, achava que queria ser jornalista”, afirma. Atualmente, ela não atua como jornalista, mas isso não significa que o palpite inicial estivesse tão fora da realidade que lhe aguardava. À medida que o vestibular foi se aproximando, Rafaela descobriu outra possibilidade dentro do curso de comunicação: o audiovisual.Em 2004, ao ser aprovada para o curso de comunicação social da Universidade de Brasília (UnB), percebeu que poderia escolher entre jornalismo, publicidade e audiovisual para experimentar. Ainda sem muita convicção, optou pela última opção. “Eu pensei: qualquer coisa, eu mudo de novo”, relembra. Isso não aconteceu.A adolescente que cresceu entre as prateleiras da tradicional locadora de filmes LOC Vídeo se encontrou. Tímida, quieta e meio nerd, os filmes eram a maneira que ela encontrava de passar o tempo livre e aprender mais sobre determinados assuntos. “O meu fim de semana se resumia em ir à LOC, alugar cinco filmes, assistir, devolver e pegar outros cinco”, comenta.Apesar do interesse pelo assunto, suas escolhas eram feitas de maneira totalmente intuitiva. O proprietário da videolocadora sempre a acompanhava e fazia indicações, mas, muitas vezes, a escolha era baseada nas capas. Nem sempre as bonitas ou interessantes honravam sua expectativa. “Lembro que, uma vez, eu peguei Calígula, achando que ia me ensinar sobre a história romana, e era totalmente inadequado para a minha idade”, diverte-se.Rafaela garante que nunca se enxergou fazendo roteiros ou dirigindo filmes. Imaginava que seria produtora. Apenas no fim do curso ela decidiu se arriscar a escrever e dirigir. “A área é um pouco restrita. Então, às vezes, é difícil entender qual é o papel de cada um dentro de um filme. Eu demorei bastante tempo para descobrir qual área me agradava mais.”

Premiação
O curta-metragem A arte de andar pelas ruas de Brasília foi um dos primeiros roteiros escritos por Rafaela. A ideia partiu de uma vivência pessoal dela com uma amiga. As duas estudavam em escolas diferentes, mas se encontravam diariamente no ônibus que passava pela W3.
“Foi um filme que circulou muito bem em diversos festivais, foi muito visto em Brasília e em festivais LGBT. As pessoas se identificaram muito com ele”, reconhece. Além disso, a obra ganhou em torno de 20 prêmios nacionais e internacionais.
Entre os projetos mais recentes, estão duas séries para televisão, nas quais Rafaela atua como roteirista ao lado de João Amorim. Manual de sobrevivência para o século XXI, com o ator Marcos Palmeira, foi exibida no canal CineBrasil TV. Já Belas raízes é uma série documental com a apresentadora Bela Gil, que ainda está em fase de desenvolvimento e será exibida no Canal Futura.
Simultaneamente, Rafaela se prepara para o lançamento de seu próximo curta, durante o Festival de Cinema de Brasília. Em O mistério da carne, a cineasta brasiliense volta a alguns temas de A arte de andar pelas ruas de Brasília, abordando o universo lésbico, a anorexia e a bulimia. “É um filme com o qual eu me identifico mais, acho que me soltei, trouxe referências de que eu gosto. Tem muito a ver comigo e estou ansiosa para mostrá-lo”, complementa.
Rafaela reconhece a influência da capital nas histórias que cria. “É a Brasília a que sempre recorro quando estou em busca de novas referências”, defende. Ela não se vê saindo da cidade e não enxerga a necessidade de fazer isso por razões profissionais.
Para Rafaela, Brasília tem muitas possibilidades. No momento, ela está se dividindo entre Brasília e São Paulo, onde faz um curso voltado à criação de longa-metragem.
“É a Brasília que sempre recorro quando estou em busca de novas referências”
Rafaela Camelo
Uma vida de dedicação
Há cinco anos, Sérgio faz a curadoria dos filmes que são exibidos no Cine Brasília, um templo do cinema de brasiliense - Crédito: Zuleika de Souza/CB/D.A Press.
Nascido no Rio de Janeiro, Sérgio Moriconi, 61 anos, veio para Brasília em 1960 para encontrar o pai, pioneiro que se mudou dois anos antes para participar da construção da cidade. “Me considero um brasiliense.”
Quando a família chegou, foram morar no núcleo habitacional da Papuda, onde estavam as cerâmicas que produziam os tijolos que foram usados para construir a capital. Depois, moraram no Plano Piloto durante anos, o que permitiu que a família frequentasse assiduamente o Cine Brasília, o Cine Cultura e a Escola Parque para assistir aos mais variados tipos de filmes.
Estudou o científico no Colégio do Carmo, que oferecia várias especialidades em artes, entre elas, cinema. Sérgio fez o curso e foi percebendo os primeiros indícios de uma vocação. Apesar disso, entrou na Universidade de Brasília para cursar arquitetura. Acabou com duas formações diferentes: é sociólogo e jornalista. Porém, a admiração pelo cinema continuou presente em sua vida.
“Conheci alguns professores da comunicação e eles me pediram para fazer um documentário sobre Ceilândia, assim fui me reaproximando do cinema.” Na faculdade de comunicação, fez o primeiro filme profissional, um curta chamado Carolino Leobas, que Sérgio fez sob a coordenação de Vladimir Carvalho e uma equipe maior.
Os curtas foram a maneira que ele encontrou de praticar o cinema. O primeiro emprego foi na Radiobrás, editando telejornais. Após um ano na empresa, recebeu um convite para participar da instalação do Centro de Tecnologia Educacional e desenvolver programas educativos para a Fundação Educacional, um projeto da Unesco.
Construiu uma carreira na Fundação, fazendo vídeos educativos, e se tornou professor de cinema no Espaço Cultural Renato Russo, por 20 anos. Paralelamente, ele produzia roteiros de filmes e escrevia críticas de cinema para o Correio e outros veículos da cidade. “Aos poucos, fui me orientando para o cinema”, afirma.
Sérgio Moriconi também escreveu um livro sobre o cinema local: Cinema de Brasília – apontamentos para uma história. Como profissional da área, Sérgio participou do roteiro do longa-metragem do cineasta André Luiz Oliveira, Louco por cinema, vencedor dos principais prêmios do Festival de Brasília de 1994. Em 1998, Sérgio escreveu o roteiro e dirigiu o curta Athos (documentário sobre o artista plástico Athos Bulcão), vencedor do Prêmio Especial do Júri do Festival de Brasília.
Cine Brasília
Durante muitos anos, o cineasta integrou a comissão curadora do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e participou de outras maneiras do grandioso evento: organizando seminários, participando dos júris de seleção e de premiação dos filmes. “Ao longo dos últimos 25 anos, eu sempre participei de alguma forma do Festival.”
Atualmente, ele não organiza mais o evento. Trabalha na Secretaria de Cultura e, desde que o Cine Brasília reabriu as portas, há cinco anos, Sérgio é o responsável pela programação cultural do local. “É um cinema com uma vocação cultural, exibe alguns filmes de maior público e filmes cults, que fazem parte do conceito de proporcionar uma programação de alta qualidade para a população”, ressalta.
Uma memória forte da época de adolescente – em que assistia a muitos filmes, mas não tinha tanto conhecimento da área – foi no festival de 1971, que ocorreu no Cine Atlântida, no Conic. Um dos filmes foi censurado e, no lugar dele, foi exibido o documentário Brasil Bom de Bola, que falava de futebol e mostrava o craque Pelé em ação. O menino achou o filme incrível e não entendeu quando as pessoas começaram a vaiá-lo. “Meu Deus, estão vaiando o Pelé”, pensou.
“É um cinema (o Cine Brasília) com uma vocação cultural: proporcionar uma programação de alta qualidade para a população”
Sérgio Moriconi
Um salto para a luz
Com um troféu candango de melhor ator, João Campos atua no cinema, teatro e TV - Crédito: Diego Ponce de Leon/CB/D.A Press.
A carreira do ator João Campos, 34 anos, começou após um momento de muita dúvida e indecisão. João é formado em jornalismo pela UnB e trabalhou durante quatro anos na redação do Correio Braziliense, sempre conciliando as pautas com as peças de teatro. No fundo, ele já tinha percebido que o teatro o fazia mais feliz, porém o medo de largar tudo e se arriscar no mundo das artes cênicas o segurou por muito tempo.
Brasiliense, fruto da união entre pai goiano e mãe mineira, João reconhece o esforço constante dos pais para dar a ele e ao irmão uma condição de vida melhor do que tiveram na roça. Os servidores do Banco do Brasil garantiram aos filhos acesso a boas escolas, prática de esportes e aulas de violão. Essa última foi, ao olhar de João, o primeiro contato com a arte. “A música entrou de uma forma muito forte nas nossas vidas, montamos uma banda cover de Ramones e estávamos sempre tocando”, afirma. Ao longo dos anos, João participou de várias bandas e tocou os mais diversos estilos musicais.
Apesar dessa aproximação inicial com o mundo artístico, o ator garante que seu foco era apenas a música. Artes cênicas não eram um plano. “Eu era uma criança muito tímida, aquela que se esconde embaixo da mesa na hora do parabéns”, justifica.
O primeiro contato com o teatro foi aos 16 anos, quando namorava Marieta Cazarré, irmã do ator Juliano Cazarré, que já estava estudando na área.
A família Cazarré tinha o hábito de frequentar o teatro. João começou a acompanhá-los e, aos poucos, foi construindo a sua própria relação com o teatro, ainda que apenas como um espectador.
Quando começou a cursar comunicação social na Universidade de Brasília, João ainda estava envolvido com a música, mas fez alguns amigos que tinham um grupo de teatro e o convidavam para participar das peças de uma maneira mais técnica, fazendo trilha, operando luz e som.
Um dia, foi com o amigo Roberto de Martin assistir a uma peça no Teatro Garagem. Na saída, viram um cartaz de um curso de teatro com a Luciana Martuchelli. O Beto (como João o chama) sugeriu que os dois fizessem o curso. “Pensei: Será? Ator? Mas decidi fazer e aí lascou-se. Não parei mais”, brinca.
Teatro e cinema
“O teatro chega de uma forma muito voraz na vida”, analisa. Segundo João, no primeiro momento, existe uma dimensão quase terapêutica em atuar, e a mestra Luciana gostava de fazer exatamente esse aprofundamento. Foram, aproximadamente, quatro anos estudando com ela. João largou a banda, já estava em cena com os amigos da faculdade, foi se relacionando com os colegas que faziam audiovisual e tateando o teatro e o cinema amador.
Em 2012, já trabalhando como repórter, João tomou a decisão de largar o jornalismo. “Estava ficando difícil conciliar as agendas. Aos poucos, eu fui me preparando psicologicamente e financeiramente para dar esse passo”, explica.
João define essa mudança de vida como um verdadeiro salto no escuro, porque a carreira artística é complicada de ser construída. Entretanto, ele garante não ter arrependimentos. Em 2013, ele contratou um agente em São Paulo e começou a fazer testes para a televisão. Fez uma participação na série Felizes para sempre, da TV Globo, e interpretou o jornalista Elio Bataglia na novela A lei do amor.
No cinema, atuou em 18 produções, com destaque para os curtas-metragens Confinado, Tormenta e Cidade nova — este último lhe rendeu o Troféu Candango de Melhor Ator em curta e média-metragem em 2015. Destacam-se ainda a participação nos longas Faroeste caboclo, Os fins e os meios e O homem de barro, do qual fez também a direção de elenco.
Recentemente, participou da série Se eu fechar os olhos agora, também da Globo, ainda não exibida. Também está finalizando as gravações da série Mais leve que o ar, para a HBO, que conta a história do aviador Santos Dumont, além de ter atuado em tantas peças e filmes que fica díficil contar.
“Não acho que a minha carreira aconteceu de forma rápida, foi construída passo a passo. Eu sou o primeiro artista da minha família a assumir isso como profissão, nunca tive um trampolim.”
Mesmo com tantas gravações fora de Brasília, João ainda consegue manter sua casa na capital. Atualmente, mora em uma chácara e defende que essa ligação forte com a terra é uma herança dos pais.
“Gosto de lidar com essa questão ambiental, agrofloresta, permacultura. A escolha da chácara é um dos motivos por trás da escolha de ficar em Brasília.”
“Não acho que a minha carreira aconteceu de forma rápida, foi construída passo a passo. Eu sou o primeiro artista da minha família a assumir isso como profissão, nunca tive um trampolim.”
João Campos
Expediente
Diretora de Redação: Ana Dubeux
Editores executivos: Plácido Fernandes Vieira | Vicente Nunes
Editores: José Carlos Vieira | Cristine Gentil (especial para o Correio)
Reportagem: Gabriela Walker | Marina Adorno (especiais para o Correio)
Revisão: : Rosiley Bertini e Ailan Pedrosa
Projeto gráfico: Maurenilson Freire
Diagramação: Diego Alves
Capa: Maurenilson Freire
Foto da capa: Ana Rayssa/Esp.CB/D.A Press
Desenvolvimento Web: Bruno Rodrigues | Luiz Filipe Azevedo de Lima
Luiz Carlos Azedo: Os deuses e os mortos
O que não falta são candidatos a deuses e a mortos-vivos. Vicejam num ambiente de iniquidade social, desesperança, violência e crise ética. O país foi atropelado pela globalização e pela Operação Lava-Jato
Dirigido pelo moçambicano naturalizado brasileiro Ruy Guerra, Os deuses e os mortos é um ícone da fase “alegórica” do Cinema Novo, vencedor do festival de Brasília de 1970, numa abordagem barroca e tropicalista que retrata a violência no campo e o monopólio da política pelas oligarquias. Era uma época em que o regime militar estava no auge; parte da esquerda ainda acreditava que derrubaria o regime pegando em armas e que implantaria um “governo popular”. Era tudo um delírio, do “Brasil, ame ou deixe-o”, do general Garrastazu Médici, ao “Quem samba fica, quem não samba vai embora”, de Carlos Marighela.
Com fotografia excepcional de Dib Lufti e trilha sonora de Milton Nascimento, o filme tinha um elenco estrelado, a maioria viria a brilhar nas novelas da Globo: Othon Bastos (“O Homem”), Norma Bengell (“Soledade”), Rui Polanah (“Urbano”), Ítala Nandi (“Sereno”), Dina Sfat (“A Louca”), Nelson Xavier (“Valu”), Jorge Chaia (“Coronel Santana”), Vera Bocayuva (“Jura”), Fred Kleemann (“Homem de branco”), Vinícius Salvatore (“Cosme”), Mara Rúbia (“Prostituta”), Monsueto Menezes (“Meu Anjo”), Milton Nascimento (“Dim Dum”), Gilberto Sabóia (“Banqueiro”) e José Roberto Tavares (“Aurélio”).
O filme foi saudado pelo The New York Times como um “western tropical”, que misturava o japonês Akira Kurosawa com o italiano Sérgio Leone no sul da Bahia, tendo a temática do cacau na saga descrita por Jorge Amado como base do roteiro do próprio Guerra, Paulo José e Flávio Império. Ao lado do diretor, Sérgio Sanz fez uma edição fascinante. Audacioso no plano estético e político, a alegoria poética retratava de forma antropológica a vida nacional dos anos 1930, num ambiente rural que culturalmente permanecia o mesmo, mas, economicamente, já estava em mudança. Sua força vital e mágica parecia surgir do nada, como acontece hoje nas periferias e favelas. O protagonista é um personagem fantasmagórico, interpretado por Othon Bastos, ator de Deus e o diabo na Terra do Sol (1964) e São Bernardo (1972).
O Homem Sem Nome (Othon Bastos), depois de levar sete balas no corpo e não morrer numa chacina, se intromete entre dois clãs de coronéis que lutam pelo poder, ou seja, pela terra e pelo cacau, em cenas memoráveis. A câmara de Dib Lufti, num determinado plano-sequência, percorre lentamente um grupo enorme de guerrilheiros, com armas, sentados nos degraus a toda a volta da praça principal da cidade, à espera do grande confronto. Na cena seguinte, um plano muito aberto mostra toda essa gente agonizando na praça ensanguentada. O Homem Sem Nome fracassa.
A mesma alegoria poderia ser transposta para o cotidiano da vida urbana do presente, pois o seu material humano, do ponto de vista cultural e político, continua presente. A violência, a disputa de território, o banditismo, as oligarquias, a cultura do velho coronelismo, todos os elementos do roteiro de Os Deuses e os mortos estão vivíssimos não só nos grotões, mas nas grandes metrópoles.
Ruy Guerra sabia o que estava fazendo. “Esse filme é talvez o passo mais importante desde Deus e o diabo na Terra do Sol para definir uma realidade cultural, religiosa e humana do brasileiro, que não depende apenas do situacionismo econômico e histórico (…) O Homem, interpretado por Othon Bastos, está infinitamente ligado com o fato de ele não ser caracterizado em termos de passado, presente ou futuro, o que ‘desindividualiza’, o torna atemporal e alegórico; o desejo impessoal do poder”, explicou à época.
Ajuste de contas
A alegoria com a nossa política também seria perfeita, basta ler as notícias dos jornais. O que não falta são candidatos a deuses e a mortos-vivos. Vicejam num ambiente de iniquidade social, desesperança, violência e crise ética. As narrativas desses atores funcionam como alegorias de um passado recente que foi atropelado pela globalização e pela Operação Lava-Jato, mas continua a assombrar o presente. Um ex-governador cordato e querido pelos pares tem a prisão decretada, o ex-líder de toda uma geração rebelde volta à cadeia, um ex-presidente preso insiste numa candidatura ficha-suja. Ministros, senadores, deputados, governadores compõem um cortejo de mortos-vivos, surgem candidatos a deuses.
Fora desse universo, o aparelho de segurança e o crime organizado se enfrentam, com baixas de ambos os lados. E a morte espreita o cidadão a cada esquina, no asfalto ou no morro, na noite escura ou à plena luz do dia, enquanto a vida segue milagrosamente o seu curso, ainda que a esperança não tenha sido reinventada, como nas cenas de Os deuses e os mortos. As instituições do país ainda funcionam, a economia resiste maltratada. Na democracia, acreditem, o povo astucia sua própria saída, que sempre aparece nos processos eleitorais, mesmo quando tudo parece dominado. Em algum momento, após a Copa do Mundo, haverá um reencontro entre a política e os cidadãos. E um democrático ajuste de contas.
http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-os-deuses-e-os-mortos/
Luiz Carlos Azedo: E la nave va
No Supremo Tribunal Federal (STF), seus ministros se digladiam para decidir se concedem a Paulo Maluf (PP-SP), em prisão domiciliar, o direito de apresentar mais um recurso
Parece uma espécie de ópera bufa. Em Porto Alegre, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitaram ontem o último recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra sua condenação a 12 anos e um mês de prisão em regime fechado, o que levou o advogado do petista, Cristiano Zanin Martins, a qualificar a decisão de ilegal: “Mesmo levando em consideração os fatos analisados pelo TRF-4, colide com a lei e com a Constituição Federal”, disse. Lula está preso em Curitiba e mantém sua candidatura a presidente da República, mesmo estando inelegível.
O protesto do advogado está em linha com a entrevista concedida à rede de televisão do mundo árabe Al Jazeera pela presidente do PT, senadora Gleisi Hoffman (PR), também enrolada na Operação Lava-Jato. Ela denuncia a condenação de Lula, ataca a Justiça brasileira, faz um apelo à solidariedade do mundo árabe, a pretexto de que teria havido um golpe de Estado no Brasil, e afirma que Lula é um preso político. É o caso de perguntar: que tipo de apoio ela está querendo da esquerda árabe, notoriamente ligada ao terrorismo?
Enquanto isso, no Supremo Tribunal Federal (STF), trava-se mais uma batalha ao vivo e em cores entre seus ministros, desta vez para decidir se concedem ao deputado afastado Paulo Maluf (PP-SP), atualmente em prisão domiciliar, o direito de apresentar mais um recurso contra a condenação que sofreu no ano passado por lavagem de dinheiro. Votaram contra os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux, enquanto Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski manifestaram-se a favor. O julgamento será concluído hoje, quando votarem os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Cármen Lúcia.
Condenado em maio, o ex-prefeito de São Paulo teve um primeiro recurso negado em outubro pela Primeira Turma do STF. Em dezembro, o ministro Edson Fachin rejeitou um segundo recurso e determinou o cumprimento da pena em regime fechado, mas seu colega Dias Toffoli, a pedido da defesa, concedeu prisão domiciliar a Maluf por razões humanitárias. O episódio é a síntese das divergências na Corte, cujas turmas foram apelidadas pelos advogados de “Câmara de Gás”, a primeira, liderada por Barroso, que manda prender; e “Jardim de Éden”, a segunda, na qual Gilmar é o grande protagonista, que manda soltar.
Caso a Corte derrube a decisão de Fachin, Maluf poderá responder ao processo em liberdade; caso seja recusado, os ministros decidirão se permanecerá em prisão domiciliar ou voltará para o regime fechado. A votação é importante porque pode mudar a jurisprudência da Corte contra os recursos infringentes, ampliando as possibilidades de protelação dos julgamentos e de prescrição das penas. Os políticos enrolados na Operação Lava-Jato, sem distinção, torcem por Maluf.
Cortejo fúnebre
Para os que já estão enfadados de acompanhar os julgamentos, uma boa pedida é ver ou rever o clássico de Frederico Fellini, que empresta o título à coluna. Último grande filme desse mestre do cinema, E La Nave Va foi lançado em 1983, inspirado na mais original criação artística italiana: a ópera. Numa de suas passagens mais antológicas, os passageiros cantam um trecho de La Forza del Destino, de Giuseppe Verdi. Recortes das obras de Bellini, Tchaikovsky e Rossini tecem a trilha sonora, numa homenagem ao compositor Nino Rota, responsável pelas trilhas originais de todos os seus filmes anteriores, que havia falecido.
O navio Glória N. parte com a nata do mundo artístico clássico em direção à Ilha de Erimo, com o propósito de jogar no mar as cinzas da grande diva Edmea Tetua, inspirada em Maria Callas, a célebre cantora grega que foi casada com o magnata Aristóteles Onassis. Matronas fellinianas, palhaços, tenores, sopranos, gente de todas as inclinações sexuais, e uma equipe de jornalismo que registra a viagem, além de um rinoceronte, são os passageiros da nave louca. Acabam surpreendidos pela dura realidade da Primeira Guerra Mundial quando resgatam um náufrago sérvio.
Durante a viagem, as personalidades, os temores e os defeitos dos passageiros são revelados por uma câmera onipresente, que mostra uma verdadeira guerra de egos entre eles. O jornalista ironiza o próprio trabalho: “Dizem: faça a crônica, conte o que acontece… Mas quem é que sabe o que acontece?” A guerra, porém, muda o rumo da história. Os temas da política e da diplomacia roubam a cena com a chegada de mais náufragos. A elite do navio desdenha do que acontece no convés, enquanto os miseráveis observam tudo pelas janelas do salão principal. É uma bela alegoria para o que está acontecendo na política brasileira, às vésperas de mais uma sucessão presidencial.
http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-e-la-nave-va/
Cacá Diegues: O tamanho do cinema
É impensável que se acabe com a Lei do Audiovisual, ou que se reduza seu poder de imposição da existência de um audiovisual brasileiro
Quando comecei a me aproximar do cinema brasileiro, ainda na minha adolescência, o conceito vigente entre os representantes da inteligência nacional era o de que não tínhamos condições culturais e econômicas para construí-lo. Nosso cinema, se um dia existisse de fato e regularmente, jamais seria um produto cultural relevante, muito menos uma indústria como a que caracterizava o cinema que valia a pena, no mundo que prestava. O cinema brasileiro teria muito pouca chance de florescer, fora do que era tratado como vulgaridade nas comédias de carnaval, nossas populares chanchadas.
Para alguns mais radicais, o cinema brasileiro não poderia existir jamais, porque não tínhamos conhecimento técnico, nem talento criativo para fazê-lo. Lembro-me de um cronista escrever, em jornal importante da então capital do país, que estávamos condenados ao ridículo se tentássemos fazer filmes, porque simplesmente o português era uma língua que não servia para o cinema. Era impensável ouvir um artista enamorado dizer, na tela, em vez do clássico e universal “I love you”, um ridículo e improvável “Eu te amo”.
Talvez esse sentimento devesse ser mesmo natural para aqueles que nunca tinham se dado ao trabalho de entender por que o cinema brasileiro jamais tivera uma história fluente, embora o Brasil tenha sido um dos primeiros países do mundo em que se havia filmado. Seis meses depois da exibição inaugural, em Paris, da invenção dos irmãos Lumière, Paschoal Segreto, fotógrafo italiano radicado no Brasil, de volta de uma de suas viagens à Europa, filmava a entrada da Baía da Guanabara, em junho de 1896. Ainda naquele ano, se abriria a primeira sala de projeção no país, à Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro.
A partir daí, o cinema brasileiro passou a viver de ciclos que se abriam com entusiasmo e euforia, para se fecharem logo em seguida por razões econômicas, políticas ou institucionais, que quase nunca eram de responsabilidade dos cineastas envolvidos. O último desses ciclos, o da Embrafilme, foi violentamente encerrado pelo governo Fernando Collor, quando este assumiu a Presidência da República e acabou com todas as leis e regras que permitiam a existência da produção cultural no Brasil.
Depois da posse de Collor, em 1990, o cinema brasileiro, que chegara a produzir algumas dezenas de filmes por ano na década anterior, reduziu-se à produção de dois ou três títulos até o início da discussão da Lei do Audiovisual, em 1993, sob o governo de Itamar Franco. Foi essa lei que, aprimorada e enriquecida sucessivamente pelos governos seguintes de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff, permitiu a retomada da produção e sua estabilidade, como até hoje vigora. É como se o cinema tivesse enfim se tornado uma atividade permanente no Brasil, como se a história do cinema brasileiro tivesse enfim começado, com sua fluência de quase 25 anos e muita diversidade.
Isso nos permitiu avançar no processo de modernização da cultura brasileira, com novas criações à altura do que acontece no resto do mundo e, de vez em quando, à frente do que acontece no resto do mundo. Graças à produção de nossos criadores, o audiovisual brasileiro, seja no cinema, na televisão ou na internet, se tornou nosso principal instrumento de soft power, a arma de influência de velhas e novas potências.
A Lei do Audiovisual, o instrumento que produziu essa revolução na cultura brasileira, não é mais a mesma. Nem faz sentido que seja, depois de algumas naturais e outras inesperadas revoluções na tecnologia de produção e difusão do audiovisual. Mas ela continua sendo, mais do que nunca, indispensável à permanência do que já foi conquistado e ao avanço na direção do que ainda precisamos ser. É impensável que se acabe com ela, ou que se reduza seu poder de imposição da existência de um audiovisual brasileiro. Seria como pôr em risco a existência do próprio país como nação, deixá-lo ser ocupado pelos outros.
Hoje, depois de 55 anos de vida profissional no cinema brasileiro, tenho muito orgulho de tudo o que fizemos juntos, do Cinema Novo a esse momento pródigo de nossa produção, que já não precisa se nomear um movimento específico, não tem razões para separar o que é diverso por natureza. Somos hoje um movimento permanente, navegando cada um em seu barco, em direção a todos os rumos que julgarmos convenientes. É assim que o cinema pode ajudar a construir a nação, sem diminuir o tamanho dela.
* Cacá Diegues é cineasta