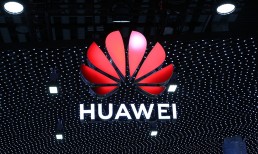China
El País: Saída de Trump prenuncia volta do multilateralismo nos organismos econômicos globais
Substituição na Casa Branca obriga que vários indicados pelo republicano no BID, Banco Mundial e FMI se realinhem com as prioridades de Biden
Ignacio Fariza e Isabella Cota, do El País
As ramificações da troca de guarda na Casa Branca são quase infinitas. Não só em chave interna: o abandono do unilateralismo, marca de Donald Trump, gera a necessidade de uma guinada na retórica imposta pelo republicano em vários organismos internacionais em que manobrou nos últimos anos para colocar nomes de sua confiança. “Quero dizer claramente: a América está de volta, o multilateralismo está de volta, a diplomacia está de volta”, sintetizou na semana passada Linda Thomas-Greenfield, futura embaixadora dos EUA na ONU na era Biden. Trata-se de uma declaração de intenções que deixa a baliza muita alta para os próximos quatro anos.
Desde sua chegada à Casa Branca, em janeiro de 2017, Trump dedicou-se o quanto pôde a colocar três homens de sua confiança na ponte de comando do Banco Mundial (David Malpass, nomeado em 2019), do Fundo Monetário Internacional (Geoffrey Okamoto, primeiro-subdiretor-gerente desde março passado) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Mauricio Claver-Carone, empossado em outubro). Nos três casos, a intenção era buscar reformar essas entidades à sua medida —sempre com a mentalidade de “a América [EUA] em primeiro lugar”— e reduzir ao mínimo as chances de colaboração multilateral: este Governo foi, afinal, marcadamente nacionalista, em que a condição para levar outros países em conta era que fosse Washington quem desse as ordens. E estas ordens deviam, acima de tudo, beneficiar os EUA.
“Não terão o mesmo peso que até agora, mas são pessoas não designadas diretamente pelo Governo dos EUA, e sim escolhidas pelos diretórios destas instituições”, recorda Arturo Valenzuela, subsecretário de Assuntos Hemisféricos dos Estados Unidos nos mandatos de Barack Obama, tendo o próprio Biden como vice-presidente. “Cabe perguntar por sua possível substituição, mas não há razão para esperar, de antemão, que não cumpram seus mandatos”, completa Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial e ex-membro do conselho do FMI, que prevê em todo caso um giro radical nos valores e prioridades que terão que representar.
Cada caso, entretanto, é um mundo. Tanto Malpass como Okamoto têm sua continuidade praticamente garantida. O primeiro soube distanciar-se de seu padrinho político quase desde o primeiro dia, adotando uma invejável discrição. Embora crítico no passado quanto ao papel dos organismos multilaterais, como o que hoje comanda, modulou seu discurso e optou mais por reforçar um perfil de “reformista construtivo”, e não um mero espantalho de Trump no Banco. E não se deve esquecer que a nomeação do chefe do Banco Mundial sempre correspondeu aos EUA.
O segundo, Okamoto, embora muito próximo a Trump, também parece ter pista livre para esgotar seu mandato no FMI sem grandes sobressaltos: é o contrapeso norte-americano da búlgara Kristalina Georgieva —a cota europeia de um organismo que sempre esteve encabeçado por alguém com passaporte do Velho Continente. Com mil e uma frentes abertas, não parece que a nova Administração norte-americana vá querer abrir outra no fundo monetário.
O terceiro, Claver-Carone, é outra história, tanto pela poeira que sua nomeação levantou, a primeira de um não latino-americano à frente do BID, como pelo próprio perfil do cubano-americano, um falcão e membro da ala mais dura do Partido Republicano para assuntos do subcontinente. Também porque chegou ao cargo com a corrida eleitoral norte-americana já lançada e com boa parte das pesquisas contra Trump. “Vai ser difícil para ele trabalhar com o Governo Biden”, observa Valenzuela, recordando no entanto que o cubano-americano insistiu recentemente em nomear seus vice-presidentes no banco, que também precisam ser aprovados pelos Governos regionais, e não conseguiu: “Os países da região simplesmente disseram não”.
Seja como for, tanto Claver-Carone como Malpass e Okamoto se verão fadados a se alinharem com um direcionamento político oposto em muitos sentidos à sua própria visão de mundo. Terão, dito de outra forma, que deixar de lado sua própria ideologia e suas pulsões internas para defender princípios muito diferentes dos da Administração que os nomeou. “O presidente-eleito se apoiará no Banco Mundial, no FMI e no BID para enfrentar as dificuldades econômicas e sociais da pandemia, e esperará que estas pessoas respondam à direção da sua política”, esboça, em conversa com o EL PAÍS, Thomas Shannon, antecessor de Valenzuela nos tempos de George W. Bush. Poderão conviver com Biden no poder? “Dependerá de cada um deles: terão que se adaptar a um entorno completamente diferente em Washington”.
Mudança de retórica
Tudo indica que os anos de unilateralismo ficarão para trás a partir do próximo 20 de janeiro, quando Biden já estiver definitivamente instalado no número 1.600 da avenida Pensilvânia, em Washington. A julgar pelo discurso dele e da sua equipe, o democrata tratará de recolocar os EUA no centro da política econômica global, procurará tecer laços e cumplicidades com outros países em vez da política do “comigo ou contra mim”, defendida por seu antecessor e reforçará a capacidade de ação dos organismos internacionais quando o mundo mais precisa deles, em plena saída da crise do coronavírus. As indicações de Janet Yellen, ex-presidenta do Fed, como chefa do Tesouro e de Anthony Blinken como secretário de Estado são uma clara amostra dos rumos a partir de agora.
“Biden retornará à abordagem multilateral de Obama. Entre outras coisas, porque ficou demonstrado o fracasso das guerras comerciais unilaterais de Trump”, projeta Canuto. “O presidente-eleito utilizará o multilateralismo para demonstrar que os EUA voltam a se comprometer com o mundo, promovendo a cooperação e a colaboração”, salienta Shannon. “Se algo Biden fará é justamente recuperar o multilateralismo e fortalecer as instituições internacionais que ficaram à margem neste Governo”, conclui Valenzuela. À margem do FMI, do Banco Mundial e do BID, o caso da Organização Mundial do Comércio (OMC) brilha com luz própria: acéfala há meses e esmigalhada pelo impulso da retórica protecionista de Trump, deveria ser uma das entidades onde mais a substituição em Washington seria sentida. Sopram ventos de mudança na Casa Branca e nos principais organismos econômicos internacionais.
Elio Gaspari: A nova Revolta da Vacina
Só um burocrata megalomaníaco pode acreditar que poderá impedir que as pessoas busquem os postos de saúde
Depois de ter dito que a Covid era uma “gripezinha” que o brasileiro tiraria de letra e que a cloroquina era remédio eficaz, Jair Bolsonaro não deve esperar da plateia que ela lhe dê ouvidos. Já morreram mais de 178 mil pessoas, número superior ao dos mortos de Hiroshima em 1945. Contra bomba atômica não há vacina, mas contra a Covid haverá. Enquanto o processo de imunização segue um curso de racionalidade pelo mundo afora, em Pindorama o jogo político contaminou a discussão.
O governador João Doria anunciou que começará a oferecer vacinas a partir do dia 25 de janeiro. Pintada para a guerra, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária apressou-se para informar que “não foram encaminhados dados relativos à fase três, que é a fase que confirma a segurança e eficácia da vacina, esse dado é essencial para a avaliação tanto de pedidos de autorização de uso emergencial quanto pedidos de registro”.
Só um burocrata megalomaníaco pode acreditar que poderá impedir que as pessoas busquem os postos de saúde. A vacina só será oferecida em janeiro aos índios, quilombolas e profissionais de saúde. Quem anda pelas ruas de São Paulo não costuma cruzar com índios nem quilombolas. Restam os profissionais de saúde. Admitindo que esse burocrata existe, seria ridículo vê-lo dizendo ao doutor David Uip que não pode tomar a CoronaVac. Até as pedras sabem que os tribunais derrubarão quaisquer tentativas para impedir a aplicação das vacinas. Países andam para trás: em 1904, houve no Rio uma revolta contra a vacina obrigatória, o desconforto da Anvisa estimularia em 2020 uma revolta contra a vacina voluntária.
Bolsonaro falava em “menos Brasília, mais Brasil”. Pois é disso que se precisa. Se o almirante da Anvisa ou o general do Ministério da Saúde tiverem argumentos para bloquear a aplicação da CoronaVac, que coloquem a cara na vitrine dando suas razões. Há poucas semanas, a Anvisa meteu-se num vexame suspendendo testes a partir da morte de um voluntário que se havia suicidado.
Bolsonaro e Doria acusam-se de fazer política no meio da pandemia. É verdade, mas um detalhe os separa. Um faz política com a “gripezinha”, o outro oferece uma vacina.
A CoronaVac só será oferecida para quem tem mais de 75 anos a partir de 8 de fevereiro. Jair Bolsonaro, se quiser, só poderá ser vacinado a partir de 21 de março, quando completará 65 anos.
O negacionismo de Bolsonaro levou-o a uma armadilha. Continuar na linha que adota desde março será apenas falta de juízo. A Anvisa e o Instituto Butantan têm profissionais qualificados para discutir as qualidades ou os defeitos da CoronaVac. Um finge que se deve respeitar o rito burocrático; e o outro finge que respeita esse mesmo rito, impondo-lhe um prazo de validade.
O ministro da Saúde, general Pazuello, fez fama como um especialista em logística. Reunido com governadores, disse a João Doria: “Não sei por que o senhor diz tanto que ela [a vacina] é de São Paulo. Ela é do Butantan”. Ganha uma viagem a Caracas quem souber a importância disso. Do jeito que o general fala, se a logística do desembarque na Normandia estivesse nas suas mãos, em agosto de 1944 os Aliados não estariam em Paris. Os alemães é que teriam chegado a Londres.
Vinicius Torres Freire: Doria presta um serviço, mas exagera na guerra da vacina da Covid contra Bolsonaro
Anvisa será quase obrigada a liberar Coronavac se vacina for aprovada na China
Se a “vacina chinesa de João Doria” prestar e for aprovada pela Anvisa da China, Jair Bolsonaro terá perdido a primeira grande batalha dessa guerra idiota na saúde. Será quase impossível evitar a aprovação da Coronavac também por aqui e quase imediatamente (explicações mais adiante).
A fim de pelo menos empatar o jogo, Bolsonaro e seu capacho da Saúde teriam de correr para importar outra vacina já aprovada, como começam a fazer no caso da Pfizer, sobre a qual estavam sentados com a nauseabunda incompetência dos dois. Teriam também de começar uma campanha de vacinação antes de fevereiro. Ainda assim, ponto para Doria, que teria então prestado pelo menos o serviço de fazer com que Bolsonaro pare de sabotar a vacinação.
Obviamente, Doria perdeu a mão, subiu nas tamancas e queimou o filme com um monte de governadores presentes à reunião desta terça-feira com o chefe do almoxarifado da Saúde, esse Eduardo Pazuello. Em vez de apenas generosamente oferecer cooperação ao restante do país, Doria se dedicou a limpar seu sapatênis no capacho da Saúde e disse que fazia e acontecia. Não pegou bem. Politiza a vacina tanto quanto Bolsonaro, embora não seja negacionista. Etc. Mas passemos.
Segundo lei deste ano, a Anvisa pode liberar o uso da Coronavac ou de qualquer outro imunizante já aprovado pelas agências de Estados Unidos, União Europeia, Japão ou China. Se não o fizer e não tiver bons motivos para explicar sua recusa ao público, provocará um salseiro, que respingará em Bolsonaro, que de resto tenta aparelhar a agência dando mais boquinhas a militares.
Se vários países começarem a vacinar e o Brasil ficar para trás, sem solução e injeção, pior ainda. Doria prometeu vacinação a partir do dia 25 de janeiro, sabe-se lá com base em quê. Mas, suponha-se que dê certo e não exista outra vacina no Brasil.
Sem vacina, com o repique da Covid apenas controlado, na melhor das hipóteses, com inflação da comida nas alturas, sem auxílio emergencial e com desemprego perto do pico, o clima não estará bom no país e para Bolsonaro.
As aulas das crianças começam no início de fevereiro. Mesmo que a vacinação começasse amanhã no país inteiro, as escolas ainda voltariam em situação precária em 2021. No entanto, se não houver ao menos perspectiva de alívio e mais aulas presenciais seguras, as famílias vão ficar entre nervosas e enfurecidas, pelo menos um tanto desesperadas. No front econômico, a inflação continuará subindo. Mês a mês, tende a aumentar mais devagar, a partir de fevereiro. Mas a taxa anual acumulada do IPCA irá a mais de 6% até maio. A inflação da comida (“alimentação no domicílio”) já está em mais de 21% ao ano, a maior desde 2003.
No final de janeiro, não haverá pagamento de auxílio emergencial, que acaba neste dezembro. O desemprego deverá estar nas máximas de 2021 (deve piorar até março, por aí).
Em 21 de outubro, Bolsonaro escrevia nas redes insociáveis que a “vacina chinesa de João Doria” “NÃO SERÁ COMPRADA”. As medidas do governador paulista e sua campanha política puseram Bolsonaro na defensiva e, agora, em uma reação desordenada, mas que pode ser positiva para o que interessa, que é a vacinação. Sem a ameaça da Coronavac, seria mais difícil pressionar Bolsonaro e sua ordenança na Saúde.
Até aqui chegamos.
No entanto, é preciso lembrar: ainda não existe Coronavac. Se a vacina for um fiasco, essa bomba vai explodir no colo de Doria, que então terá falecido politicamente.
Eliane Catanhêde: Seringas vazias?
Risco de aparelhamento de Saúde e Anvisa é o Brasil e você, brasileiro, ficarem sem vacina
Depois de duas semanas de férias, a coluna volta com uma dúvida: os generais Mourão, Fernando, Heleno, Braga Netto, Ramos e Pujol vão permitir que o presidente Jair Bolsonaro aparelhe a Anvisa e deixe o Brasil ser pego de calças curtas e seringas vazias? E que você, brasileiro, não seja vacinado?
Mesmo bolsonaristas renitentes, que negam a realidade e se recusam a ver o que está acontecendo, começam a se preocupar. Bolsonaro chegaria a tanto? Como ele ultrapassa todos os limites, o tempo todo, a resposta é preocupante: sim, e ele já se mostrou capaz de priorizar suas guerrinhas políticas em detrimento da vacina.
Uma coisa é dar de ombros para parceiros internacionais, Amazônia, Cultura, Meio Ambiente, Educação e até mesmo, por incrível que pareça, Saúde. Isso tudo pode parecer “abstrato” e “distante”, acionando o “não tenho nada a ver com isso”. Mas quando se trata de vacinas, é algo objetivo, direto, nem bolsonarista resiste.
É como se Bolsonaro tivesse um prazer mórbido de confrontar, chocar, sempre testando limites. Como tudo na vida tem limite, ele precisa desesperadamente manter o apoio do Centrão e tirar do deputado Rodrigo Maia (DEM) o controle da Câmara e, particularmente, das dezenas de pedidos de abertura de impeachment. De tanto esticar a corda, um dia ela arrebenta. E a vacina contra a covid-19 pode ser o “turning point”.
Até por isso as instituições precisam estar devidamente sólidas, confiáveis, e foi um erro imperdoável do Supremo aventurar-se pelo terreno pantanoso da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Que Davi Alcolumbre se prestasse a esse papel, tudo bem, está do tamanho dele. Mas Rodrigo Maia lavar as mãos? E ministros do Supremo taparem os olhos (e o nariz) para jogar no lixo o texto constitucional?
O Supremo tem sido fundamental na defesa da democracia e contra golpistas de Executivo, Legislativo, empresariado, blogosfera. Foi graças à firmeza pessoal e jurídica de um Celso de Mello, um Alexandre de Moraes, que essa gente se recolheu. Ninguém mais vê manifestações contra Congresso e STF, muito menos o presidente atiçando a turba com o Quartel General do Exército ao fundo ou sobrevoando essas aglomerações com o ministro da Defesa, de helicóptero.
Logo, os 11 ministros do Supremo têm que se preservar, de manter a credibilidade da instituição garantidora, por excelência, do Estado Democrático de Direito. Não podem repetir Bolsonaro e priorizar seus próprios achismos e fingir que a Constituição (secundada pelos regimentos internos) não diz o que diz: que é vedada a reeleição para as presidências do Congresso na mesma Legislatura. É grosseiro, não faz jus à inteligência, à responsabilidade e ao compromisso do nosso Supremo com o nosso País.
Sim, Rodrigo Maia cumpre um papel importante, em alguns momentos decisivo, ao botar o pé na porta e estabelecer limites às insanidades e arroubos do presidente, mas não é recorrendo a expedientes também golpistas para lhe dar um novo mandato ilegal que Judiciário e Legislativo terão legitimidade para manter a democracia e o equilíbrio institucional.
O Brasil precisa de Supremo e Congresso fortes, para exigir democracia e defender princípios, avanços, leis e, agora, o acesso da população às vacinas, com planejamento e campanha impecáveis de imunização. Mas, se as instituições aderem a jeitinhos mequetrefes, acabam se embolando com Bolsonaro. Não sobra nada. Ainda mais se as Forças Armadas fecharem bocas, olhos e ouvidos e se tornarem coniventes com ameaças à independência da Anvisa e à segurança dos milhões de brasileiros. Calma, gente! Há que manter a compostura.
Luiz Carlos Azedo: Como perder a guerra
Bolsonaro cria mais obstáculos para o desenvolvimento do país do que se imagina, pois aprofunda nosso atraso econômico e tecnológico e retarda a recuperação da economia
Quando invadiu a antiga União Soviética, Adolf Hitler já havia conquistado boa parte da Europa: além da Áustria, Tchecoslováquia e Polônia — o que deflagrou a Segunda Guerra Mundial —, a Noruega, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda, a França, a antiga Iugoslávia e a Grécia, além de ex-colônias europeias na África. A Operação Barbarrosa foi iniciada pelos alemães em 22 de junho de 1941 e mobilizou mais de três milhões de soldados. Sua intenção era conquistar a URSS em oito semanas. Três objetivos estratégicos foram estabelecidos por Hitler. Ocupar Moscou, a sede do governo; obter a rendição de Leningrado (São Petersburgo), a grande porta russa para o Ocidente; e controlar Stalingrado (antiga Tsarítsin, hoje, Volgogrado), para garantir petróleo em abundância. Foram passos maiores que as pernas. A 30 quilômetros de Moscou, que chegou a ser evacuada, os alemães foram repelidos; apesar da fome, a população de Leningrado resistiu até o cerco ser quebrado, em 1944. Estratégica para o controle do Cáucaso, área considerada vital para o abastecimento das tropas alemãs, em Stalingrado, a batalha foi a mais longa e sangrenta de toda a guerra, mudando seu curso.
Os alemães não tinham recursos suficientes para manter uma guerra de longa duração em território soviético, na qual exauriram suas energias. Além disso, a derrota em Stalingrado quebrou a aura de invencibilidade do Exército alemão, que acabou cercado e se rendeu. Cerca de 400 mil alemães, 200 mil romenos, 130 mil italianos e 120 mil húngaros morreram, foram feridos ou capturados. Dos 91 mil alemães feitos prisioneiros em Stalingrado, apenas 5 mil voltaram para a Alemanha. Os soviéticos sofreram cerca de 1,13 milhão de baixas, sendo 480 mil mortos e prisioneiros e 650 mil feridos em toda área de Stalingrado. Quando se rendeu, o comandante do 6º Exército alemão, marechal de campo Friedrich Paulus, referindo-se a Hitler, declarou: “Não tenho intenção de me suicidar por aquele cabo da Baviera”. Nunca antes um marechal de campo alemão havia se rendido numa frente de batalha; preferiam o suicídio à desonra. Ele havia cumprido as ordens de não se retirar de Stalingrado, a qualquer preço, mas acabou isolado, sem munição nem suprimentos.
Tem gente que considera a política uma guerra sem derramamento de sangue. Geralmente, trata os adversários como inimigos a serem exterminados. Entretanto, eles ressuscitam. Um dos três protagonistas da Conferência de Yalta, que dividiu o mundo em áreas de influência — ao lado de Franklin Delano Roosevelt (EUA) e Josef Stálin (URSS) —, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill dizia: “A política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política diversas vezes.”
Frentes de batalha
Não por acaso, analogias de cunho militar são usadas na análise política. Por exemplo, a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao poder resultou de uma “guerra de movimento” bem-sucedida na campanha eleitoral de 2018, uma espécie de “britzkrieg”. Na Presidência, manteve essa tática no primeiro ano de governo para ampliar seus poderes, até trombar com o Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga o chamado “gabinete do ódio” (a disseminação de fake news e ataques a autoridades nas redes sociais por colaboradores encastelados no Palácio do Planalto) e o caso “rachadinhas” da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no qual está envolvido o senador Flavio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Desde então, opera uma “guerra de posições”, na qual tenta envolver as Forças Armadas, mobiliza os órgãos de controle do Estado, entre os quais o Ministério Público Federal (MPF), e pretende controlar o Congresso, o Judiciário e os grandes meios de comunicação de massa. Mutatis mutandis, foi essa estratégia de Wladimir Putin na Rússia para garantir sua longa permanência no poder.
O problema de Bolsonaro é que a verdadeira guerra está sendo travada em outros terrenos, nos quais não tem a menor chance de vitória. A primeira frente é a política ambiental, que nos levou a um grave litígio com a União Europeia, principalmente, com a Alemanha, a França e a Noruega. Os resultados de sua política são uma contradição em si mesma: quanto mais “passa com a boiada”, mais isolado internacionalmente fica.
A segunda, a crise sanitária, na qual Bolsonaro chegou a um ponto crítico, em razão do seu negacionismo: entrou numa guerra particular com o governador João Doria (SP), de São Paulo, por causa da vacina chinesa, e não tem mais como sair dela, a não ser se rendendo e comprando a CoronaVac, que já começou a ser produzida em grande escala pelo Instituto Butantan. Se não o fizer, a segunda onda da pandemia será uma tragédia ainda maior do que a primeira, porque a vacina de Oxford não está pronta e levará mais tempo para ser produzida pela Fiocruz e aplicada em massa.
A terceira frente é o não-reconhecimento da vitória do presidente norte-americano Joe Biden, que nos leva a um isolamento internacional sem nenhum precedente na História. Com isso, a política externa de Bolsonaro, como a ambiental e a sanitária, está em colapso. Em rota de colisão com a China, nosso maior parceiro comercial, agora ficou de mal com novo presidente dos Estados Unidos, o segundo parceiro, tudo em solidariedade ao presidente Donald Trump, que não se reelegeu. Essas três frentes de batalhas criam mais obstáculos para o desenvolvimento do país do que se imagina, pois aprofundam nosso atraso econômico e tecnológico e retardam a recuperação da economia.
Hélio Schwartsman: Casamento feliz
É boa a notícia de que técnicos da Anatel não restringiram participação da Huawei
Foi o casamento entre desenvolvimento tecnológico e economia de mercado que, a partir de fins do século 18, lançou o planeta numa era de prosperidade material sem precedentes.
Em tese, pode-se ter um sem o outro, mas é quando caminham juntos que os efeitos sinérgicos se materializam. Vale lembrar que a URSS detinha tecnologia de ponta em algumas áreas, mas, ainda assim, soçobrou por causa da economia.
À luz dessas considerações, nem haveria o que pestanejar em relação ao 5G. Se a tecnologia da chinesa Huawei é reconhecidamente melhor e mais barata do que a dos concorrentes e se um eventual veto à sua participação ainda exigiria refazer grande parte da infraestrutura de 3G e 4G, parece ilógico não incluir os chineses entre os fornecedores de equipamentos de 5G para o Brasil.
Não digo que outras questões, como a segurança nacional, não possam entrar na equação. Mas elas precisam ser reais e categóricas o bastante para justificar abrir mão do ganho econômico que teríamos com a participação da Huawei.
E não penso que sejam. O temor de espionagem é justificado, mas não apenas em relação aos chineses. O caso documentado mais recente de bisbilhotagem contra nossas autoridades leva a assinatura dos norte-americanos.
O remédio contra isso não é sonhar com uma rede telefônica inexpugnável, mas, pelo menos no caso do alto escalão, recorrer à criptografia avançada e a melhores rotinas de segurança. Quanto ao público geral, é possível e até provável que esteja mais interessado em preços baixos do que em proteção a dados pessoais, que, aliás, entrega com gosto e de graça às big techs.
Nesse cenário, é boa a notícia de que a área técnica da Anatel não restringiu a participação da Huawei. Se Bolsonaro quiser tirar os chineses da jogada, terá de escancarar que o faz por idiossincrasias suas. Decisões sem amparo técnico têm maior chance de ser revertidas a Justiça.
Hélio Schwartsman
Jornalista, foi editor de Opinião. É autor de "Pensando Bem…".
El País: Na briga entre Eduardo Bolsonaro e a China, Planalto deveria temer destino da Austrália
Igor Patrick e Lucas Wosgrau para o El País
Presidente vê o Brasil como intocável, mas deveria olhar com atenção para as reprimendas comerciais que Pequim impôs ao gigante da Oceania
“Não temos problema nenhum com a China (...), nós precisamos da China e a China precisa muito mais de nós”. A mais recente declaração do presidente Jair Bolsonaro em relação ao maior parceiro econômico do Brasil é menos um reconhecimento da importância estratégica da relação bilateral que a tentativa de deixar claro que seu governo não vê —ou, pelo menos, evita anunciar— a China como um inimigo.
O presidente assumiu um papel pelo qual seu vice, o general Hamilton Mourão, se tornou conhecido na China: o de bombeiro de posicionamentos incendiários do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). A confusão patrimonial entre o que é governo e o que é família —marca da atuação dos Bolsonaro na política doméstica— revelou finalmente seu potencial de minar a relação estratégica entre Brasil e China.
A fala em dia eleitoral conclui uma semana marcada por tweets pró-Estados Unidos, e anti-China, assinados pelo deputado federal e membro da família presidencial. Provocativas, ameaçadoras e filosóficas, as mensagens trocadas na rede social favorita dos Bolsonaro (e dos diplomatas chineses) esticaram a corda na já tensionada relação Brasil-China.
A postura da embaixada da China, porém, denota uma subida de tom. Desta vez, a diplomacia não foi velada quanto a ameaças ao Brasil. Pelo Twitter, reagiu alertando para “consequências negativas” ao relacionamento bilateral e acusou o parlamentar de “solapar a relação amistosa” entre os países. É um sinal inequívoco de que, mais do que relegar ao quase-embaixador em Washington o papel de um simples parlamentar com viés sinofóbico, Pequim começa a dar ao “03” a importância de um oficial do Governo.
É óbvio —aqui e na China— que Eduardo Bolsonaro não é um deputado abusando de sua liberdade de expressão. Mourão, em março, deixou clara a mensagem que o pai do deputado, e presidente da República, não poderia dizer: “Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não era problema nenhum (...), ele não representa o Governo”.
O vice —personagem frequente na imprensa chinesa pela sua defesa da evolução das relações comerciais e culturais entre os dois países— tentava superar a verborragia do filho do presidente, que dias antes comparava a pandemia de covid-19 ao encobrimento da catástrofe nuclear em Chernobyl e acusava diretamente a China pelo espalhamento do vírus.
Se havia alguma dúvida sobre a origem e o respaldo aos comentários dentro do Palácio do Planalto, foi o chanceler Ernesto Araújo, o responsável por corroborar a impressão. A despeito dos apelos da embaixada chinesa por uma intervenção do Itamaraty na contenção de danos, o ministro criticou as declarações irritadas do embaixador Yang Wanming e negou que o deputado tivesse ofendido o Estado chinês.
À época, coube ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) colocar panos quentes. O recado veio por meio de uma reprimenda pública a Eduardo, cuja “atitude não condiz com a importância da parceria estratégica Brasil-China e com os ritos da diplomacia”, nas palavras de Maia. Em parte, também era uma tentativa de blindar o Congresso: pelo menos por enquanto, Eduardo segue como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e, se não fala pelo Planalto, em alguma medida representa seus colegas congressistas.
Entre política de Estado e estratégia eleitoreira
Os tweets de Eduardo Bolsonaro foram percebidos em março como perigosa provocação e depois como tomada de posição. A China vem denunciando mundialmente o que considera “antagonismo à moda da Guerra Fria” e os danos dessa mentalidade ao multilateralismo, ao direito internacional e à possibilidade de avanço do desenvolvimento global percebido desde sua entrada na Organização Mundial do Comércio em 2001.
Em um país democrático, a representação oficial chinesa no Brasil deveria esperar opiniões críticas e expressões de parlamentares que buscam representar um eleitorado tradicionalista —mais que conservador— insensível a qualquer argumento econômico. A disputa se justifica, no entanto, porque o sentimento vocalizado por Eduardo ecoa na opinião pública brasileira, normalizando a antítese do pragmatismo ganha-ganha que marcou a construção da relação bilateral desde Geisel até Dilma.
A política doméstica chinesa e a legitimidade do governo Partido Comunista da China se tornaram assunto nos salões do Itamaraty e do Alvorada. A chancelaria de Ernesto Araújo reservou à Fundação Alexandre Gusmão (a histórica FUNAG) o espaço de crítica intelectual —por falta de melhor adjetivo— ao comunismo, globalismo e materialismo anti-ocidental.
Essa ideologia esquerdista teria encontrado na China —após a queda do muro de Berlim— uma campeã irresistível apoiada por elites liberais, Hollywood, Wall Street e o Vaticano do papa Francisco. Os aliados ideológicos da China, por serem modernos, são os inimigos íntimos do tradicionalismo defendido por Olavo de Carvalho e Araújo. É compreensível que os chineses critiquem a convivência de pragmatas —capitaneados por Mourão e os ministros Teresa Cristina (Agricultura) e Tarcísio Freitas (Infraestrutura)— e cruzados dedicados à metapolítica.
Há, portanto, pouca margem de questionamento sobre por que a China deixou de ver Eduardo como um parlamentar sem filtros, com pouca influência na política externa brasileira para alguém que legitimamente fala em nome do governo. A resposta está em seu entorno, quando o líder da chancelaria, os membros da ala ideológica e, em alguma medida, até o presidente endossam seu discurso (mesmo que de forma mais sutil e, por vezes, normalizando embaraçosamente ideias pouco convencionais no debate público).
Esta abordagem caótica é, em parte, o reflexo direto de um problema nunca superado na cultura política brasileira e aprofundado consideravelmente nesta gestão bolsonarista: o patrimonialismo do presidente e sua família desconhece (ou ignora) a personalidade jurídica simbolizada na figura do Estado. Jogam para a claque porque o eleitorado fiel ou compra de bom grado a narrativa ou não se importa com as consequências dela. O bolsonarismo instrumentalizou o Itamaraty como braço da campanha de 2022.
Para os chineses —onde os limites entre Partido e Estado também são nebulosos—, os ruídos de comunicação são mais barulhentos que as vozes sensatas espalhadas em outras esferas políticas ou mesmo dentro da administração. Ainda que o Ministério das Relações Exteriores evite liderar acusações à China em matérias polêmicas, como as causas da pandemia da covid-19 e o leilão do 5G, o dano midiático já está feito.
Perdida, culturalmente ignorante sobre a história, a cultura e a política chinesa, a imprensa pouco faz para contestar o discurso xenofóbico e ignorante que escorre dos esgotos de Brasília. Sem repertório e com pouca tradição na cobertura de eventos internacionais, se fia pelos exemplos de outros países do hemisfério Norte na tentativa de encontrar alguma pista do que o futuro nos reserva nessa briga sem sentido. Mas as respostas não estão nos Estados Unidos: estão em um país da Oceania.
“Australização” das relações é ameaça real
No espectro de trocas bilaterais, poucos governos ocupam um espaço tão destacado para a política externa chinesa quanto o australiano. Não obstante ser o lar da maior comunidade chinesa fora da China em todo mundo, Camberra mantém fortes laços educacionais e comerciais com Pequim, essenciais ao seu crescimento. É a Austrália —não o Brasil— a principal fornecedora de carne bovina, vinhos e minério de ferro ao gigante asiático. Sua matriz exportadora é muito semelhante à nossa, guardadas as proporções em volume: a balança comercial deles com a China chegou a 103 bilhões de dólares (cerca de 600 bilhões de reais) em 2019, número maior que o Brasil registrou no mesmo período (pouco mais de 98 bilhões de dólares, ou 560 bilhões de reais).
Nada disso evitou as duras reprimendas comerciais chinesas aos australianos. Com o acirramento de relações e acusações que vão desde espionagem até crimes de guerra, passando pela insistência do premiê Scott Morrison em comandar uma investigação independente sobre as origens da covid-19, as trocas comerciais foram duramente afetadas.
Em agosto, a alfândega da China já tinha banido a importação de cinco tradicionais frigoríficos australianos, justificando a decisão por motivos sanitários (de acordo com os chineses, amostras indicavam o uso de cloranfenicol, um antibiótico veterinário para combate à febre tifóide). Coincidência ou não, a ordem foi anunciada dias após Morrison apresentar uma legislação dando ao governo federal o poder de veto a acordos com potências estrangeiras, uma clara tentativa de barrar cooperação comercial do Estado de Vitória com a iniciativa chinesa Um Cinturão, Uma Rota.
A mais recente investida de Pequim? A decisão de impor tarifas de até 212% ao vinho australiano, uma decisão que contrária ao próprio posicionamento chinês na Organização Mundial do Comércio, mas com potencial para efetivamente falir a indústria australiana.
Números e retórica tão dura assim ainda deixam margem para pensar que a China depende mais do Brasil que nós deles? Se ainda restar dúvidas, basta ver os movimentos recentes dos chineses. Em agosto, a Rússia anunciou que pretende ampliar o volume de suprimentos de soja para os chineses em 3,7 milhões de toneladas até 2024. Dois meses depois, Pequim fechou acordo para importar 103 milhões de toneladas de soja anualmente da Tanzânia, país com ambiente político muito mais favorável aos chineses. São iniciativas tímidas e incapazes de substituir o peso de Brasil e Estados Unidos para suprir a demanda do grão, mas funcionam como mensagem cifrada. Há alternativas.
A conta pelo isolacionismo promovido por Bolsonaro vem chegando aos poucos. Sem o apoio do “amigão” Donald Trump na cadeira da Casa Branca, os apelos de socorro podem encontrar uma comunidade internacional conscientemente surda e ansiosa por um escolha melhor e minimamente civilizada nas urnas de 2022.
Igor Patrick é um jornalista especializado na cobertura da China e mestrando em Política e Relações Internacionais na Yenching Academy da Universidade de Pequim. É diretor de comunicação da Observa China.
Lucas Wosgrau Padilha é advogado especializado em Direito Econômico e Relações Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). É mestrando em Direito e Sociedade na Yenching Academy da Universidade de Pequim e diretor de estratégia da Observa China.
José Roberto Mendonça de Barros: Um primeiro balanço da economia global
Uma primeira observação é notar o sucesso relativo de várias regiões em lidar com a pandemia; dentro do espaço econômico, porém, a assimetria de situações e ampliação das desigualdades foram a marca universal
A covid-19 dominou totalmente 2020: pela surpresa com que apareceu e velocidade com que se espalhou pelo mundo, por sua durabilidade e pelos catastróficos efeitos sobre as pessoas, as sociedades e o desempenho econômico. O único alívio é a certeza de que teremos vacinas disponíveis já no primeiro trimestre do próximo ano.
Vai levar muito tempo para que análises mais consistentes possam ser feitas quanto aos impactos do vírus. Entretanto, é útil fazermos um primeiro balanço. Uma primeira observação é notar o sucesso relativo de várias regiões em lidar com a pandemia, pois o ano foi mostrando resultados bastante diversos. Dentro do espaço econômico, porém, a assimetria de situações e a ampliação das desigualdades entre pessoas, regiões e empresas foram a marca universal.
Não há nenhuma dúvida de que a Ásia sai ganhadora do enorme desafio de voltar à normalidade. Isso porque a maior parte dos países do continente – a grande exceção é a Índia – acabou por lidar bastante bem com a pandemia. A estratégia bem-sucedida foi similar: quarentena e testagem da população em larga escala. Após um eventual teste positivo, as autoridades sanitárias isolavam todos os contatos do paciente, o que terminou por conter rapidamente a contaminação. Como o vírus apareceu no primeiro trimestre de 2020, já a partir de abril a maior parte dos asiáticos foi voltando ao trabalho. Com isso, alguns países, como a China, apresentarão crescimento do PIB já neste ano. E todos vão crescer com robustez em 2021. Além disso, no dia 15 de outubro, 15 dos países da região assinaram um acordo comercial denominado Parceria Econômica Regional Abrangente, que certamente acentuará a já avançada integração das cadeias produtivas asiáticas, reforçando o crescimento.
Eis aí mais um custo da gestão Trump, que em uma de suas primeiras medidas retirou os Estados Unidos de outro acordo longamente negociado no governo Obama, o Acordo Transpacífico. Essa negociação buscava reforçar a posição dos parceiros americanos na Ásia de sorte a conter a expansão chinesa. A decisão de Trump criou a oportunidade para a China, que dela alegremente se aproveitou. O crescimento de boa parte dos países da Ásia entre 2020 e 2021 será significativo, especialmente na China, cujo PIB expandirá 10%, segundo as últimas projeções do FMI.
Os Estados Unidos, por outro lado, ainda estão sofrendo muito com a disseminação do vírus. Na média móvel de sete dias terminada no dia 23, ocorreram quase 170 mil novos casos e mais de 1.500 mortes por dia, um número elevadíssimo. Isso é o resultado do negacionismo do governo americano – aliás, similar ao do brasileiro. A economia deve se contrair 4,3%, o que não será compensado pela projeção de um crescimento de 3,1% no próximo ano. No biênio, a economia americana, embora apresente dinamismo na área tecnológica e no mercado imobiliário, ainda andará de lado porque largas frações dos serviços e o mercado de trabalho continuarão sofrendo com a imposição do distanciamento social. O resultado da eleição mostrou um país muito dividido, que torna muito mais difícil implantar novas políticas públicas.
Com essas projeções, a distância entre a economia da China e a americana encolherá incríveis 10% em dois anos!
O terceiro bloco econômico relevante é o europeu. O impacto da segunda onda da covid no Velho Continente está sendo muito grande. O FMI projeta queda no PIB em torno de 10% na França e na Itália e de 13% na Espanha. O ponto positivo é que, em meio à tormenta, França e Alemanha se puseram de acordo quanto à política fiscal, decidindo pela emissão de € 750 bilhões em bônus para apoiar a retomada. Além disso, o grupo decidiu também estimular investimentos de uma agenda de futuro: descarbonização e novas energias, baterias e eletrificação da frota, inteligência artificial e outras.
Finalmente, e lamentavelmente, as perdas na América Latina serão enormes, especialmente na Colômbia, no México, no Peru e na Argentina, com retração próxima ou superior a 10% no PIB. Mesmo no Chile, país exemplo da região, a economia deve recuar 6%. Em todos os países, exceto o Uruguai, vemos crises políticas significativas. O Brasil, com nossa projeção de queda de 4%, até que não se sai tão mal no meio desse banho de sangue.
* Economista e sócio da MB Associados.
Raul Jungmann: 5G - Politização e interesse nacional
Esta semana, mais uma vez, tivemos um conflito diplomático entre o Brasil e China, motivado por um tuite desrespeitoso e irresponsável do Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara seguida de resposta do embaixador da China.
Os países mais avançados na introdução de tecnologia 5G são a Alemanha, China, Coreia do Sul, EUA e Japão. Existem atualmente 40 operações comerciais de 5G em 16 países, conduzidas por duas dezenas de operadoras.
O Brasil é um player de peso no comércio global das tecnologias de informação e comunicações e nas principais instâncias da governança cibernética. Somos, depois da China, Índia e EUA, o quarto maior usuário global da Internet. Entre 2000 e 2017, o percentual da população brasileira com acesso à Internet evoluiu de 3% para 67,5%.
A companhia chinesa Huawei é hoje a principal ofertante de serviços 5G, com preços de mercado mais vantajosos do que as outras duas concorrentes, Nokia e Ericsson. O governo dos EUA pressiona seus parceiros econômicos a não adquirir os produtos e serviços de 5G da Huawei, sob a argumentação de que eles trariam graves riscos securitários.
Países influentes nas agendas econômica e securitária globais, como Alemanha, Coreia do Sul, França, Índia e Reino Unido têm indicado, entretanto, intenção de não desconsiderar a priori quaisquer das ofertas de 5G, inclusive da Huawei, desde que atendidos os objetivos nacionais de desenvolvimento tecnológico e critérios de segurança.
Contrariando essa tendência, o Reino Unido e a Suécia reviram sua decisão recentemente e colocaram impedimentos para a participação da Huawei em projetos de 5G.
Em junho de 2019 o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações divulgou a Estratégia Brasileira de Redes de Quinta Geração. Em 31/10/2019, foi instaurado Grupo de Estudo sobre a tecnologia 5G.
O principal objetivo do grupo é subsidiar o Governo federal para a adoção de um ecossistema 5G que atenda aos requisitos de maior cobertura nacional possível, prestação eficiente de serviços, fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico e segurança das infraestruturas críticas e cadeias de produção.
A Anatel e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) têm defendido o princípio de neutralidade tecnológica. Em fevereiro de 2020, a Anatel aprovou proposta de edital de leilão 5G.
O leilão deverá movimentar R$ 20 bilhões em arrecadação e investimentos. Após sucessivos adiamentos, a estimativa do Presidente da Anatel é a de que o leilão ocorra no primeiro semestre de 2021.
Ideologizar e/ou politizar essa decisão estratégica e seguir um dos lados em disputa, EUA ou China, e não o interesse nacional é desservir ao Brasil.
*Raul Jungmann - ex-deputado federal, foi Ministro do Desenvolvimento Agrário e Ministro Extraordinário de Política Fundiária do governo FHC, Ministro da Defesa e Ministro Extraordinário da Segurança Pública do governo Michel Temer.
Reinaldo Azevedo: Bolsonaro cumpre promessa e desconstrói o Brasil
Em reunião com forças conservadoras em Washington, o presidente foi profético sobre o próprio governo
O governo de Jair Bolsonaro acaba de comprar mais um conflito estúpido com a China; ainda não reconheceu a eleição de Joe Biden nos EUA; acusou recentemente países europeus de comprar madeira ilegal do Brasil —o que os tornaria, quando menos, corresponsáveis pelo desmatamento— e é hostil à Argentina, um dos principais clientes, ainda que em declínio, da combalida indústria brasileira.
O festejado acordo UE-Mercosul é agora só miragem, e o ingresso do país na OCDE vai ficando mais distante. Bolsonaro é hoje um dos líderes mais isolados no planeta. Em seu rosto, percebem-se laivos de nanico orgulhoso, que não se dobra à grande conspiração contra os homens justos. Não é sem razão que suas honras viris mereceram o reconhecimento de Vladimir Putin.
Em nota oficial, a embaixada da China reagiu, em termos apropriadamente duros, à acusação feita por Eduardo Bolsonaro —filho de Jair e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara— de que os chineses pretendem usar a tecnologia 5G para praticar espionagem. O texto lembra que o país governado por Xi Jinping, a quem o “capitão” claramente se opôs na reunião virtual do Brics, responde por 33,5% das exportações brasileiras.
Se não cabia ao Itamaraty pedir desculpas —afinal, não se tratou de manifestação de governo—, menos apropriado seria reagir com críticas adicionais à China, como se a nota dura da embaixada representasse uma ofensa ao próprio governo. Mas foi precisamente o que aconteceu. O Ministério das Relações Exteriores tomou as dores do filho do presidente.
Assim, a família Bolsonaro e o grupo de lunáticos que o cerca —incluindo Ernesto Araújo, o chanceler— confundem a própria pantomima com a história e os interesses do país. Os malucos têm uma certeza: a China precisa da soja brasileira, da carne brasileira, do ferro brasileiro. Logo, não pode advir desse confronto mal nenhum ao país, e a ameaça de retaliação seria pura bravata.
Não ocorre a esses gênios da raça que os chineses não precisam abrir mão das commodities brasileiras. Causariam um estrago considerável ao agronegócio, e ao nosso país, se comprassem menos soja, menos carne e menos ferro do Brasil. Até em briga de rua, no meu tempo de ser moleque, a gente avaliava antes as consequências de um confronto. A noção de honra, às vezes, a tanto nos obrigava. Mas nenhum de nós podia fazer mal nenhum a não ser à própria cara. Esses celerados estão empenhando o futuro do país. Alguma surpresa?
Não. O Brasil tem uma elite econômica temerária —é claro que há notáveis exceções—, capaz de flertar com o caos sob o pretexto de salvar o país do demônio. O “mal”, no caso, segundo essa gente, acaba se confundindo com a cara média do povo brasileiro, que é meio preta e pode morrer de susto, bala, vício ou asfixia num hipermercado. Já em 2018 eu me perguntava, e a questão permanece, por que setores do empresariado e do mercado financeiro imaginavam que Bolsonaro poderia ser a solução para as suas angústias.
Em parte, sei a resposta. O ódio à política, liderado pela Lava Jato, levou pesos pesados do PIB brasileiro a acreditar numa espécie de purificação mística. Se os “espertos”, na narrativa escatológica então inventada, haviam criado o país da corrupção e da impunidade, talvez nos faltassem brutalidade e crueza em estado puro.
E existia a personagem que encarnava todos esses baixos instintos —tudo aquilo que a civilização, na verdade, deve reprimir pelo caminho da educação e do decoro para que a vida em sociedade seja possível. E Bolsonaro chegou lá, com seu séquito de neófitos arrogantes e truculentos, vocalizando os preconceitos mais sórdidos sob o pretexto de conjurar, então, as forças do mal que teriam se entranhado no país.
Em março do ano passado, numa reunião com forças conservadoras em Washington, o presidente foi profético sobre o próprio governo: “O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos é que desconstruir muita coisa.”
Homem de palavra. Ele está desconstruindo o Brasil.
Míriam Leitão: A conta será do agronegócio
Sim, a China pode nos atingir com as consequências negativas desse tipo de agressão grosseira, gratuita e infantil como a do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O agronegócio precisa se mexer, porque é o alvo. Basta que a China queira fazer um gesto de boa vontade em relação ao governo Biden e passe a redirecionar sua compra de soja para lá. Ou que invista em países que substituam pelo menos em parte as exportações brasileiras de alimentos. Uma pequena redução já nos afetará.
Essa é a visão de um diplomata experiente que vê com perplexidade os movimentos sem eira nem beira da nossa política externa. A palavra dura também cabe na diplomacia, mas só deve ser usada com algum propósito bem definido. Nada da política externa do governo Bolsonaro tem rumo. Uma política biruta.
Um analista bem próximo ao governo Bolsonaro que, contudo, discorda da tendência que tem tomado a política externa, explica a raiz do problema. O verdadeiro chanceler é o assessor internacional Filipe Martins, um jovem sem qualquer qualificação para a ascendência que tem sobre assunto tão relevante. “O Ernesto é um maria vai com as outras”, explicou esse analista.
De fato, o atual ministro só mostrou seu fervor de extrema-direita durante a campanha presidencial, criando um blog para se alavancar para o cargo. Uma vez lá, passou a aceitar todo tipo de interferência e se coloca subserviente aos ditames tanto de Eduardo Bolsonaro quanto de Filipe Martins, um fanático olavista, sem qualquer experiência no ramo.
A mensagem postada pelo filho do presidente era tão absurda que foi apagada depois. Eduardo Bolsonaro estava fazendo mais um ato explícito de vassalagem ao governo de Donald Trump, que está nos seus dias finais. Como foram muitas outras agressões dele, de Araújo, do próprio presidente, a embaixada chinesa reagiu falando que o deputado está solapando as relações entre os dois países. E disse que ele deveria “evitar ir longe demais” para não “arcar com as consequências negativas”.
A China é o nosso maior parceiro comercial, um dos maiores investidores. Mesmo que não fosse, não há razão alguma para que se dê ao filho do presidente o direito de ofender qualquer país na hora que decide postar algo nas redes sociais.
A relação Estados Unidos e China vai passar por um outro momento agora com a posse de Joe Biden. Pode vir a ser até mais tensa do que antes. Com Trump, havia escaramuças intempestivas, ataques via Twitter, idas e vindas. Com Biden, haverá mais estratégia na disputa que continuará existindo entre as duas potências. Mas, uma carta no baralho chinês, em qualquer contexto, será sempre a de aumentar as compras de soja e de outras commodities agrícolas no mercado americano. Nesse caso, o agronegócio exportador brasileiro pagará a conta. Se os empresários não se insurgirem, se acharem que basta resmungar, estarão mais vulneráveis.
Em artigo publicado ontem no “New York Times”, o analista David Leonhardt disse que o governo Trump foi um presente para a China. “Ele antagonizou aliados que estavam também preocupados com o crescimento da China, em vez de construir uma coalizão com Japão, Europa, Austrália e outros.” Foi, segundo ele, citando um professor chinês da London School, um “presente estratégico para a China”. De fato, nesta hora poente de Trump no poder, a China fechou um acordo, no último dia 15, com um grupo de 15 países asiáticos, inclusive o Japão, considerado o maior acordo de livre comércio do mundo. Trump havia retirado os Estados Unidos da Parceria Transpacífica, costurada por Barack Obama, para estabelecer com vizinhos da China um acordo de comércio. A China aproveitou o erro de Trump e fez seu próprio tratado. Esse episódio mostra como a diplomacia é um jogo para profissionais. Amadores acabam atirando sempre no próprio pé.
Biden, em artigo publicado na revista “Foreign Affairs”, disse que os Estados Unidos precisavam ser “duros” com a China. Com Biden, os Estados Unidos voltam ao multilateralismo, mas a rivalidade com os chineses continuará. Só que, ao mesmo tempo, na área comercial e econômica, há uma simbiose entre os dois países, ao contrário do que havia na bipolaridade da Guerra Fria. Diante de relação tão complexa, cabe ao Brasil não tomar partido, porque a missão da política externa brasileira é defender os interesses brasileiros.
Merval Pereira: Visão obtusa
O preocupante é que o que o deputado federal Eduardo Bolsonaro fez, colocando no twitter uma acusação à China de que usa a tecnologia 5G para fazer espionagem, corresponde ao que pensam seu pai, o presidente Bolsonaro, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
Se fosse um deputado qualquer, como sempre foi, Eduardo ou seus irmãos poderiam fazer as bobagens que sempre fizeram, e ninguém ligaria, como nunca ninguém ligou antes de eles sairem do anonimato para o proscênio da vida política nacional pelos azares da sorte.
Mas houve repercussão porque, além de filho do presidente, Eduardo Bolsonaro preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Então, o que ele diz vale mais do que qualquer deputado, vale como sendo o pensamento do presidente da República. Essa é a gravidade da atitude irresponsável que tomou.
Tentou remediar, apagou a mensagem, mas não dava mais para evitar a crise. É uma posição ideológica burra, e os membros da Comissão de Relações Exteriores já começam a se movimentar para retirá-lo da presidência. Ou pelo menos deixar claro que suas postagens pessoais no Twitter não representam o pensamento da maioria da Comissão.
A China é nosso maior parceiro, e tem sido o responsável pelo superávit de nossa balança comercial. O Brasil não tem que entrar nessa disputa ideológica dos EUA com a China. Os EUA têm razões para essa postura, porque a a disputa pela tecnologia 5G é a disputa do futuro, e quanto mais países ficarem do lado dos EUA, melhor pra eles. Faz sentido a Inglaterra, o Japão, e outros países barrarem as companhias chinesas em favor dos Estados Unidos, são regiões e países que dependem muito diretamente dos EUA, economicamente e até mesmo em questões de segurança nacional, e pretendem ser protegidos em caso de conflito.
Essa posição dificilmente mudará com o governo democrata de Joe Biden, mas provavelmente será menos truculenta do que atualmente. O objetivo, porém, é o mesmo: tentar neutralizar o avanço chinês. Mas o Brasil não tem nada a ver com essa geopolítica, tem que aproveitar o melhor dos dois mundos, dos EUA e da China. Não precisa necessariamente fechar com um deles para ter benefícios, tem que fazer uma análise técnica, ver o que é melhor para nosso estágio de desenvolvimento.
É certo que a tecnologia 5 G da China é mais adiantada, e se adapta melhor ao nosso sistema já instalado, porque muitas ferramentas e dispositivos já em uso no 4G são de empresas chinesas. Diante desse quadro, é preciso ver se há vantagem em optar por outra tecnologia.
A questão da espionagem chinesa parece ser uma fabulação trumpiniana, mas temos que ser realistas. A espionagem é uma atividade que todos os países utilizam, e é quase ridículo assumir que apenas um dos lados na disputa pelo predomínio internacional faz uso dela.
Recentemente, o Brasil já teve problemas com os Estados Unidos nessa área. Em 2015, o site Wikileaks divulgou uma lista classificada pela Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos como "ultrassecreta", a qual revelava que, além da própria presidente Dilma Rousseff, cerca de 30 números telefônicos, incluindo o de ministros, diplomatas e assessores foram espionados. Até mesmo o telefone via satélite instalado no avião presidencial era um desses números. O então vice-presidente Joe Biden esteve no Brasil para tentar aparar as arestas depois da revelação. Provavelmente os Bolsonaro devem ter achado pouco e bom o governo petista ter sido espionado.
Não é necessário, pois, criar embates diplomáticos com o maior parceiro comercial do Brasil. A nota da embaixada da China foi dura, fora dos padrões diplomáticos, mas a mensagem de Eduardo Bolsonaro foi fora dos padrões diplomáticos também, sem falar na reincidência.
Meses antes, o deputado acusara pelo Twitter o governo da China de ter espalhado propositalmente o coronavírus Covid19. Como se vê, o filho 03 não tem a menor noção do que seja diplomacia. Queria ser embaixador do Brasil nos EUA, mas não tem a menor capacidade, nem mesmo de diálogo, quanto mais de usar uma linguagem mais sutil no embate diplomático.