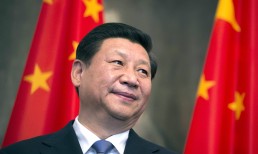BOLÍVAR LAMOUNIER
Bolívar Lamounier: No limiar de um terceiro erro
Estes dois componentes estão aí bem à mostra, como os pés de barro do gigante que queríamos (ou queremos) ser
Qualquer que seja nossa avaliação sobre o momento atual, parece-me fora de dúvida de que estamos no limiar de importantes transformações em nossa identidade nacional — ou seja, na maneira pela qual nos vemos como povo.
Nessa linha de raciocínio, podemos dizer que nossa identidade nacional já passou por duas fases — duas versões, duas ilusões — e dois erros colossais, que nos deixaram no limiar de um possível terceiro grande erro. A primeira versão foi a ideia do “brasileiro pacífico”, da conciliação entre as elites políticas, da “cordialidade” entre as pessoas comuns e da inexistência de racismo. No essencial, essa “narrativa” tinha um claro sentido de bajulação ao ditador Getúlio Vargas, exaltado como fundador da nacionalidade, culminando numa concepção do poder central como um Estado poderoso, bondoso e paternalista.
Era um apelo à convergência num país fadado a se transformar profundamente assim que a democracia fosse restabelecida,os conflitos políticos se acirrassem, e sofrêssemos os impactos externos da guerra fria. Uma sociedade concebida pela maioria como quase estática, invulnerável a abalos de monta e avessa a movimentos de mobilização política contrários ao governo.
Precocemente envelhecida, a cultura da cordialidade cedeu lugar ao chamado nacional-desenvolvimentismo, um projeto lastreado materialmente na industrialização substitutiva de importações e ideologicamente no nacionalismo. Essa nova fórmula também fez certo sentido enquanto o modelo de crescimento induzido pelo Estado permaneceu crível. O golpe de misericórdia que a inviabilizou em definitivo foi a tentativa do governo Geisel de acelerar a industrialização com base num enorme endividamento externo, opção liquidada entre 1973 e 1979 pelos choques do petróleo e a abrupta elevação das taxas de juros às quais a dívida fora indexada.
A nação “cordial” e o “nacional-desenvolvimentismo” tinham dois pontos importantes em comum. Primeiro, imaginavam ser possível o desenvolvimento de uma nação que em nenhum momento pôs em prática um projeto vigoroso de educação básica e de capacitação técnica da mão de obra. Segundo, aferraram-se a um doentio anti-liberalismo, à ideia do Estado empreendedor, a uma hostilidade ao mercado e, não menos importante, ao autarcismo, quero dizer, à opção por uma economia fechada.
Estes dois componentes estão aí bem à mostra, como os pés de barro do gigante que queríamos (ou queremos) ser.
Bolívar Lamounier: Pororoca de ilusões
A do bolsonarismo é a incapacidade de olhar o Brasil numa perspectiva histórica mais dilatada
“Outros povos podem ser felizes ou desgraçados por obra de estranhos. Os povos democráticos são os únicos que têm o bem e o mal feitos por suas próprias mãos” - J. F. Assis Brasil, político gaúcho, 1893
Nunca vi, mas posso imaginar a beleza do vagalhão, do grande estrondo que se forma na foz do Rio Amazonas quando aquele enorme curso d’água colide com as águas de outros rios.
A pororoca é um fenômeno real, maciço e formidável, que qualquer pessoa pode perceber a grande distância; uma difícil metáfora, portanto, para o nosso momento político, permeado muito mais por ilusões, incongruências, movimentos erráticos e até por desatinos que por ações organizadas e efetivas. O mais comum no curso da História brasileira é as forças políticas se contraporem de forma previsível, uma tentando ser pragmática e racional, obediente aos requisitos da economia, e a outra se deixando levar por (ou adotando como tática) algum delírio populista, de fundo emocional, religioso ou ideológico.
Penso, no entanto, que o Brasil atual se afastou daquele cenário tradicional e nada faz crer que retornará tão cedo à normalidade. Afastou-se – excetuado, naturalmente, o esforço do ministro Paulo Guedes no manejo da economia – em vista da linha divisória que se estabeleceu entre duas tribos alucinadas: petistas versus bolsonaristas.
Para bem apreender a referida mudança parece-me imprescindível remontar à eleição de 2018, na qual a maioria dos eleitores votou numa das duas principais alternativas com o único intuito de evitar a outra.
Os partidos ditos “de centro” naufragaram porque imaginaram poder navegar em seus frágeis barquinhos oratórios, não percebendo o portento vagalhão que se avizinhava. Claro, o embate das duas rejeições não se formou no vácuo. Constituiu-se no caldo de cultura de hostilidade a tudo e a todos que ganhou corpo em função da situação econômica, da maré montante da violência, da deslealdade de certas autoridades no tocante a suas respectivas missões institucionais e, não menos importante, dos fatos trazidos a público pela Operação Lava Jato. Este último aspecto merece breve reflexão. Não é raro uma sociedade reagir negativamente a uma grande mudança em razão do desconforto e do mau humor que ela engendra – refiro-me aqui à constatação de que a corrupção se alastrara por todo o corpo político, contaminando os três Poderes e grande parte do meio empresarial –, não obstante tal mudança ser o ponto de partida para um importante avanço na vida pública.
Comecei falando de duas grandes ilusões. Para delinear a ilusão petista seria útil remontar às origens do Partido dos Trabalhadores, relembrar a desconjuntada composição de seus quadros e seu idílico “socialismo por construir” – esboço de uma ideologia evocativa das catacumbas. Parece-me, porém, suficiente frisar que a unidade e o dinamismo daquela imensa maçaroca repousava sobre um fato deveras estapafúrdio: a devoção quase religiosa a um líder populista, Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca levou a sério qualquer projeto de País, empenhando-se tão somente, e em tempo integral, em levar avante sua pequena Realpolitik. Paradoxalmente, a condutibilidade atmosférica do petismo deveu-se desde sempre a seu descompromisso com políticas consistentes de crescimento e a sua rasa fundamentação intelectual.
Deixo para os pesquisadores de opinião e para os psicólogos sociais a tarefa de descrever as antenas que levaram Jair Bolsonaro a captar e personificar a crescente dilaceração da sociedade brasileira de alguns anos para cá. Não posso eximir-me de dizer algo sobre o governo Bolsonaro, que em poucos dias concluirá seu primeiro ano, mas adianto que dificilmente terei algo de novo a dizer a esse respeito. O que primeiro salta aos olhos é o bifrontismo do governo. De um lado, a área econômica, sob o comando de Paulo Guedes e de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, trabalhando com afinco e coesão, numa direção que me parece correta. Do outro, uma acentuada cacofonia, da qual o próprio presidente participa com notável intensidade. O presidente tem dito e repetido que economia “é com o Guedes”, ficando ele, o presidente, com o restante. Nesse aspecto, penso que o presidente se equivoca redondamente, uma vez que tal distinção inexiste na prática governamental. Ajustar as contas públicas, atrair investimentos e repor a economia nos trilhos do crescimento é uma operação complexa, que exige a colaboração de todos os setores do Executivo, em colaboração com os outros dois Poderes, orientando-se o conjunto no sentido de estabelecer a estabilidade e previsibilidade do “ambiente de negócios”.
Ora, com todo o respeito, sou obrigado a registrar que o presidente fala muito mais do que deve, intervindo de forma errática em diversos temas que não lhe dizem respeito. Falta-lhe, evidentemente, a chamada “liturgia do cargo”, ou seja, a sobriedade, o comedimento e a imparcialidade sem os quais a mais alta magistratura não funciona a contento. No contexto atual, o papel do presidente precisa ser muito mais o de um pacificador que o de um incitador de conflitos.
8Mas qual será, no essencial, a grande ilusão bolsonarista? É, a meu juízo, sua incapacidade de enxergar o Brasil numa perspectiva histórica mais dilatada. A melhor ilustração dessa deficiência é ter o presidente colocado na estratégica área da educação um técnico aplicado, mas que não dá indícios de conhecer os entraves que a paralisam. Sabemos todos que o Brasil ainda se digladia com a chamada “armadilha da baixa renda”. Se nosso anseio de retomar o crescimento do PIB se mantiver na faixa de 2% a 3% ao ano, levaremos pelo menos 25 anos para dobrar nossa renda per capita. Não é exagero afirmar que tal cenário beira o insustentável.
*Sócio-diretor da Consultoria Augurium, é membro das Academias Paulista de Letras e Brasileira de Ciências
Bolívar Lamounier: Quanto falta para a morte da democracia?
A China usa seu poder de mercado para projetar sua concepção totalitária de poder
A discussão sobre a crise da democracia representativa prossegue intensa pelo mundo todo, mas, salvo melhor juízo, acrescentando mais calor do que luz ao que sabemos desde muitas décadas atrás. Certas falácias e uma enorme lacuna podem ser facilmente identificadas.
A primeira é a suposição de que esse complexo mecanismo institucional a que chamamos democracia se pode romper em consequência de causas indiferenciadas, genéricas, sem ações políticas específicas que conduzam a tal resultado. No momento, o fato mais invocado como causa de uma possível quebra (breakdown) da democracia representativa é o descrédito generalizado das instituições que sustentam tal regime. Trata-se, efetivamente, de um fato. Por toda parte, uma grande parcela, talvez a maioria dos cidadãos, nutre clara hostilidade em relação aos políticos e partidos.
Mas, por si só, esse sentimento negativo não tem como provocar uma quebra constitucional. Não tem como provocá-la nem mesmo associado, como em geral acontece, a uma crise econômica, seja esta real (recessão, desemprego) ou imaginária (frustração de expectativas demasiado altas). Para que a quebra aconteça é preciso um Mussolini que prometa salvar rapidamente o país da “decadência”, movimentos ideológicos ou populistas atacando fisicamente as instituições e provocando reações policiais ou militares, formando uma espiral que acaba fugindo a qualquer controle; ou, no limite, um golpe, putsch ou revolução armada, como foi na Rússia durante a 1.ª Guerra, na Espanha durante os anos 30 do século passado ou na Venezuela, com a ascensão do chavismo nos anos 90. Mesmo em tais casos, a ruptura dificilmente se concretizará se lideranças políticas importantes se mantiverem firmes na defesa das instituições.
Outra lacuna digna de nota é que os profetas do apocalipse democrático raramente se dão ao trabalho de indicar que outro modelo institucional substituiria a democracia representativa caso esta chegue de fato ao colapso. No lugar dessa flagrante lacuna, o que mais encontramos é uma antiga estultice, a de que a democracia só pode florescer e se consolidar em determinado país quando ele houver atingido um nível elevado de renda, escolaridade e bem-estar. Só em países superdesenvolvidos, para dizê-lo de forma concisa. Ora, a realidade doutrinária e histórica indica precisamente o oposto. O mecanismo democrático foi inventado para equacionar com o mínimo possível de violência os conflitos (de interesse econômico, ideológicos, religiosos, raciais, etc.) que soem existir em toda sociedade. Equacionar tais conflitos aceitando a legitimidade dos adversários que se disponham a disputar o poder respeitando as regras do jogo, a primeira das quais é o processo eleitoral: eleições periódicas limpas e livres.
Mencionei duas falácias – discutidas acima – e uma enorme lacuna, que passo agora a considerar. Refiro-me aqui à China. Decifrar a esfinge chinesa, eis o osso duro de roer. O atual modelo chinês combina, como sabemos, um capitalismo selvagem, vale dizer, uma economia assaz desregulada, com um férreo controle totalitário da sociedade pelo Partido Comunista. O peso que terá na ordem econômica mundial por certo nos forçará a manter relações estreitas com ela.
Anotemos, de início, que a China não registra um só dia de democracia em seus 5 mil anos de História. Num plano especulativo, não creio que o país possa atingir um elevado nível de renda, diversificação social e abertura ao exterior sem afrouxar em alguma medida o rigor dos controles que lá prevalecem. Até o momento não há o menor indício de que um processo desse tipo esteja em curso.
Bem ao contrário. Para qualquer outro país do mundo, uma população de 1 bilhão e 300 milhões seria com certeza um problemaço, não um tremendo recurso de poder na esfera internacional. Mas a China compreendeu que aquela enorme massa de gente, combinada com seu rápido avanço econômico e com o férreo controle que sobre ela exerce o Partido Comunista, poderia ser usada como uma arma poderosa. Arma que ela de fato utiliza, seu poder de mercado, sem a menor vacilação. Utiliza-o não apenas para sustentar uma posição de força em suas negociações com outras potências, mas para projetar sobre elas, até sobre os Estados Unidos, sua concepção totalitária de poder.
Os estúdios de Hollywood, por exemplo, estão aprendendo que têm de aceitar a censura se quiserem ter acesso ao vasto mercado chinês. Mesmo na esfera esportiva, uma das associações americanas de basquete teve de se desculpar pelo fato de um atleta (repito: um atleta, não a associação como tal) ter manifestado apoio aos manifestantes de Hong Kong. Ou a associação se retratava ou perdia seus direitos de transmissão de jogos para os aficionados chineses.
Outro caso deveras impressionante é o de 40 empresas aéreas internacionais, relatado pelo jornalista Jonah Blank na revista The Atlantic. O governo chinês exigiu que apagassem de seus websites e materiais publicitários referências a Taiwan como um “país”. Para a China, como se sabe, Taiwan é um “território rebelde”. Todas obedeceram, claro.
A questão, portanto, está muito longe de ser o hipotético advento de uma democracia na China. Por enquanto, o que estamos vendo são intervenções específicas e decisivas da China limitando a liberdade de expressão nas democracias ocidentais.
Apontar causas específicas de possíveis rompimentos das regras constitucionais da democracia, indicar que outro modelo institucional as substituiria se um dia o limite da ruptura for de fato atingido e como lidar com uma superpotência avessa à democracia no plano doméstico e disposta a restringir a liberdade de expressão no plano internacional, eis aí três requisitos que me parecem indispensáveis no presente debate.
*Sócio-Diretor da Augurium Consultoria, membro das Academias Paulista de Letras e Brasileira de Ciências, é autor do livro ‘De onde, para onde – Memórias” (Editora Global, 2018).
Bolívar Lamounier: Jornada de otários
Impasses que travam a nossa recuperação econômica podem nos conduzir ao precipício
Na quarta década do século 17, na França, a rainha-mãe Maria de Médici e seus aliados na aristocracia pressionaram o rei Luís XIII a abrir-lhes mais espaço no poder, e sabiam que só lograriam tal objetivo forçando o rei a afastar o cardeal Richelieu do governo. Acharam que a pressão exercida entre 1630 e 1632 havia surtido efeito, mas erraram redondamente. O arguto cardeal ganhou a confiança do rei, deu a volta por cima, aumentou ainda mais sua influência e entrou para a História como um dos artífices da formação do Estado nacional francês. Desde então os historiadores passaram a se referir à jogada da rainha-mãe e seus amigos como une journée des dupes, ou uma jornada de otários.
A expressão foi também usada no Brasil, em 1840, por motivos de certa forma parecidos. A turbulência do período regencial e o recuo de uma ala liberal que havia exagerado na descentralização do poder forçou a elite política a buscar uma forma de estabilizar o País. A solução alvitrada foi uma medida legislativa mediante a qual anteciparam a maioridade de dom Pedro II, então um adolescente de 15 anos. Consumado o chamado “golpe parlamentar da maioridade”, o jovem monarca começou a governar, demonstrando personalidade, mantendo tanto os líderes liberais como os conservadores a conveniente distância. Tendo ficado a ver navios, restou-lhes o consolo de haverem herdado dos franceses a distinção de terem participado de uma jornada de otários.
Tenho para mim que tais jornadas ocorrem regularmente, embora assuma formas variadas, ao longo da História. Podem os meus leitores imaginar quantos milhares ou milhões de indivíduos desempenharam esse papel nos quatro séculos decorridos desde o dia em que Maria de Médici pisou em sua casca de banana?
Embora a condição de otário me pareça uma constante histórica, ando arqueado pela impressão de estar ela se manifestando com excepcional intensidade no momento atual, não só no Brasil, mas em numerosos países. Minha impressão se deve à crescente frequência com que grupos “identitaristas” se empenham em destroçar o convívio em sociedades até há pouco razoavelmente integradas e políticos anunciam e trabalham ativamente para pôr abaixo a democracia representativa.
Vejam o caso dos Estados Unidos. Sou leitor assíduo da edição digital da revista The Atlantic, uma das melhores do mundo, que diariamente me proporciona uma magnífica variedade de análises e relatos conjunturais. Senti um frio na espinha ao ler, na terça 12, uma nota em que seu diretor, Jeffrey Goldberg, anuncia para dezembro uma edição especialíssima, cujo título geral será Uma Nação se Esfacelando (A Nation Coming Apart). Com esse duro título, Golberg externa sua convicção de que os americanos estão se destroçando mutuamente. Mas tudo bem, vá lá que há exagero.
Pensemos no “fim da democracia”. Registros dessa “profecia” podem ser encontrados facilmente desde as primeiras décadas do século passado. É outra proposição que aparece com regularidade, com variações, mas com dois traços principais. Primeiro, por trás dela sempre há algum candidato a ditador querendo, por ações ou omissões, acabar com a competição eleitoral, o pluralismo, as garantias individuais, etc., a fim de enfeixar em suas mãos todo o poder. Essa ambição tanto pode motivar políticos que gozam efetivamente de certa popularidade (como Getúlio Vargas em 1937) como outros que nutrem o delírio de governar pacificamente um país mesmo conscientes da intensa rejeição que grande parte da sociedade sente por eles.
Um exemplo caseiro é o próprio Getúlio do segundo governo, levado ao suicídio em 1964. Outros são Lula, que se julga predestinado a voltar à Presidência, o boliviano Evo Morales, forçado à renúncia poucos dias atrás, e o húngaro Viktor Orbán, criador de um conceito preciosamente contraditório, a “democracia antiliberal”. Um dado novo nessa velha história é que agora tais líderes manobram para se perpetuarem no poder por meio de eleições fajutas ou da implementação de programas de governo que lhes permitam voar no tapete mágico da popularidade populista.
Outra constante nessa história é o desapreço pelas consequências. Os líderes a que aludi no parágrafo anterior nunca se dão ao trabalho de destrinchar o significado da expressão “fim da democracia”, muito menos indicar que outro sistema estável de poder e legitimidade irá substituir o regime representativo. Parecem ou são de fato incapazes de sequer balbuciar uma resposta para tal indagação. A democracia acaba e que outro modelo eles imaginam poder pôr no lugar dela? Muitos pensam que a democracia é um luxo que só pode ser gozado por sociedades que hajam atingido um alto grau de desenvolvimento, quando o certo é precisamente o oposto: ela é uma forma política estável e flexível que permite o paulatino equacionamento dos conflitos de interesse mesmo em sociedades pobres.
Em nossa triste América Latina, o day after dos golpes pode ser previsto com extrema facilidade. Cada país passa por alguns anos de instabilidade populista, depois tenta retornar, com a mesma falta de convicção ao regime representativo, depois o golpeiam novamente, etc., etc. Casos há em que os ciclos desse eterno retorno se mantêm por um dilatado período de tempo, praticamente tornando inviável o desenvolvimento econômico e social das respectivas sociedades. Eis aí a Argentina – outrora um dos países mais ricos do mundo – que não me deixa mentir. Evitemos, porém, qualquer nuance de regozijo ante a desgraça argentina. Os impasses que vêm travando nossa recuperação econômica e nosso pífio investimento anual de 16% do PIB poderão conduzir-nos a um precipício semelhante. Pelo menos desse ponto de vista, façamos o possível para não cair noutra jornada de otários.
*Sócio-Diretor da Consultoria Augurium, membro das Academias Brasileira de Ciências e Paulista de Letras, e autor do livro ‘De onde, para onde – Memórias’ (Editora Global, 2018)
Bolívar Lamounier: Do cabrito montês aos políticos do Planalto
O momento atual é apenas a largada para superarmos o legado nefasto da dra. Dilma
Acho que nós, brasileiros, temos algum parentesco com o Capra ibex, aquele cabrito montês que se equilibra notavelmente na beira de estreitos penhascos, a centenas de metros de altitude.
De hora em hora ele se detém para deglutir uma moitinha de capim, tudo na maior tranquilidade. Típico das montanhas da Europa, ele de vez em quando dá uma olhada lá para baixo e nem se toca. Na remota hipótese de cair lá embaixo, ele saberá cair com jeito, bastando-lhe sacudir-se um pouco para tirar a poeira.
Como povo, o que nos torna iguaizinhos ao veado montês é a nossa tranquilidade. Nós também não esquentamos a cabeça por pouca coisa. Veja-se a vida em Brasília. Os políticos ficam lá se divertindo com a política, às vezes praticando o saudável esporte do xingamento mútuo ou especulando sobre aquelas formas fósseis que designam como esquerda e direita. Não precisam se preocupar muito com a alimentação, uma vez que no Planalto o capim é farto. E, claro, não temem a vertigem de áreas altas, que lá não existem.
Vertigem sentiriam se o pensamento deles se voltasse intensamente para o futuro, perscrutando-o com atenção. Nas raras ocasiões em que lhes ocorre pensar no longo prazo, esfregam os olhos, botam grossos óculos e nada enxergam que deva preocupá-los. Nada que lhes desvie a atenção das candentes questões da vida brasiliense: quem gravou quem, quem vai acompanhar o presidente da República em sua próxima viagem ao exterior, que cargos podem tentar obter para parentes. Maravilha! Isso é que é país.
Não precisamos perscrutar o futuro e podemos até esquecer o passado, que por definição já passou. Ocasionalmente eles se lembram de que, muitas décadas atrás, a natureza brasiliense apenas abrigava umas inofensivas jiboias. Depois apareceram umas jararacas, e um dia – ah, dessa, todos se lembram, tenho certeza –, bem, um dia apareceu uma enorme sucuri. Um bicho tão grande que até montou um “departamento de operações estruturadas”, uma seção inteira para gerir as suas relações institucionais com o meio político e com as empresas estatais. Mas isso também passou, porque para escalar as instâncias recursais da Justiça basta um advogado bem remunerado.
A placidez brasiliense só começou de fato a mudar no dia em que um grupo teve a genial ideia de criar o Fundo Partidário. Com o fundo, Brasília se transformou num rio repleto de piranhas! Volto a este ponto mais adiante.
Para tentar ver o futuro no poente, vou voltar a um nascente assaz remoto. Meus caros leitores certamente se lembram do Ôtzi, o Homem do Gelo, um tipo famoso que habitava os Alpes italianos. Falecido há 5.300 anos, seu cadáver foi encontrado intacto, preservado pelas baixíssimas temperaturas. A primeira coisa que os cientistas que o encontraram quiseram saber foi o que ele teria comido em sua última refeição. Pesquisaram isso durante anos e, no fim, ficaram um pouco decepcionados. Ôtzi devia ser um homem simples, pois em seu estômago só havia carne e gordura de cabrito montês e um pequeno contorno verde – uma saladinha. Ora, voltar ao Neolítico para descobrir isso?!
Voltemos a Brasília.
Imagine o leitor se uma chuva de meteoros subitamente dizimasse todos os indivíduos atualmente investidos em posições de autoridade nos três Poderes. Com centenas de estômagos à sua disposição para examinar, os cientistas dariam saltos de alegria ao constatar a diversidade e o requinte das refeições servidas no dia anterior à grande catástrofe: camarão, lagosta, filé mignon, frutas vindas de toda parte e, ça va sans dire, vinho francês do bom e do melhor. Refiro-me aqui ao âmbito federal, mas achados igualmente vistosos poderão surgir no âmbito dos outros entes federativos. Sabemos que os sempre precavidos grupos corporativos aninhados no funcionalismo estadual insculpiram na legislação uma extensa coleção de privilégios, pois bobos não são.
Tal exuberância, sem dúvida, levaria os cientistas a fazerem o que os políticos planaltinos se habituaram a não fazer: refletir sobre o que aguarda nosso país num futuro não muito distante. Constatariam, ao fazê-lo, que as camadas de média e baixa renda teriam de se acomodar a uma dieta mais pobre. Prever se a dieta dessas camadas será menos ou mais farta que a do pobre Ötzi é muito difícil, mas de uma coisa podemos estar certos: o Homem do Gelo viveu numa sociedade igualitária, na qual todos os seres humanos eram igualmente miseráveis, igualmente desprovidos de educação e nenhum tinha a mais remota ideia do que hoje queremos dizer quando falamos em aumentar a produtividade do trabalho e retomar o crescimento econômico em bases sustentáveis. De educação sabiam muito menos que nosso atual ministro.
O próprio patronato político brasiliense talvez seja forçado a moderar o seu apetite. Disso já começamos a discernir alguns sinais. Por enquanto, nossos 32 partidos estão muito felizes com o Fundo Partidário, mas esse número tende a crescer e nada garante que as piranhas do futuro se contentarão com menos.
O espaço disponível não me permitiu inquirir se os políticos planaltinos são todos iguais. Parece que não, pois, bem ou mal, conseguimos avançar nas reformas trabalhista e da Previdência. O grande problema é que, se não quisermos voltar à dieta de Ötzi, precisaremos pisar no acelerador. O momento atual é apenas uma largada, um passo inicial para superarmos o legado nefasto da dra. Dilma Rousseff.
Neste momento, com o sistema político em frangalhos, é imperativo evitar açodamentos. Mas a necessidade de aprofundar as reformas é um problema real. Efetivá-las é a condição sine qua non para esquecermos de vez o velho Ötzi, deixando-o em paz no seu repouso eterno.
* Sócio-diretor da Augurium Consultoria, é membro das Academias Paulista de Letras e Brasileira de Ciências
Bolívar Lamounier: Reforma política. Reformar o quê, quando, para quê?
O Brasil é um caso de alto risco, por associar o regime presidencial a partidos fragmentados
Ao longo de sua história independente, o Brasil efetivou numerosas alterações em seu sistema político-institucional, algumas muito positivas, outras nem tanto. Algumas em resposta a desafios bem definidos, outras na esteira de um “clima” reformista vagamente delineado.
Entre as reformas positivas, eu começaria por mencionar a própria Constituição de 1824, muitas vezes debatida em tom de chacota, mas que teve o mérito, nem mais nem menos, de encaminhar nossa evolução política na direção do moderno Estado constitucional, devendo-se também observar que os órgãos legislativos e judiciários que tal evolução pressupõe foram imediatamente instalados.
Outra alteração notável foi a de 1840, que muitos historiadores, incorrendo mais uma vez no pecado do anacronismo, denominam “o golpe da maioridade”. Ao autorizar a ascensão ao trono de um adolescente de 15 anos, o referido “golpe” teve o condão de encerrar quase instantaneamente a onda de rebeliões e pequenas guerras civis regionais que se configurara durante o período regencial (1831-1840), cujo prosseguimento poderia pôr em risco nossa unidade territorial.
Entre as mudanças negativas, a pior foi, sem dúvida, o autogolpe desfechado por Getúlio Vargas no dia 10 de novembro de 1937, o famigerado Estado Novo, a única vez em que o regime representativo e os mecanismos institucionais que o legitimam foram inteiramente erradicados em nossa história.
No passado recente, a tentativa mais ambiciosa foi a do Congresso Constituinte de 1987-1988, precedida pelos estudos levados a cabo durante quase um ano pela Comissão Afonso Arinos (Comissão Provisória de Estudos Constitucionais), nomeada pelo presidente José Sarney. Tratava-se, na ocasião, de reorganizar constitucionalmente o País após 21 anos de governos militares, convocando toda a sociedade a participar do processo a fim de lhe conferir o máximo possível de legitimidade.
Natural, portanto, que todo o leque de questões pertinentes fosse aberto, dando ensejo a um debate público que equivalia praticamente a um reexame de toda a experiência histórica iniciada em 1824. Do ponto de vista institucional, no entanto, uma preocupação – a da estabilidade do novo regime democrático – destacava-se claramente sobre as demais, e nem poderia ser diferente, uma vez que Brasil, Argentina e Chile mal saíam de interregnos autoritários. E que outras experiências desse tipo se insinuavam no cenário latino-americano – poucos anos depois, o Peru sucumbiria ao fujimorismo e a Venezuela, ao chavismo.
Esta breve evocação das preocupações daquela época se afigura imperativa neste momento, dado o sentimento generalizado de que cedo ou tarde teremos de encarar novamente o desafio da reforma política. Dados, também, os cenários doméstico e internacional que ora se descortinam, com referências quase diárias a um suposto “fim da democracia representativa” e com tendências de fato preocupantes em diversos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a disputa entre Donald Trump e Hilary Clinton configurou-se como um enfrentamento raivoso, bem o oposto da garantia que os estudiosos políticos daquele país sempre nos deram: a de que a eleição presidencial sempre favoreceria a moderação e a convergência, forçando os radicais e furibundos a se contentarem com o apoio de faixas minoritárias da sociedade.
No quadro atual, é indispensável considerar que uma reforma política que se preze deve levar em conta pelo menos três critérios, ou perspectivas, examinando meticulosamente as interligações e eventuais contradições que entre eles se estabelecem. Refiro-me, em primeiro lugar, ao já referido critério da estabilidade, vale dizer, ao imperativo de reduzir ao mínimo possível as chances de ruptura da ordem constitucional e a consequente imposição de fórmulas ditatoriais.
Segundo, o critério da governabilidade, vale dizer, o da eficácia do sistema político em seu conjunto na produção das políticas públicas e, principalmente, na efetivação de reformas estruturais, que de tempos em tempos se faz necessária.
Terceiro, o critério da representatividade, da identificação ou não do eleitorado com seus representantes, questão que remete invariavelmente ao debate sobre o voto distrital e à desproporcionalidade entre as populações de certos Estados e as respectivas bancadas na Câmara dos Deputados (agravada pela representação igual de três parlamentares por Estado no Senado Federal).
Retrocessos ditatoriais geralmente decorrem de uma combinação de fatores, como crises econômicas, acirramento do embate entre partidos ou grupos ideológicos, personalidades destemperadas ocupando posições elevadas na estrutura de poder e, por último, mas não menos importante, sistemas de governo propícios à instabilidade, como o é o sistema presidencial.
Nesse aspecto, a situação brasileira atual é profundamente diferente daquela que vivenciamos nos anos 80 do século passado. Hoje, o que nos preocupa não é apenas a memória de retrocessos passados, mas a alta probabilidade de que possamos sucumbir a situações ainda mais graves num futuro não muito distante. Somos, como é de conhecimento geral, um país enredado na “armadilha do baixo crescimento”, incapaz de elevar sua renda anual por habitante a um nível compatível com a assustadora acumulação de problemas na sociedade. Direta ou indiretamente, tudo isso tem que ver com a governabilidade, vale dizer, com a constatação de que o sistema político tem grande parte de seu potencial travado por acoplamentos disfuncionais de mecanismos institucionais específicos.
Nesse aspecto, como ninguém ignora, o Brasil é um caso de alto risco, na medida em que associa o regime presidencial, com sua característica rigidez, a um sistema de partidos que é sabidamente o mais fragmentado do mundo.
*Cientista político, sócio-diretor da Augurium Consultoria, é membro das Academias Paulista de Letras e Brasileira de Ciências
Bolívar Lamounier: A política no tempo da raiva
Mudaram os pontos cardeais econômicos, mas no culto à bravata Bolsonaro é igual a Lula. E como o furor de ambos é carregado de desconfianças, não nos livraremos desse drama enlouquecido tão cedo
A indagação talvez mais importante e perturbadora do momento é se a política raivosa se trata de um fenômeno passageiro ou veio para ficar. Realmente, hoje o que mais nos chama à atenção são o aumento da agressividade e de uma sedutora grossura. Parece ser um fenômeno mundial, mas neste meu espaço mal cabe o Brasil. E isso é bom, pois me afasta da descabida pretensão de tudo compreender.
Por aqui, as sementes da raiva estão bem à vista. Eclodiram na era Lula, robusteceram-se na esteira da recessão, do empobrecimento do País, do desvendamento da corrupção e desabrocharam para valer com o enfrentamento de 2018 entre o bolsonarismo e o petismo.
A primeira pista que me vem à mente é perguntar o que há em comum entre Lula e Bolsonaro. No culto da macheza, eles são perceptivelmente iguais. É assim que, em geral, os populistas se apresentam: são avessos às luvas de pelica e gostam mesmo é de dar murros na mesa. A macheza de Lula apoiava-se nos comícios ululantes, na massa movida à mortadela, nas bandeiras vermelhas. A de Bolsonaro, na encenação teatral do tipo corajoso, que topa qualquer parada.
Haverá entre eles alguma semelhança que se possa descrever como ideológica? Para responder afirmativamente, precisamos reduzir o termo ideologia à sua expressão mais banal, a um simples anti-intelectualismo, uma vez que ideias articuladas não são o forte de nenhum dos dois. Lula esgrimia trivialidades sobre a “justiça social”, Bolsonaro quer acabar uma lista sem-fim de crenças que considera “de esquerda”.
Elaboradas por suas respectivas equipes econômicas, na questão econômica há diferenças importantes. Lula, se pudesse, prolongaria ad aeternum o desastre do intervencionismo estatal, do nacional desenvolvimentismo.
Bolsonaro, confiando em Guedes, parece aceitar que desmontar o Estado parasitário e instituir uma ordem econômica mais liberal é nossa única saída.
O essencial, porém, é que a raiva generalizada é irmã siamesa da desconfiança universal. Desconfiança em relação a tudo e a todos, em relação às instituições, principalmente – turbinada diariamente pelas redes sociais. O comportamento desastrado e irresponsável das mais altas instâncias do Judiciário tem muito a ver com a formação desse ambiente enlouquecido. Desfazê-lo é possível, mas não enquanto os personagens desse drama conservarem suas nefastas influências.
Bolívar Lamounier: Emigrar, protestar ou manter-se fiel
O que um país estagnado pode ter em comum com um grande clube de futebol em franca decadência? O pequeno clássico econômico de Albert Hirschman mostra as similaridades
O Brasil é um caso de laboratório para examinarmos uma questão. Nossa economia cresceu aceleradamente dos anos 1950 até 1980, quando a megalomania do presidente Ernesto Geisel nos legou uma megadívida externa e uma inflação cada vez mais alta. Aquela conjuntura, depois os desatinos da presidente Dilma Rousseff e a corrupção nos precipitaram no buraco onde hoje nos encontramos.
No futebol, temos o espantoso caso do Clube de Regatas Vasco da Gama, outrora uma potência esportiva, quatro vezes campeão brasileiro, uma vez da Libertadores e hoje um permanente candidato ao rebaixamento à Série B do futebol.
O economista Albert Hirschman (1915-2012) estudou como os membros de uma organização (ou seja, os cidadãos de um país, os consumidores de determinado produto, os torcedores de um clube…) podem reagir quando percebem uma persistente deterioração daquilo que os cerca e estão acostumados. Professor em Yale, Harvard, Columbia e Berkeley, em seu livrinho clássico “Saída, voz e lealdade”, de 1970, ele mostra que as pessoas partem (cidadãos mudam de país, consumidores trocam de marca, torcedores optam por outro clube) ou protestam. Em países pequenos, pobres e repressivos, ir embora pode ser uma resposta prática. Em países grandes, nos quais sempre há uma esperança de desenvolvimento, é mais difícil. Ou seja, entre sair ou protestar, existe um fator psicológico de grande importância: o grau de lealdade que os membros sentem pela organização a qual acreditam pertencer.
Brasil, só agora, na esteira da estagnação e dos descalabros recentes, começa a se tornar um país de emigrantes. Torcedores também não trocam de clube como quem troca de camisa. O Vasco, com vinte anos de vexames, continua a ter a quinta maior torcida do País em diferentes rankings. Torcedores vaiam, xingam, picham os muros do clube, mas raramente viram a casaca. E raramente são atendidos, pois os clubes são em geral controlados por um conselhão rigidamente oligárquico.
Na esfera política, de tempos em tempos uma multidão vai às ruas, mas seu intermitente protesto não adianta grande coisa, pois o bunker patrimonialista sediado em Brasília raramente se importa com seus “consumidores”. Os Três Poderes se acumpliciam para que o Estado funcione como um fim em si mesmo.
Bolívar Lamounier: Um feio escorregão de Jair Bolsonaro
Há muito mais consenso do que dissenso na atual vida pública brasileira
Ao qualificar o nazismo como um regime “de esquerda”, o presidente Jair Bolsonaro rompeu uma represa enorme, deixando um mar de sandices escorrer pelas redes sociais. Nas centenas de mensagens que li, não encontrei uma referência sequer ao que me parece ser o ponto crucial da discussão: a obsolescência da dicotomia esquerda x direita.
Ninguém contesta que lá atrás, no século 19, tal dicotomia tinha substância, e em alguns países a conservou durante a primeira metade do século 20. A Guerra Civil Espanhola, por exemplo, contrapôs comunistas e anarquistas (nem sempre solidários entre si) a uma direita rombuda, formada por uma burguesia resistente a toda veleidade de reduzir desigualdades, fazendeiros que adorariam viver na Idade Média e, não menos importante, um catolicismo que se comprazia em estender seu manto sobre toda aquela teia de iniquidades. Ou seja, havia efetivamente uma “esquerda” – os que recorriam à violência no afã de quebrar a espinha dorsal daquela sociedade – e uma “direita”, os setores acima mencionados, para os quais o status quo era legítimo, sacrossanto e destinado a perdurar até o fim dos tempos.
Os regimes totalitários que se constituíram entre as duas grandes guerras – o nazismo na Alemanha, o comunismo na URSS e o fascismo na Itália – foram precisamente a linha divisória a partir da qual a dicotomia esquerda x direita começou a perder o sentido que antes tivera. Se fizermos uma enquete entre historiadores, sociólogos, etc., pelo mundo afora, constataremos sem dificuldade que nove em cada dez classificam o nazismo como direita e o comunismo como esquerda – e reconheço que aqueles nove ainda têm um naco de razão.
Sabemos que os regimes comunistas se serviram do marxismo como base teórica. E que o fizeram com um cinismo insuperável; na prática, o chamado “socialismo real” assentava-se numa combinação de partido único, monopólio dos meios de comunicação, polícia secreta, culto à personalidade e numa repetição ritual da ideologia, entendida como a busca do paraíso na Terra, a “sociedade sem classes”.
Mas em abstrato – nas alturas da filosofia –, é certo que o marxismo se proclama humanista e igualitário. Não legitima nem tenta perenizar desigualdades sociais e muito menos raciais. O nazismo nada tem de humanitário ou igualitário: toma as desigualdades sociais como um dado da realidade e vai muito mais longe, visto que postula uma desigualdade natural de raças e adotou explicitamente a noção “eugênica” do melhoramento das raças superiores – da “raça ariana”, entenda-se – e da exterminação da “raça judia”.
Passemos, agora, ao que chamei de obsolescência da dicotomia esquerda x direita. Nas alturas da filosofia e no cinismo do mero discurso político, é óbvio que os esquerdistas continuam a professar um ideário de igualdade. Proclamam-se mais sensíveis que o resto da humanidade ao sofrimento dos destituídos (daí a atração que exercem sobre a corporação artística), mais competentes e decididos a encetar ações conducentes a uma sociedade menos desigual e, com certo contorcionismo, ainda se apresentam como os detentores monopolistas da estrada real que levará ao paraíso terrestre. Ou seja, cultivam, ainda, o mito da revolução total.
Mas há dois pequenos senões. Na vida política real não se requer nenhum esforço para perceber que os termos “esquerda” e “direita” estão reduzidos a meros totens tribais. Se me declaro “de esquerda”, fica entendido que meu adversário político é automaticamente de “direita”. Se o partido ao qual me oponho apoia determinada tese, eu a rejeito, pois ela estará necessariamente ligada ao totem da tribo inimiga. No Brasil é notório que a grande maioria dos políticos não serve a objetivos, eles se servem deles e os enquadram em sua obtusidade totêmica para diluir interesses rigorosamente corporativistas.
O segundo senão é ainda mais importante. Como antes ressaltei, “esquerdistas” são os que se especializam em professar ideais humanitários e igualitários. Em termos abstratos, isso é correto. Mas, atenção, trata-se, na melhor das hipóteses, de um enunciado no plano do desejo, não de programas concretos de governo e muito menos aos efeitos observáveis da aplicação de determinado programa. Aspirações, não consequências objetivas. No terreno prático, as políticas de esquerda caracterizam-se sobretudo por um distributivismo ingênuo, por uma sesquipedal incompetência e não raro pela corrupção no manejo dos recursos públicos, por afugentar investimentos, ou seja, em síntese, pela irresponsabilidade fiscal e pela leniência com a inflação, tolerando ou assumindo ativamente políticas cujas consequências levam a resultados contrários aos proclamados como desejáveis, piorando as condições de vida dos mais pobres.
Segue-se que a distinção realmente importante não é entre esquerda e direita, mas entre, de um lado, objetivos proclamados, subjetivos ou meramente discursivos e, do outro, consequências práticas, objetivas e previsíveis. De um lado – na melhor das hipóteses –, a crença em “valores absolutos”, lembrando aqui a teoria ética de Max Weber; do outro, uma “ética da responsabilidade”, vale dizer, uma visão política que de antemão sopesa objetivos e consequências prováveis.
Nessa ótica, faz sentido afirmar que há muito mais consenso que dissenso na vida pública brasileira atual. O que queremos, fundamentalmente, é retomar o crescimento econômico em bases sustentáveis, com estabilidade monetária; atrair grandes investimentos para a infraestrutura; revolucionar organizacional e pedagogicamente a educação. Se uma concepção mais convergente não se impuser rapidamente sobre os totens tribais que se digladiam em Brasília, daqui a 20 anos o Brasil não será um país para almas frágeis.
*Sócio-Diretor da Augurium Consultoria, é membro das Academias Paulista de Letras e Brasileira de Ciências e autor do livro ‘De onde, para onde – memórias’ (São Paulo, Editora Global)
Bolívar Lamounier: Opção preferencial pelo abismo
Nesse ritmo, só em 30 anos vamos dobrar o tamanho da economia. Além dos problemas reais, sofremos com nossa insanidade. E a culpa não é só do governo
Não vejo como alguém na plena posse de suas faculdades mentais pudesse esperar um governo de boa qualidade depois de uma eleição polarizada entre o petismo e o bolsonarismo.
O barco que temos é esse aí: um rei-filósofo na Virgínia, uma tetrarquia familiar (Jair e filhos) no Planalto, dois ministros sérios tentando trabalhar — mas enfrentando as pirraças habituais dos três Poderes — e algumas almas penadas que até agora não encontraram seus respectivos papéis na peça. Três meses se passaram e só com muito esforço consigo acredito que possa melhorar.
Seria melhor com Haddad e o PT? Quem afirma isso o faz como ato de fé, pois nada do que fizeram em seus dezesseis anos e meio de governo autoriza tal crença. Com o agravante, é claro, que o PT tem um arremedo de ideologia imprestável e um projeto de permanecer indefinidamente no poder.
Mas o que acima foi dito é só uma parte, não necessariamente a pior, de um quadro muito mais amplo que deveríamos examinar com seriedade, não fôssemos um País de irresponsáveis. Chegarmos a 2022 com um resultado medíocre significa postergar mais uma vez a recuperação econômica do País e reduzir a pó o que nos resta de esperança. Hoje, além dos problemas reais que nos assustam a cada dia, temos uma penca de problemas imaginários, frutos amargos de nossa insanidade, de uma sociedade que se tornou raivosa e se recusa a imaginar o futuro que a espera.
Aqui mesmo neste espaço, já escrevi várias vezes, mas faço questão de repetir. Com a renda anual medíocre que temos hoje e prevendo o mesmo crescimento a passos de cágado para os próximos anos, levaremos uma geração inteira para dobrá-la. Algo entre 25 e 30 anos.
Para não nos precipitarmos nesse abismo, temos que elevar vigorosamente a produtividade, o que significa, em primeiro lugar, um sistema político muito mais confiável, com os três Poderes fazendo jus à elevada missão que a Constituição lhes confere. Significa investimento, muito investimento. E um programa enérgico de qualificação de força de trabalho, o que desde logo requer uma revolução organizacional e pedagógica em nosso sistema educacional.
A iniciativa de tudo isso cabe, evidentemente, ao governo, mas as elites também são responsáveis. Deveriam, no mínimo, forçar o Executivo a sair de sua letargia, mas nem isso fazem.
Bolívar Lamounier: O primeiro gol tem de vir antes do segundo
Indiferente ao destino coletivo, nossa elite deleita-se com as tetas volumosas do Estado
O título deste artigo é um lugar-comum a que os locutores esportivos recorrem quando lhes ocorre apontar que um dos times contendores está se deixando levar pelo açodamento. Correria não adianta, tem de ser um gol de cada vez.
Tal advertência é igualmente importante, mas nem sempre observada, na política. Exceção à regra, o economista Alexandre Schwartsman tem insistido nela em suas palestras e seus artigos. O Brasil - diz ele - defronta-se com duas agendas, uma urgente e uma importante. Urgente é o conjunto de desafios que o governo Bolsonaro terá de vencer, de um jeito ou de outro, desde logo o ajuste fiscal (que inclui a reforma da Previdência). É o primeiro gol, sem o qual não haverá o segundo.
Se o primeiro ficar para o quatriênio seguinte, estaremos no mato sem cachorro, e assim sucessivamente, num mato cada vez pior, até que um dia nem teremos como pensar na agenda “importante”. Esta, diz Schwartsman, são os megaproblemas que nos esperam no médio prazo - 15 ou 20 anos, digamos; um mar de terrores que poderá até pôr em risco nossa existência como entidade nacional autônoma. Não precisamos esforçar-nos muito para trazer alguns exemplos à mente. Nosso descalabro educacional (o ministro Vélez Rodríguez está nos devendo um pronunciamento mais substancioso a esse respeito), meio ambiente e saneamento (que o ministro Ricardo Salles tem tratado com propriedade, mas por enquanto não lhe ocorreu que o saneamento é um problema gravíssimo até nos bairros ditos “nobres” da maior cidade da América do Sul). Desenvolvimento da média e pequena empresas - ou alguém acha que ficando na rabeira da China conseguiremos resolver nossos problemas de desemprego e criar uma classe média robusta? Nesse particular, alvíssaras, Joaquim Levy, presidente do BNDES, começou a solfejar a música que queríamos ouvir.
O problema é que temos pela frente dois formidáveis empecilhos, que afetam tanto a agenda urgente como a importante.
O primeiro é uma decorrência direta da radicalização política dos últimos anos e, em particular, do clima de “prende, mata e esfola” que emprestou seu sinistro colorido à campanha presidencial. As sequelas ainda estão aí, à vista de todos. Tenderão a se diluir, claro, a não ser que sejamos mesmo um país de lunáticos. E a consequência, enquanto não se diluem, é que a capacidade do atual governo de mobilizar a opinião, dramatizando a urgência da agenda urgente, permanece num patamar modesto.
Não estou propondo fazer o segundo gol antes do primeiro. Estou é dizendo que, forçado a superar rapidamente os entraves que já estão aí, bem configurados, o governo enfrentará dificuldades tanto maiores quanto menor for sua capacidade de convencimento. Com o passar do tempo, percebendo que ele não é a fera que todos imaginavam, o Congresso o encostará na parede. Mostrará a planilha que o nosso “presidencialismo de coalizão” sempre soube elaborar com extremo esmero. Pior ainda, o corporativismo - aquela miríade de grupos de interesse que só se dispõe a conversar com uma faca nos dentes - reativará seus acampamentos em Brasília.
E aqui chegamos ao segundo problema. Por enquanto, o governo vem pecando por uma baixa capacidade de convencimento. Mas o pior é que os grupos sociais situados entre os 15% ou 20% de mais alta renda e escolaridade raramente refletem sobre as questões apontadas. Sabem que elas existem, mas não contribuem para a governabilidade, ou seja, para a mobilização da opinião, para um adequado balizamento das forças políticas, em busca da indispensável convergência. Não se impressionam quando alguém lhes diz que o nosso médio prazo pode se transformar num circo de horrores; dão de ombros, simplesmente. Individualmente, cada um retruca: “Tal hipótese pode até se concretizar, mas não me atingirá, os outros que se cuidem”. Ou seja, nossa elite cultiva um individualismo tosco, inconcebível para uma pessoa que tenha tentado se informar sobre o que aconteceu em outros países, em diferentes momentos da História.
De onde provém esse individualismo ingênuo? Ora, por quem sois, do fato de Deus ser brasileiro. Sim, essa deve ser uma parte da história. Da circunstância de não convivermos continuamente com temperaturas extremas, vulcões, tsunamis, etc. Mais importante, porém, é termos conseguido consolidar rapidamente nossa unidade territorial, ao contrário, por exemplo, da Alemanha e da Itália, que só conseguiram estabelecê-la meio século depois de nós. Do fato, também, de que para consolidá-la e formar um mercado nacional não tivemos de encarar uma das guerras proporcionalmente mais sangrentas da História, como a guerra civil norte-americana de 1861-1865.
O fato é que nossa elite, além de indiferente ao destino coletivo de nosso país, e profundamente ignorante a respeito dos retrocessos e tragédias vividos por nosso país, aninhou-se gostosamente nas dobras do Estado, deleitando-se com suas volumosas tetas.
Sim, lá atrás, Deus nos deu uma mãozinha. Mas nossa elite precisa lembrar que os Estados Unidos, por exemplo, não obstante a já referida guerra civil, fizeram a partir de 1860 uma das mais espetaculares revoluções educacionais de que temos notícia, por meio dos land-grant colleges (universidades voltadas para o desenvolvimento tecnológico, construídas pelos Estados em terras doadas pela União). Que o Japão, graças à restauração da dinastia Meiji, fez em 20 anos reformas muito mais drásticas do que essas que temos estado a discutir há não sei quantos anos. E que a Alemanha, hors-concours quanto à corrupção na administração pública durante o século 18, transformou-se durante o século 19 no modelo de profissionalismo cantado em prosa e verso pelo nunca assaz louvado Max Weber, o maior dos sociólogos.
* Sócio-diretor da Augurium Consultoria, é membro das Academias Paulista de Letras e Brasileira de Ciências
Bolívar Lamounier: Energia, dedicação e farol alto
Se funcionar bem como freada de arrumação, o governo terá realizado um trabalho meritório
A julgar pelas duas primeiras semanas, o governo Bolsonaro periga tomar gol antes de tocar na bola. Realmente, o número de desencontros e trapalhadas foi considerável.
Se funcionar bem como uma freada de arrumação, o governo terá realizado um trabalho meritório. Freada de arrumação o que é? Arrumar as contas públicas, aí incluída a reforma da Previdência; atrair capital estrangeiro em quantidade para destravar a infraestrutura; controlar as falcatruas e safadezas na administração direta e nas estatais. Isso é pouco, pouquíssimo, à luz dos desafios que teremos de enfrentar no médio prazo – voltarei a este ponto abaixo –, mas no presente quatriênio temos de ser realistas, pois fomos atingidos em cheio pelo tsunami Dilma Rousseff. Isto posto, qualquer pequena perda de capital político precisa ser avaliada com seriedade, uma vez que o jogo ainda nem começou.
A trapalhada de maior tamanho foi, sem dúvida, o precipitado anúncio da transferência de nossa embaixada em Israel para Jerusalém. Nesse caso, o próprio presidente Bolsonaro e o excelentíssimo senhor ministro das Relações Exteriores parecem-me ter cometido um sério pecado, falando antes da hora e mostrando-se propensos a comprar uma briga que não nos pertence. E sinalizando duas possíveis orientações que se revelarão desastrosas caso sejam levadas à prática: um afastamento do conceito do Brasil como Estado laico – consta que a influência evangélica pesou na mencionada atitude – e um alinhamento político automático com os Estados Unidos, ainda por cima dentro do jeito Trump de governar, que, obviamente, suscita preocupações.
Outro episódio que merece referência foi a contratação pelo presidente do Banco do Brasil do sr. Antônio Mourão, filho do vice-presidente, Hamilton Mourão. O general vice-presidente reagiu com calma e sinceridade ao episódio, ressaltando a lisura do ato, a competência de seu filho para a função, o fato de ser concursado e de ter uma longa carreira no banco. Fato é, porém, que a contratação repercutiu negativamente numa parcela da opinião pública, que reagiu com argumentos também ponderáveis. Recorrendo a uma imagem surrada, à mulher de César não basta ser casta, ela precisa parecer casta. Nesse caso, a aparência é importante por várias razões.
Primeiro, pelas circunstâncias da eleição. Jair Bolsonaro foi eleito graças a um amplo movimento de opinião caracterizado, de um lado, pelo antipetismo e, do outro, por uma aguda exigência de reforma, de mudança de comportamentos e práticas. A questão do timing é também relevante. Entre os eleitores que foram às urnas com essa expectativa, muitos devem ter estranhado a mencionada contratação já na primeira quinzena do novo governo.
Tudo isso desaparecerá da memória se o governo conseguir “entregar” as mudanças que se propôs efetivar. Mas isso, como assinalei no início, não são favas contadas.
O general Hamilton Mourão foi também sincero e ponderado ao responder a críticas feitas ao desentrosamento da equipe de governo. Frisou que uma equipe não se organiza e age de forma coesa da noite para o dia. Isso é certo, sem dúvida. Permito-me, porém, repetir que, mesmo no modesto modelo de um governo de arrumação, a equipe ainda não deu sinais claros de como pretende proceder em várias frentes, nem mostrou uma percepção realista do tamanho dos interesses que lhe cumprirá arbitrar.
Tome-se, por exemplo, a contraposição existente na área ambiental, com fazendeiros querendo ampliar a área desmatada e ambientalistas argumentando que o desmatamento já foi longe demais. No tocante à privatização, outro imperativo dos próximos anos, precisamos andar rápido, mas somos, infelizmente, um país de cabeça feita, nacional-estatizante até a medula. Entre os pesquisadores acadêmicos sobram demonstrações de que o modelo nacional-desenvolvimentista, cujo núcleo é uma máquina estatal atrelada a umas poucas megaempresas, cedo ou tarde acaba esbarrando na chamada armadilha do baixo crescimento.
Pior ainda quando esse modelo reduz a diversificação estrutural da economia, concentrando fortemente a atividade econômica na exportação de commodities; nessa variante, além do baixo crescimento, a redução das desigualdades sociais se torna virtualmente impossível. Louve-se, portanto, a intenção anunciada pelo sr. Joaquim Levy, novo presidente do BNDES, qual seja, a de redirecionar as prioridades do banco no sentido da média empresa.
Esquematicamente, podemos, portanto, afirmar, sem temor de erro, que a agenda da “arrumação” é um modelo de transição para outra, muito maior e mais decisiva, que consistirá em melhorar a produtividade, elevando acentuadamente a taxa global de investimento e diversificando a economia, para dessa forma atingir uma taxa menos medíocre de crescimento do PIB. Essa agenda que chamo de maior e mais decisiva mal apareceu na campanha eleitoral e nas duas primeiras semanas do governo Bolsonaro.
Nesse plano, a reforma do sistema educacional configura-se como a questão sine qua nonque precisa ser enfrentada com coragem e energia. Sociólogo competente, o ministro Vélez Rodrigues seguramente deve ter uma percepção adequada das dimensões e determinantes da reforma necessária, mas ainda não se pronunciou a respeito. No nível superior, nosso país não tem uma universidade sequer entre as cem melhores do mundo. Há ilhas de excelência, sem dúvida, mas o panorama geral é bem conhecido.
Altamente ideologizadas, as instituições de ensino superior são presa fácil para a luta política e para o grevismo. Muitos, talvez a maioria dos estudantes não responde com a esperada motivação ao privilégio do ensino gratuito, que é estendido a todos, quer suas famílias tenham ou não condições de pagar anuidades. No ensino básico o quadro é evidentemente pior, não cabendo analisá-lo neste espaço.
* Cientista político, é sócio-diretor da Augurium Consultoria e membro das Academias Paulista de Letras e Brasileira de Ciências