bbc brasil
EUA: Militares não participariam de golpe, mas democracia no país preocupa
No governo americano, tanto no Executivo quanto no Congresso, percepção é de que Bolsonaro segue estritamente a cartilha de Trump
Mariana Sanches / BBC News Brasil em Washington
Quando o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o Assessor Especial do presidente americano Joe Biden, Juan González, entraram no gabinete de Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, no último dia 5, não esperavam uma conversa de melhores amigos. Mas o que encontraram foi descrito à BBC News Brasil como "nonsense" e "tenso" por oficiais americanos.
Do encontro sobraram não só uma foto de um aperto de mão de Sullivan, de máscara, e Bolsonaro, sem máscara e oficialmente não vacinado, mas também uma preocupação dos americanos com a saúde da democracia brasileira, diante das alegações sem provas do presidente brasileiro de fraude eleitoral nas urnas eletrônicas.
Originalmente, a agenda dos enviados de Biden ao Brasil não teria a democracia brasileira como destaque principal.
A pauta deles incluía oferecer ao país o status de parceiro global da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), condição que dará acesso ao Brasil à compra de equipamentos de guerra de última linha, além de sessões de treinamento militares com os americanos em bases nos EUA.
Por outro lado, a missão americana pretendia pressionar o Brasil a estabelecer — e cumprir — metas de redução de desmatamento ambiciosas e dissuadir o Brasil de usar equipamentos da gigante chinesa de telecomunicações Huawei em sua rede 5G — um dos argumentos dos americanos foi, inclusive, o de que a empresa poderia não entregar os materiais contratados pelo governo Bolsonaro por crise de matérias-primas.
A conversa, no entanto, saiu do script normal com insinuações de Bolsonaro de que o pleito americano de 2020 havia sido roubado — o que faria de Joe Biden um presidente ilegítimo.
A administração Biden sempre esteve ciente de que Bolsonaro defendia publicamente as falsas alegações de Trump sobre as eleições. O republicano fazia múltiplas acusações ao sistema eleitoral dos EUA, questionando tanto aos votos de papel quanto àqueles depositados em urna eletrônica, mesmo antes do dia da votação. Bolsonaro foi o último líder do G-20 a reconhecer a vitória de Biden.
O que os americanos não esperavam é que Bolsonaro dissesse tais coisas diante de Sullivan e Gonzalez, ambos altos representantes do governo a serviços dos democratas há anos.
Segundo autoridades com conhecimento dos fatos, ambos ouviram o suficiente para deixar o encontro preocupados com a democracia no Brasil. Sullivan foi às redes sociais enunciar que a "gestão Biden defende um hemisfério seguro e democrático".

Já Juan Gonzalez fez uma coletiva de imprensa sobre a viagem para Brasil e Argentina na qual falou, na maior parte do tempo, da democracia brasileira. "Fomos muito diretos em expressar nossa confiança na capacidade de as instituições brasileiras conduzirem uma eleição livre e limpa e enfatizamos a importância de não ser minada a confiança no processo de eleições, especialmente porque não há indício de fraude nas eleições passadas", disse Gonzalez, sobre o teor da conversa com Bolsonaro.
A Cartilha Trump
Dentro do governo americano, tanto no Executivo quanto no Congresso, tem ganhado força a percepção de que Bolsonaro segue estritamente a cartilha que Trump adotou ao tentar se perpetuar no poder: denunciar fraudes sem prova, antes mesmo do pleito ocorrer, e criar descrença em parte do eleitorado sobre o processo eleitoral, a ponto de levar a cenas como a invasão do Capitólio por apoiadores, em 6 de janeiro.
A diplomacia de Biden não deixou de notar, por exemplo, o interesse do ex-estrategista de Trump, Steve Bannon, nas eleições de 2022, no Brasil.
O próprio Gonzalez foi explícito sobre o assunto. "Fomos sinceros sobre nossa posição, especialmente em vista dos paralelos em relação à tentativa de invalidar as eleições antes do tempo, algo que, é óbvio, tem um paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos."
Em Washington, a percepção é de que a imagem de Bolsonaro sofreu um abalo significativo como um possível interlocutor após a visita.
"Acho que o governo Biden, especialmente depois dessa reunião em Brasília, vê Bolsonaro como uma figura errática, ou pelo menos como alguém que age de uma forma muito excêntrica e difícil de prever. Ele diz coisas que parecem ir contra seu próprio interesse nacional. Por que ele iria querer brigar com o novo governo dos EUA dizendo que a eleição (americana) foi fraudada? Dá pra entender o porquê Trump faz isso, já que ele quer disputar a presidência de novo e fazer disso um tema, mas para um líder estrangeiro dizer esse tipo de coisa é, no mínimo, estranho", afirma Melvyn Levitsky, ex-secretário executivo do Departamento de Estado e embaixador no Brasil entre 1994-1998.
Militares longe do golpe
Levitsky, que hoje é professor de políticas internacionais da Universidade de Michigan, afirma que nessa situação, os americanos vão jogar (quase) parados, sem qualquer ação que possa soar como interferência nas eleições brasileiras.

E isso também porque a diplomacia americana não vê como provável a possibilidade de que as Forças Armadas embarquem em uma eventual aventura golpista de Bolsonaro. Reservadamente, autoridades dos EUA citaram as ações recentes do ex-comandante do Exército, o general Edson Pujol, e de seu atual líder, o general Paulo Sérgio de Oliveira, como sinais de anteparos ao presidente no uso político das forças armadas. Em discurso no dia do soldado, Oliveira afirmou que o Exército quer ser respeitado "nacional e internacionalmente" e tem "compromisso com os valores mais nobres da Pátria e com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento".
"Eu conhecia muito bem os militares brasileiros. E embora faça algum tempo que não fale com eles, meu senso é de que os militares estavam muito subordinados ao governo civil e eu não acho que isso mudou. Não acho que os militares queiram entrar de vez na política. Seria devastador para eles fazer isso. E se isso acontecesse, seria devastador para as relações entre Brasil e Estados Unidos também", afirma Levitsky.
É essa percepção que explica, em parte, porque os americanos não viram problemas em oferecer ao Brasil uma posição como parceiro global na Otan que fortalece diretamente o Exército brasileiro. Se avaliasse haver tendência golpista nas forças, esse não teria sido um caminho para Biden, asseguram os diplomatas. Além disso, nem todos os parceiros globais da Otan são países de democracia perfeita — a Turquia, por exemplo, é tido como um deles.
Por fim, para os militares brasileiros a possibilidade de acessar contratos de vendas de armamento de ponta e participar em treinamentos com os americanos é algo de que eles provavelmente não estariam dispostos a abrir mão em troca da tentativa de um golpe ao lado de Bolsonaro. É o que argumenta Ryan Berg, cientista-político especialista em regimes autoritários na América Latina do Centro de Estratégias e Estudos Internacionais (CSIS, na sigla em inglês).
"A visão do governo dos EUA é que, embora os movimentos de Bolsonaro sejam muito preocupantes, com desfile de tanques pelas ruas de Brasília e atos para desacreditar as eleições, ainda assim o Congresso rejeitou o voto impresso e isso, para o governo dos Estados Unidos, indica que as instituições do Brasil são mais fortes do que algumas pessoas gostam de dizer. O governo dos EUA tem muita confiança que os militares brasileiros não ficariam do lado do Bolsonaro se ele tentasse cometer algum tipo de autogolpe, como vimos com Trump, na invasão do Capitólio em 6 de janeiro", afirma Ryan Berg.
O futuro das relações EUA-Brasil

É consenso entre diplomatas e especialistas internacionais americanos que os EUA não podem e nem querem virar as costas para o Brasil. Primeiro porque o país, com suas florestas tropicais, é visto como chave para avançar no combate ao aquecimento global, pauta prioritária do governo Biden.
Segundo, porque a China tenta ganhar espaço na América Latina a passos largos, e os americanos não estão dispostos a ceder, ao principal rival, espaço de influência na segunda maior democracia do continente — ainda mais com a disputa do 5G a pleno vapor.
E terceiro, porque, em que pesem as ações de Bolsonaro sobre a democracia brasileira ou sobre o meio ambiente, seu governo promoveu um alinhamento ideológico com os Estados Unidos no continente, adotando tom duro contra Venezuela e Cuba, algo bastante valorizado no Departamento de Estado.
No entanto, dada a percepção de que "Bolsonaro não é um líder plenamente confiável", como afirma Levitsky, os próximos movimentos na relação dependerão de seu governo. E a diplomacia americana diz que não vai se furtar da possibilidade de se engajar com outros atores políticos, em diferentes níveis de poder e sem a intermediação do Executivo federal, para fazer avançar sua agenda.
Foi exatamente o que fez, há um mês, o Enviado Climático de Biden, John Kerry. Diante de promessas não cumpridas e do mal-estar que representava a presença do então ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que os americanos veem como envolvido em um possível esquema de tráfico ilegal de madeira amazônica para os EUA, Kerry driblou Brasília e se reuniu por uma hora e meia com os governadores do Fórum de Governadores, que inclui quase todos os Estados.
Na semana seguinte, Jake Sullivan não esteve apenas no Palácio do Planalto, mas fez também uma reunião com governadores do Consórcio da Amazônia Legal.
"Há uma percepção dos EUA de que o governo federal infelizmente não vai avançar muito na questão do desmatamento. Então falar com os governadores não chega a ser uma exclusão do governo federal, mas uma forma de jogar nas duas vias", afirmou à BBC News Brasil o governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), que esteve no encontro com Kerry.
Depois de três meses sem encontros com a equipe de Kerry, na última semana, técnicos do Ministério do Meio Ambiente e representantes do Itamaraty retomaram conversas com os americanos. Isso acontece a menos de três meses da Conferência do Clima, em Glasgow, na Escócia, encarada pelos americanos como a última grande oportunidade para que o governo Bolsonaro mostre algum avanço na agenda ambiental.


































Consultado pela BBC News Brasil, o Departamento de Estado afirmou, por meio de um porta-voz, que "esperamos ver progressos adicionais à medida que o Brasil avança para combater o desmatamento ilegal e reduzir suas emissões de gases do efeito estufa, em linha com os compromissos assumidos pelo presidente Bolsonaro na Cúpula dos Líderes sobre o Clima realizada em abril".
O Itamaraty defende que as metas de redução de desmatamento (que deve ser zerado até 2030) e de emissões (zero até 2050) são as mais ambiciosas entre os países em desenvolvimento. Reservadamente, no entanto, diplomatas envolvidos nas negociações com os americanos reconhecem "dificuldades internas do governo" para entregar reduções expressivas no desmatamento ainda em 2021. Dados do INPE mostram que o acumulado de desmatamento entre janeiro e julho deste ano é o maior desde 2016.
Para o embaixador Levitsky, até a eleição do próximo ano, EUA e Brasil devem levar uma relação "em banho-maria". De um lado, os americanos não demonstram grandes expectativas de novos compromissos de Bolsonaro, a quem veem majoritariamente voltado à agenda eleitoral doméstica.
Por outro, preferem ver quem assumirá o país pelos quatro anos seguintes para tentar implementar qualquer ação fora das relações rotineiras. E já avisaram a Bolsonaro que reconhecerão como presidente quem quer que a Justiça Eleitoral aponte como vencedor do pleito em outubro de 2022.
Fonte: BBC Brasil
Xokleng: povo indígena quase dizimado protagoniza caso histórico no STF
As tropas se deslocavam pelas trilhas à noite, em silêncio. Os homens, entre 8 e 15, evitavam até fumar para não chamar a atenção.
João Fellet / BBC News Brasil
Ao localizar um acampamento, atacavam de surpresa.
"Primeiro, disparavam-se uns tiros. Depois passava-se o resto no fio do facão", relatou Ireno Pinheiro sobre as expedições que realizava no interior de Santa Catarina até os anos 1930 para exterminar indígenas a mando de autoridades locais.
Pinheiro era um "bugreiro", como eram conhecidos no Sul do Brasil milicianos contratados para dizimar indígenas (ou "bugres", termo racista que vigorava na região naquela época).
O relato está no livro Os Índios Xokleng - Memória Visual, publicado em 1997 pelo antropólogo Silvio Coelho dos Santos.
"O corpo é que nem bananeira, corta macio", prossegue o bugreiro na descrição dos ataques. "Cortavam-se as orelhas. Cada par tinha preço. Às vezes, para mostrar, a gente trazia algumas mulheres e crianças. Tinha que matar todos. Se não, algum sobrevivente fazia vingança", completou.
Poucas etnias foram tão combatidas pelos bugreiros quanto os Xokleng, de Santa Catarina. Nesta quarta-feira (25/08), o povo poderá seu destino definido num dos julgamentos mais importantes da história recente do Supremo Tribunal Federal (STF), que definirá o futuro das demarcações de terras indígenas no Brasil.
Em 11 de junho, o relator do processo sobre os Xokleng no STF, ministro Edson Fachin, votou contra a tese do "marco temporal". O julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.
Agora, o processo voltou à pauta de julgamento do plenário, previsto para esta quarta-feira. Entretanto, é possível que novos pedidos de vista posterguem uma decisão.
A retomada do caso se torna ainda mais relevante porque avança na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) 490, que, entre outros pontos, estabelece 1988 como marco temporal para a demarcação de terras indígenas.
Se a corte derrubar a tese no julgamento sobre os Xokleng, é provável que os congressistas tenham de mudar o texto do PL sob o risco de terem a proposta invalidada pela corte.
O caso mobiliza as atenções de grupos ruralistas e terá repercussão para dezenas de outros povos no país.

Questão do 'marco temporal'
A corte vai avaliar se a Terra Indígena Ibirama La-Klãnõ — habitada pelos Xokleng e por outros dois povos, os Kaingang e os Guarani — deve incorporar ou não áreas pleiteadas pelo governo de Santa Catarina e pelos ocupantes de propriedades rurais.
Em jogo está a tese do chamado "marco temporal", princípio defendido por entidades ruralistas e segundo o qual só podem reivindicar terras indígenas as comunidades que as ocupavam na data da promulgação da Constituição: 5 de outubro de 1988.
O governo passou a encampar formalmente essa tese em 2017, quando Michel Temer era presidente, o que na prática paralisou as demarcações no país.
Em 2018, num outro julgamento sobre a demarcação de territórios quilombolas, o STF rejeitou o princípio do "marco temporal".
O princípio faz parte do léxico ruralista desde pelo menos 2009, quando o então ministro do STF Ayres Britto propôs sua adoção ao julgar um caso sobre a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol.
Os indígenas, por outro lado, são contrários à aplicação do marco temporal, pois dizem que muitas comunidades foram expulsas de seus territórios originais antes de 1988.
É esse o argumento usado pelos Xokleng no julgamento no STF: eles afirmam que décadas de perseguições e matanças forçaram o grupo a sair do território que hoje tentam retomar.

"Não tínhamos fronteiras, andávamos por todo aquele espaço. Mas éramos tutelados, não tínhamos como responder por nós. Mal sabíamos falar português, imagine nos defender", diz à BBC News Brasil Ana Patté, jovem liderança Xokleng integrante da Associação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e assessora parlamentar da deputada estadual Isa Penna (PSOL-SP).
Patté afirma que o território em disputa era usado pelos Xokleng para a caça, pesca e coleta de frutos, especialmente o pinhão. A Terra Indígena Ibirama La-Klãnõ foi demarcada em 1996 e, em 2003, mais que triplicou de tamanho, passando de 15 mil para 37 mil hectares.
A área hoje em disputa integra a parte incorporada em 2003 e está parcialmente ocupada por plantações de fumo — atividade que, segundo Patté, fez o solo e os rios da região se contaminarem com agrotóxicos.
Ela diz que, se o STF julgar que o pleito da comunidade procede, a área em disputa será reflorestada, o que trará benefícios não só para os Xokleng mas para todos que dependem dos rios que cruzam aquelas terras.
Já o governo de Santa Catarina afirma que essa área era pública e foi vendida a proprietários rurais no fim do século 19.

Políticos ruralistas catarinenses apoiam a posição do governo estadual. Em 2008, os então deputados federais Valdir Colatto e João Matos, ambos do MDB, elaboraram um decreto legislativo anulando a ampliação da terra indígena.
Eles afirmaram que, na área englobada pela ampliação, havia 457 pequenas propriedades agrícolas, com média de 15 hectares cada.
"Nunca houve, e nem há, critérios seguros para se demarcar áreas indígenas, ficando a sociedade à mercê do entendimento pessoal do antropólogo que se encontra fazendo o trabalho num determinado momento", argumentaram os deputados ao justificar o decreto.
O Estado de Santa Catarina também disputa com os Xokleng 3.800 hectares onde há sobreposição entre a terra indígena e reservas biológicas estaduais.
Em 2019, o STF decidiu que o julgamento sobre a Terra Indígena Ibirama La-Klãnõ tem repercussão geral — ou seja, a decisão aplicada ali valerá para outros casos semelhantes.
Se a corte se opuser à tese do marco temporal, o governo federal em tese será obrigado a retomar os processos de demarcação que foram travados com base nesse princípio.
'Potencial de conflagração'
Essa possibilidade tira o sono de associações ruralistas. Em maio de 2020, um advogado da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) disse no STF que a rejeição do princípio do marco temporal traria "um enorme potencial de conflagração do país e retorno a uma situação muito grave que se vivia no Brasil antes de 2009 (ano da decisão do STF sobre o caso Raposa Serra do Sol)".
Já uma decisão favorável ao estabelecimento de um marco temporal tende a dificultar novas demarcações.
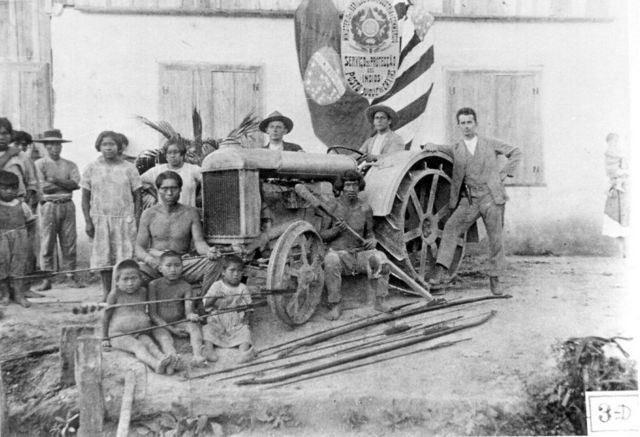
Segundo a Funai (Fundação Nacional do Índio), há 245 processos de demarcação de terras ainda não concluídos.
Em muitos desses casos, os indígenas reclamam territórios de onde dizem ter sido expulsos antes de 1988.
Há ainda muitas demandas por demarcação que nem sequer foram analisadas pelo governo — o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), braço da Igreja Católica que atua em prol dos povos indígenas, conta 537 casos desse tipo.

Colonização europeia
Após perder dois terços de seus membros no século passado, a população Xokleng voltou a crescer. Hoje, a etnia soma cerca de 2,3 mil integrantes.
O julgamento no STF em questão não é a primeira ocasião em que um fato relacionado a esse povo redefine as relações do Estado brasileiro com os povos indígenas.
Em 1908, o etnógrafo tcheco Albert Vojtech Fric discursou em um congresso em Viena, na Áustria, sobre o impacto da imigração europeia nas populações indígenas do Sul do Brasil.
Segundo Fric, a "colonização se processava sobre os cadáveres de centenas de índios, mortos sem compaixão pelos bugreiros, atendendo os interesses de companhias de colonização, de comerciantes de terras e do governo".
Anos antes, Fric havia sido convidado por um grupo de políticos, humanistas e intelectuais de Santa Catarina para servir à Liga Patriótica para a Catequese dos Silvícolas.
Enquanto poderosos locais defendiam exterminar os indígenas, esse grupo propunha uma abordagem mais "light": cristianizá-los e incorporá-los à força de trabalho nacional.
Fric havia sido encarregado de liderar a "pacificação" dos Xokleng - termo usado na época para designar a aproximação com indígenas que mantinham relação conflituosa com a sociedade envolvente.

A presença dos Xokleng era vista como um entrave à colonização da região. Eram comuns relatos de furtos ou ataques de indígenas a trabalhadores que avançavam sobre seu território tradicional.
Mas Fric acabou deixando o Brasil antes de cumprir a missão.
Em Os Índios Xokleng - Memória Visual, o antropólogo Silvio Coelho dos Santos (1938-2008) diz que Fric foi retirado do posto provavelmente por causa de pressões de companhias de colonização alemãs que atuavam em Santa Catarina e não concordavam com sua abordagem.
O antropólogo afirma, porém, que o discurso de Fric em Viena teve grande repercussão na imprensa europeia e estimulou o governo brasileiro a agir para mostrar que se preocupava com os povos nativos.
Em 1910, durante a presidência de Nilo Peçanha, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), precursor da atual Funai.
Inspirado por ideais positivistas, o órgão dizia ter como objetivo "civilizar" os indígenas e incorporá-los à sociedade brasileira — postura enterrada pela Constituição de 1988, que reconheceu aos indígenas o direito de manter seus costumes e modos de vida.
Mesmo após a criação do SPI, as expedições de bugreiros contra povos como os Xokleng continuaram a acontecer por décadas.
Em seu livro, Silvio Coelho dos Santos entrevista um bugreiro que diz ter participado de uma expedição para matar indígenas no governo Getúlio Vargas (1930-1945), ao menos 20 anos após a criação do órgão.
As missões para aniquilar povos nativos aconteciam enquanto, na Europa, Adolf Hitler punha em marcha seu plano de exterminar os judeus.
Ou enquanto artistas brasileiros passavam a valorizar a participação indígena na formação nacional, influenciados pela Semana de Arte Moderna de 1922.

Crianças assassinadas
A proximidade temporal dos ataques aos Xokleng ainda provoca dor na comunidade.
Em entrevista à BBC News Brasil por telefone, Brasílio Pripra, de 63 anos e uma das principais lideranças Xokleng, chora ao falar de um massacre ocorrido em 1904 contra seus antepassados.
"As crianças foram jogadas para cima e espetadas com punhal. Naquele dia, 244 indígenas foram covardemente mortos pelo Estado", afirma.
O episódio foi descrito no jornal já extinto Novidades, de Blumenau, citado em artigo do jurista Flamariom Santos Schieffelbein na revista eletrônica argentina Persona, em 2009.
"Os inimigos não pouparam vida nenhuma; depois de terem iniciado a sua obra com balas, a finalizaram com facas. Nem se comoveram com os gemidos e gritos das crianças que estavam agarradas ao corpo prostrado das mães. Foi tudo massacrado", relata o jornal.
Pripra diz ter crescido ouvindo histórias como essa.
"Eu choro, me emociono. Sou neto de pessoas que ajudaram a trazer a comunidade 'para fora', a fazer o contato (com não indígenas). É por isso que luto."
Texto original: BBC Brasil
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57656687
Governos do PT contribuíram para ascensão política das Forças Armadas
Os governos do PT, comandados pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rouseff (2011-2016), permitiram o aumento da militarização do Ministério da Defesa, representando uma "oportunidade perdida" de ampliar o controle civil sobre os militares
BBC Brasil
Essa é a conclusão de um levantamento feito pelos professores Juliano Cortinhas (Universidade de Brasília) e Marina Vitelli (Universidade Federal de São Paulo), recém-publicado em artigo na Revista Brasileira de Estudos e Defesa.
Na avaliação da dupla, a falta de uma política dos governos petistas para fortalecer a hierarquia civil sobre as Forças Armadas contribuiu para que os militares se sentissem à vontade para assumir maior protagonismo político nos últimos anos, em especial nos governos de Michel Temer (2016-2018) e do atual presidente, Jair Bolsonaro.
Embora o Ministério da Defesa tenha sido criada em 1999, com o objetivo de ampliar a subordinação das Forças Armadas ao poder civil mais de uma década após o fim da Ditadura Militar (1964-1985), levantamento do professores mostra que durante as gestões petistas houve aumento do número de servidores militares ocupando cargos na pasta, com predomínio nas funções de maior hierarquia.
"Ao longo dos anos do PT, o ministério foi militarizado, com a entrada de mais militares em termos percentuais do que civis. Com isso, os militares controlam todo o processo de construção da política de Defesa do Brasil, o que é inadequado", disse Cortinhas à BBC News Brasil.
A partir de dados do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações do Cidadão (e-SIC), o artigo analisa a evolução do perfil dos servidores entre 2006 e 2016 (o ministério não disponibilizou dados de 2003 a 2005).
Os números revelam que houve um aumento de 60% nas posições do Ministério da Defesa (de 818 para 1309), mas o crescimento foi mais expressivo entre os cargos ocupados por militares.


















"Waldir Pires (terceiro ministro da Defesa petista) assumiu (em 2006) um ministério com igualdade de cargos de civis e militares. Ao entregar a gestão, Aldo Rebelo (último ministro petista) deixou um órgão bastante dominado pelos militares, que possuíam 730 cargos exclusivos, enquanto o total de cargos que poderiam ser ocupados por civis era de apenas 530. O aumento no número de cargos civis foi de 42,1%, enquanto a elevação dos cargos militares foi de 77,5%", diz o artigo.
Os dados indicam ainda que fenômeno foi mais intenso durante a gestão de Celso Amorim, diplomata que comandou a pasta na maior parte do primeiro mandato de Dilma. Ele assumiu o ministério "com 51,1% de cargos militares (453) e 48,9% de cargos civis (434) e entregou a gestão para (Jaques) Wagner com 54% de cargos militares (664) e 46% de civis (565)".

Além do aumento de cargos exclusivos para oficias das Forças Armadas, o levantamento revela ainda que, ao longo das gestões petistas, militares da ativa e da reserva passaram a ocupar mais funções abertas aos civis. Com isso, o percentual de civis na composição do ministério, que era de 42,4% em 2006, caiu ano após ano, até chegar a apenas 35% uma década depois.
Os professores também dividiram os cargos do ministério em três categorias hierárquicas (posições de nível superior, intermediário e inferior) e constataram um predomínio dos militares no topo da gestão da pasta.
Entre 2006 e 2016, os oficiais sempre ocuparam mais de 65% dos cargos de nível superior ou intermediário - enquanto os cargos de nível inferior sempre tiveram predomínio civil (menos de 40% de militares).
Esse quadro, acreditam, reflete a falta de uma carreira civil estruturada dentro do ministério. A criação dessa carreira estava prevista na Estratégia Nacional de Defesa desde 2008, mas nunca saiu do papel.
Para os professores, o PT e a classe política em geral parecem ter subestimado o interesse dos militares em voltar ao poder no país, o que levou as gestões petistas a não priorizar o fortalecimento civil do Ministério da Defesa.
Isso, dizem, trouxe duas consequências negativas. De um lado, representa um risco para a democracia, na medida em que os militares se sentem mais à vontade para atuar politicamente. E, de outro, significa uma política de defesa menos eficiente, na medida em que a gestão das Forças Armadas acaba muitas vezes sequestrada pelos interesses corporativistas de cada uma delas (Exército, Aeronáutica e Marinha), em vez de ser conduzida por uma coordenação civil mais ampla.
Embora não tenha sido foco de análise do artigo, os professores citam ainda como outro aspecto da gestão petista que contribui para esse quadro o aumento do emprego de militares em atividades civis, como segurança pública, com as Operações de Garantia da Lei e da Ordem, ou em ações sociais, como distribuição de água no Nordeste (Operação Pipa).
"Os governos do PT simbolizam uma etapa da vida política brasileira no qual o Brasil já tinha passado vários anos de regime democrático e as Forças Armadas não tinham tanto poder sobre as autoridades civis. Então, era um momento mais propício para o sistema político impor a sua autoridade legal na política de defesa. Mas isso não aconteceu", afirma Marina Vitelli, ao argumentar que houve uma "oportunidade perdida" nos governos Lula e Dilma.
"Se a gente tivesse construído as instituições necessárias para o controle civil naquela época, em que isso era possível politicamente falando, hoje provavelmente não teríamos os absurdos que estamos acompanhando no nosso dia a dia: excesso de militares no governo, muitos benefícios e super salários. Tudo isso tem relação com o fato de que não foi feito o dever de casa em tempos de um governo mais progressista", também acredita Cortinhas.
O professor cita dados de outros países para ilustrar como o controle civil sobre as Forças Armadas é mais amplo em democracias consolidadas.
"França e Reino Unido têm Forças Armadas menores do que as nossas, são cerca de duzentos mil militares apenas, ou seja, quase metade do nosso contingente de 370 mil. Mas os ministérios da Defesa, tanto da França quanto do Reino Unido, têm mais de sessenta mil servidores civis, enquanto o nosso ministério da Defesa tem cerca de 1.500 servidores no total, sendo que dois terços são militares", compara.
"Então, são estruturas de sessenta mil servidores construindo as políticas de defesa, fazendo os processos orçamentários. Quem define quais equipamentos as Forças Armadas vão ter não são as Forças Armadas, é o ministério da Defesa, porque esses equipamentos são projetados e planejados a partir das necessidades do país e não das necessidades de uma das Forças Armadas", explica ainda.
'Ministros tinham pouca autoridade sobre os militares'
Além de investigar a distribuição dos servidores no órgão, o artigo também analisa os perfis dos sete ministros que comandaram a Defesa nos governos petistas - José Viegas Filho (diplomata), José Alencar (político), Francisco Waldir Pires (político), Nelson Jobim (político e jurista), Celso Amorim (diplomata), Jaques Wagner (político) e Aldo Rebelo (político).
Os professores reconhecem que o cargo tem natureza política e é legítimo que não seja ocupado por um técnico da área. Mas apontam que nenhum dos que comandou a pasta nos governos do PT tinha conhecimento aprofundado em Defesa, o que, avaliam, comprometia sua legitimidade perante os militares, assim como sua capacidade de gestão.
Hoje coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional da UnB, Cortinhas acompanhou de dentro a política de Defesa no governo Dilma. Primeiro, atuou na Assessoria de Defesa da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República entre 2012 e 2013. E, depois, foi chefe de gabinete do Instituto Pandiá Calógeras, órgão de assessoramento estratégico do Ministério da Defesa, entre 2013 e 2016.

Diante da fraqueza da pasta, nota Cortinhas, o que se vê no país é uma grande autonomia de cada uma das três Forças (Exército, Marinha e Aeronáutica) e uma falta de coordenação da política de Defesa.
"São três burocracias e, por vezes, elas entram em conflitos orçamentários. E a tendência de alguém que não conheça profundamente a pasta, que não tem uma visão sobre o que são os militares e como eles devem agir no sistema político brasileiro, é ter dificuldade pra ser o árbitro dessas disputas. Então, temos um cenário muito ruim: um ministério fraco, com instituições fracas, e ministros com pouco conhecimento sobre o tema", nota ele.
"Então, o Exército por exemplo coloca na Política Nacional de Defesa que a prioridade é a (proteção da) Amazônia. E aí o seu principal, mais caro projeto estratégico, é um veículo blindado, o Guarani. Não faz sentido. O que o blindado tem de relação com a Amazônia? E a gente não tem um ministro da Defesa que pergunte isso de forma séria, a gente não tem no Congresso pessoas preparadas também pra fazer essa (questionamento)", acrescenta.
Apesar da crítica ao perfil dos ministros petistas, os professores reconhecem a importância de todos eles terem sido civis. Foi a partir do governo Michel Temer que a pasta passou a ser comandada por um militar, se afastando completamente do propósito inicial de executar o controle civil sobre as Forças Armadas.
Bolsonaro não só manteve a pasta sob controle de generais do Exército, como deu o comando de outros ministérios civis a militares. Até mesmo a Casa Civil, pasta que tem função de coordenar a gestão federal, foi por mais de um ano comandada pelo general Braga Netto, recentemente deslocado para chefiar a Defesa.
A estreita relação com as Forças Armadas tem gerado receio de que o presidente possa tentar algum movimento autoritário caso perca as eleições de 2022 — as pesquisas de intenção de voto apontam que hoje Lula lidera a corrida pelo Palácio do Planalto.
Bolsonaro tem indicado que pode não aceitar o resultado do pleito, por desconfiar da segurança da urna eletrônica, embora não exista qualquer prova de fraude envolvendo o sistema de votação atual.
"Na democracia, o ministro da Defesa representa o presidente na política de Defesa. Claro, vai ter um diálogo com as Forças Armadas, mas sempre com uma relação hierárquica, de cima pra baixo. E está acontecendo o contrário: quando você coloca o ministro da Defesa militar ele passa a ser o representante das Forças Armadas no governo. Isso é completamente fora da lógica", critica Marina Vitelli.

Para a professora, qualquer presidente que suceder Bolsonaro terá como enorme desafio lidar com Forças Armadas tão fortalecidas. Se Lula realmente vencer, sua expectativa é que o petista buscará uma negociação.
"No curto prazo, você precisa negociar, só que no médio e longo prazo é fundamental pra democracia impor essa subordinação militar às autoridades civis. Mas tenho minhas dúvidas em relação até que ponto os partidos políticos entendem a relevância de impor esse controle civil. Então, a gente não vê indícios de que a situação vai mudar radicalmente mesmo com uma vitória do PT", acredita.
Embora os governos do PT tenham sido marcados por aumento do orçamento das Forças Armadas e da presença militar no ministério da Defesa, a relação entre os dois lados terminou bastante estremecida, dado o inconformismo dos militares com a Comissão da Verdade, criada na administração Dilma para investigar os crimes da ditadura.
Celso Amorim questiona conclusão dos professores
Procurado pela BBC News Brasil, o ex-ministro Celso Amorim defendeu as gestões petistas da Defesa. Ele ressaltou que, em sua administração, buscou criar novas estruturas que fortalecessem o comando civil da pasta.
Foi o caso da Secretaria-Geral (SG), órgão ao qual ficaram submetidas as demais secretarias e que foi pensado para ser ocupado por um civil, servindo de contraponto ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. A partir da gestão de Aldo Rebelo, porém, a SG passou a ser comandada por militares.
Amorim citou também o Instituto Pandiá Calógeras, criado para assessoramento estratégico, com fortes laços com a academia, e integralmente ocupado por civis.
No artigo, os professores reconhecem esses avanços institucionais, mas consideram que seu impacto foi menos relevante diante do aumento da presença militar na pasta.

Sobre o fato de a carreira civil do ministério não ter saído do papel, Amorim disse que houve resistência no Ministério da Planejamento por questões orçamentárias.
O ex-ministro questionou as conclusões dos professores de que as gestões petistas contribuíram para o atual cenário de protagonismo dos militares no governo Bolsonaro.
"Dizer que os governos (do PT) não ampliaram o espaço dos civis e portanto os militares continuaram ocupando posições importantes na área da Defesa é uma conclusão. Agora, dizer que isso facilitou que eles passassem pra área civil, não tem absolutamente nada a ver. O Bolsonaro se cercou de militares porque são as únicas pessoas que ele conhece e nas quais ele acha que pode mandar", argumentou.
Quanto ao uso frequente das Forças Armadas em operações de Garantia da Lei e da Ordem, Amorim reconheceu que o tema "merecia uma certa revisão", mas ponderou que os pedidos para uso dos militares na segurança pública costumavam partir dos próprios governadores, inclusive em momentos de greves de policiais.
Fonte: BBC Brasil
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58265150
NE: mudança do clima acelera criação de deserto do tamanho da Inglaterra
O último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), divulgado em 9/8, reforça que o Brasil abriga uma das áreas do mundo onde a mudança do clima tem provocado efeitos mais drásticos: o Semiárido
João Fellet /BBC News Brasil em São Paulo
O relatório aponta que, por causa da mudança do clima, a região — que engloba boa parte do Nordeste e o norte de Minas Gerais — já tem enfrentado secas mais intensas e temperaturas mais altas que as habituais.
Essas condições, aliadas ao avanço do desmatamento na região, tendem a agravar a desertificação, que já engloba uma área equivalente à da Inglaterra (leia mais abaixo).
Criado na ONU e integrado por 195 países, entre os quais o Brasil, o IPCC é o principal órgão global responsável por organizar o conhecimento científico sobre as mudanças do clima.
O documento apresentado nesta segunda (AR6) é o sexto relatório de avaliação produzido desde a fundação do órgão, em 1988.
'Área seca mais densamente povoada'
"O Nordeste brasileiro é a área seca mais densamente povoada do mundo e é recorrentemente afetado por extremos climáticos", diz o relatório.
O IPCC afirma que essas condições devem se agravar: se na década de 2030 o mundo deve atingir um aumento de 1,5°C em sua temperatura média, em boa parte do Brasil os dias mais quentes do ano terão um aumento da temperatura até duas vezes maior.
Em várias partes do Semiárido, isso significa verões com temperaturas frequentemente ultrapassando os 40°C.
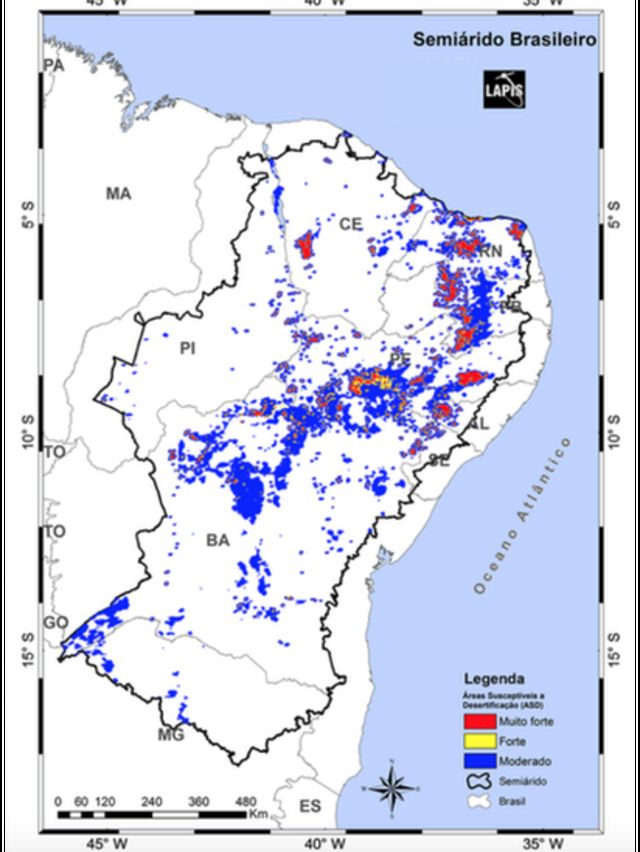
Hoje, segundo o IPCC, o mundo já teve um aumento de 1,1°C na temperatura média em relação aos padrões pré-industriais.
Para limitar o grau do aquecimento, é preciso que os países reduzam drasticamente as emissões de gases causadores do efeito estufa — como o gás carbônico, produzido pelo desmatamento e pela queima de combustíveis fósseis, e o metano, emitido pelo sistema digestivo de bovinos.
Morte da vida no solo
Para o meteorologista e cientista do solo Humberto Barbosa, professor da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), temperaturas extremas põem em xeque a sobrevivência no Semiárido de micro-organismos que vivem no solo e são cruciais para a existência das plantas.
Há dois anos, Barbosa diz ter encontrado temperaturas de até 48°C em solos degradados no interior de Alagoas.
"A vegetação não crescia mais ali, independentemente se chovesse 500 mm, 700 mm ou 800 mm. Não fazia mais diferença, pois toda a atividade biológica do solo não respondia mais", afirma.
Sem vida no solo, aquela região se tornou desértica, como tem ocorrido em várias outras partes do Semiárido.
Na Ufal, Barbosa coordena o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites (Lapis), que desde 2012 monitora a desertificação no Semiárido.
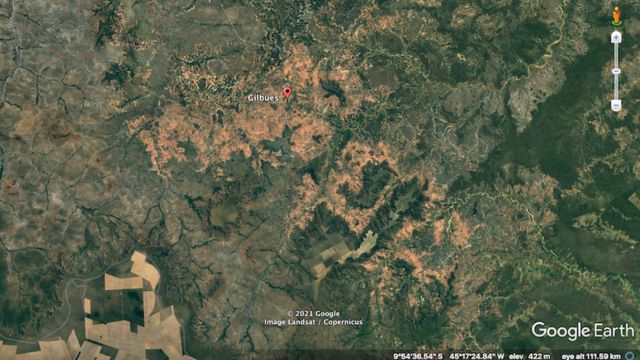
Em 2019, o laboratório revelou que 13% de toda a região estava em estágio avançado de desertificação. Essa área engloba cerca de 127 mil quilômetros quadrados.
"Na nossa região, naturalmente não haveria um deserto, só que a gente tem hoje um deserto", ele diz.
Barbosa explica: segundo a ciência, climas desérticos (ou áridos) são aqueles onde o índice de chuvas é inferior a 250 mm por ano. Nessas condições, a sobrevivência de plantas e animais é bastante difícil — daí o aspecto vazio de boa parte das paisagens desérticas.
Mas essas condições climáticas não se aplicam a nenhuma região do Brasil, nem mesmo o Semiárido, que continua a receber entre 300 mm e 800 mm de chuvas ao ano.
Ainda assim, a mudança do clima e o desmatamento criaram paisagens desérticas na região.
"O solo dessas regiões foi perdendo a atividade biológica, embora as chuvas continuem acima do que se espera para uma região desértica. Esse é o paradoxo", diz Barbosa.
Ele afirma que, nesse estágio, é praticamente impossível reverter o fenômeno. "O custo da recuperação de áreas desertificadas é alto, e no Brasil não temos capacidade econômica para fazer esse tipo de investimento."
Maior seca da história
Entre 2012 e 2017, o Semiárido enfrentou a maior seca desde que os níveis de chuva começaram a ser registrados, em 1850. Essa seca, que é atribuída às mudanças climáticas, ajudou a expandir as áreas desertificadas.
Barbosa diz que a pandemia dificultou a realização de viagens para medir o progresso da desertificação após 2019, mas tudo indica que o fenômeno segue avançando.
A área já desertificada equivale ao tamanho da Inglaterra, cerca de três vezes o tamanho do Estado do Rio de Janeiro, ou a 23 vezes a área do Distrito Federal. Essas terras não são todas contíguas e ocupam diferentes partes do Semiárido. Enfrentam, ainda, diferentes graus de desertificação, embora em todas o fenômeno seja considerado praticamente irreversível.
Alguns dos principais núcleos de desertificação ficam em Gilbués (PI), Irauçuba (CE), Cabrobó (PE) e no Seridó (RN).


Imagens de satélite mostram como os núcleos têm crescido nas últimas décadas, enquanto as áreas verdes que os circundam vão rareando.
No núcleo de Cabrobó, que ocupa uma vasta área nas duas margens do São Francisco, as poucas manchas verdes na paisagem se devem a lavouras irrigadas com a água do rio.
Os Estados mais impactados pela desertificação são Alagoas (com 32,8% de sua área total afetada pelo fenômeno), Paraíba (27,7%), Rio Grande do Norte (27,6%), Pernambuco (20,8%), Bahia (16,3%), Sergipe (14,8%), Ceará (5,3%), Minas Gerais (2%) e Piauí (1,8%).
Região mais impactada do Brasil
A desertificação no Semiárido brasileiro foi citada pelo IPCC em seu relatório anterior, de 2019, que teve o pesquisador Humberto Barbosa como coordenador de um capítulo sobre degradação ambiental.
O relatório apontou que 94% da região semiárida brasileira está sujeita à desertificação.
"A região semiárida é a mais impactada (pela mudança do clima) no Brasil, e é a região onde você tem os índices de desenvolvimento humano mais baixos do país", afirma Barbosa.
Com o agravamento das condições climáticas, diz ele, tende a se acelerar o êxodo de moradores rumo a outras partes do país.
Os preocupantes sinais que unem frio recorde no Brasil a enchentes e calor pelo mundo
O papel do desmatamento
Para os cientistas, está claro que a desertificação tem sido acentuada pelas mudanças climáticas e tende a aumentar se as alterações continuarem se intensificando.
Porém, a degradação dos solos do Semiárido também se deve a outra ação humana: o desmatamento na Caatinga, o ecossistema natural da região.
Segundo Humberto Barbosa, ainda não se sabe quanto da desertificação se deve ao desmatamento e quanto se deve às mudanças climáticas. "É muito difícil separar os dois processos."
Quarto maior bioma do Brasil, abarcando 11% do território nacional, a Caatinga já perdeu 53,5% de sua cobertura original, segundo o MapBiomas, plataforma que monitora o uso do solo no país.
O bioma vem sendo destruído desde os primeiros séculos da colonização do Brasil, quando grandes áreas de vegetação nativa passaram a ser derrubadas para dar lugar principalmente a pastagens para bovinos.
A pecuária, aliás, é apontada com uma das principais causas para a desertificação no Semiárido.


O pesquisador Humberto Barbosa explica que, muitas vezes, os bois são criados em áreas relativamente pequenas, compactando o solo ao pisoteá-lo repetidas vezes.
Com o tempo, nem mesmo o capim cresce mais ali, e a terra fica totalmente exposta à radiação do sol. A degradação se completa quando a chuva atinge a terra nua, levando embora os últimos nutrientes do solo.
Embora a destruição venha ocorrendo há séculos, mais de um quarto do desmatamento da Caatinga ocorreu após 1985, segundo o MapBiomas.
E neste ano, os índices de desmatamento deram um salto preocupante. Segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), até 1° de agosto, houve na Caatinga 2.130 focos de queimadas— o maior número em nove anos e uma alta de 164% em relação ao mesmo período de 2020.
- Mudanças climáticas: cinco coisas que descobrimos com novo relatório do IPCC
- Por que a Caatinga vive explosão em número de queimadas
Os focos se concentram no oeste do bioma, onde a Caatinga se encontra com o Cerrado na região de fronteira agrícola conhecida como Matopiba (nome formado pelas iniciais dos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).
Como em outros biomas, o fogo é geralmente usado na Caatinga para "limpar" uma área antes do plantio. Mas as chamas acabam degradando o solo e limitam sua vida útil para a agricultura, estimulando a busca por novas áreas quando ele se esgota.
Falta de políticas públicas
Humberto Barbosa diz que, apesar da gravidade da situação enfrentada pelo Semiárido e da perspectiva de piora, não há qualquer plano governamental para mapear a desertificação e combatê-la.
A última iniciativa do governo federal nesse campo, afirma, foi o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAN), lançado em 2006, mas descontinuado.
Tampouco há um sistema nacional para monitorar o desmatamento na Caatinga e orientar ações de fiscalização e controle — diferentemente do que ocorre na Amazônia, que conta com os sistemas Prodes e o Deter, baseados em imagens de satélite.
E o futuro?
Segundo o relatório do IPCC, sem ações contundentes para conter a mudança do clima, a Caatinga e outras regiões semiáridas do mundo "vão muito provavelmente enfrentar um aquecimento em todos os cenários futuros e vão provavelmente enfrentar um aumento na duração, magnitude e frequência das ondas de calor".
"De forma geral, as secas se ampliaram em muitas regiões áridas e semiáridas nas últimas décadas e devem se intensificar no futuro", diz o texto.
Os maiores prejudicados pelas mudanças serão as populações locais: segundo o IPCC, elas tendem a enfrentar oscilações na quantidade e regularidade de água, o que impactará gravemente sua "segurança alimentar e prosperidade econômica".
Fonte: BBC Brasil
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58154146
Mata Atlântica mudará mais até 2050 do que nos últimos 21 mil anos
A Mata Atlântica brasileira é um dos lugares com maior diversidade biológica do planeta. Aproximadamente uma em cada 50 espécies de plantas e animais terrestres vertebrados vive lá — e em nenhum outro lugar
Oliver Wilson / The Conversation / BBC Brasil
Estendendo-se por 3.000 km ao longo de grande parte da costa brasileira e pelo interior até a Argentina e o Paraguai, sua incrível diversidade vem de um mosaico de diferentes ecossistemas, incluindo pastagens naturais, florestas tropicais, florestas antigas adaptadas ao frio do inverno, "florestas nubladas" montanhosas e enevoadas, e muito mais.
Mas sua surpreendente biodiversidade está correndo um sério risco: o bioma foi destruído por vários séculos de desmatamento e mudanças de habitat.
Agora, as perturbações que estamos causando nos sistemas climáticos da Terra ameaçam, nas próximas décadas, causar mais rupturas aos ecossistemas da Mata Atlântica do que qualquer mudança natural em muitos milhares de anos.
Já restam apenas fragmentos de Mata Atlântica. Somente um quarto da área florestal remanescente está a mais de 250 metros de um terreno descampado — isso é uma caminhada de três minutos, pelo asfalto.
Mais de 80% de sua vegetação natural foi destruída desde que os europeus chegaram ao Brasil, e alguns ecossistemas da Mata Atlântica têm 50% de chance de entrar em colapso nos próximos 50 anos.
O aquecimento global acrescenta outra ameaça.
O clima da Terra sempre mudou, mas as rupturas neste século provavelmente serão maiores e acontecerão mais rápido do que qualquer coisa que a humanidade já testemunhou.
Temperaturas mais altas e precipitações mais variáveis serão um desafio particular no sul da Mata Atlântica, onde os ecossistemas compreendem um delicado equilíbrio de espécies — algumas dos trópicos quentes, outras adaptadas a invernos gelados, mas quase todas dependentes de umidade constante.
Estudar o passado para prever o futuro
Como as mudanças climáticas do século 21 vão afetar o sul da Mata Atlântica?
Tenho trabalhado com colegas no Reino Unido, Suécia e Brasil para descobrir, e colocar o próximo meio século de mudanças num contexto de 21 mil anos.
Olhar para o passado pode parecer uma escolha surpreendente, mas fornece os melhores — talvez os únicos — dados concretos que temos sobre como os seres vivos reagem a grandes mudanças climáticas.
Nos últimos 21 mil anos, as peculiaridades na órbita da Terra levaram nosso planeta do pico da última Era do Gelo ao período de calor do Holoceno.
Se pudermos encontrar ecos das condições futuras em milênios passados e desvendar como as espécies e os ecossistemas responderam a eles, podemos melhorar nossas previsões sobre o que o futuro nos reserva.
Para fazer isso, nosso estudo reuniu reconstruções e projeções de climas passados e futuros, dados sobre 30 espécies-chave de florestas e pastagens e várias dezenas de locais onde mudanças anteriores no clima e na vegetação foram registradas (como pólen fossilizado enterrado em camadas de lama do pântano).
O que descobrimos é profundamente preocupante.
Como era de se esperar, nossos dados mostraram que o sul do Brasil tem esquentado gradualmente desde a última Era do Gelo.
Quase toda a região tinha um tipo de clima semelhante às áreas montanhosas de hoje há 21 mil anos — temperado com verões quentes —, mas essa zona climática diminuiu com o tempo, e as planícies passaram a ter um tipo de clima mais quente.
Enquanto isso, uma zona de clima de floresta tropical permaneceu restrita à costa norte da região, avançando e recuando ao longo dos anos.
Mas, sem o controle das emissões de carbono, cada tipo de clima mudará mais nos próximos 50 anos do que em qualquer um dos períodos nos últimos 3 mil anos que analisamos.
O aumento das temperaturas globais vai fazer com que o tipo de clima mais quente das planícies se expanda ainda mais e mais rápido do que se expandiu em milênios.

A vasta expansão do clima de floresta tropical pode fazer com que ele surja em áreas que não existia desde antes da última Era do Gelo.
E, expulsas das áreas que ocuparam desde o início do nosso estudo, as condições mais frias das montanhas vão encolher para sua menor extensão em mais de 21 mil anos.
Mas o que essas mudanças drásticas no clima significarão para a Mata Atlântica em si?
Uma coisa é certa, não vai ser simples. Espécies e ecossistemas mudam de maneira confusa ao longo do tempo.
Surpresas ecológicas são comuns, especialmente quando o clima é muito diferente do atual — as espécies podem prosperar inesperadamente em condições que atualmente evitam, ou podem formar grupos diferentes de todos os que conhecemos hoje.
Nosso estudo encontrou várias evidências de mudanças na composição dos ecossistemas do sul da Mata Atlântica ao longo do tempo, assim como dois períodos com grandes extensões de comunidades vegetais curiosas e inesperadas. Eles ocorrem nos momentos de maior mudança climática.
O primeiro aconteceu há cerca de 12 mil anos, quando o mundo saiu do último período glacial e entrou no Holoceno, mais quente. O segundo pode acontecer durante a minha vida.
Na década de 2070, as terras ao norte e ao leste de nossa região de estudo podem perder espécies adaptadas ao frio que abrigou por 21 mil anos ou mais — como a antiga e icônica Araucária, um fóssil vivo —, a serem substituídas por árvores tropicais mais tolerantes ao calor em um arranjo que é raro no presente.
Nossos modelos sugerem que mais de 100.000 km² do sul da Mata Atlântica passariam por mudanças em sua composição de espécies, impulsionadas pelo clima, no século 21 de altas emissões do que em qualquer outro momento nos últimos 21 mil anos.
Preocupantemente, encontramos indícios de que essas mudanças já podem estar em andamento, com as comunidades vegetais adaptadas ao calor começando a empurrar suas vizinhas adaptadas ao frio morro acima.
Nosso estudo fornece uma maneira útil de compreender a Mata Atlântica brasileira — o que aconteceu com ela antes, assim como o que pode acontecer a seguir.
Mas nossos resultados também revelam as limitações de nos basear em cenários passados — mesmo ao longo de dezenas de milhares de anos — para compreender os efeitos do nosso futuro climático radicalmente alterado pelo homem.
Apesar dos séculos de devastação causada pelo desmatamento, parece que o teste mais difícil para o sul da Mata Atlântica ainda está por vir.
* Oliver Wilson é aluno de doutorado em ciências ambientais na Universidade de Reading, no Reino Unido.
Este artigo foi publicado originalmente no site de textos acadêmicos The Conversation e republicado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia aqui a versão original (em inglês).
Fonte: BBC Brasil
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58059276
Bolsonaro tem mais chance que Trump de pôr eleição em xeque
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) parece seguir a cartilha de Donald Trump ao mobilizar esforços para desacreditar o sistema eleitoral, mas, na visão do professor de Relações Internacionais Benjamin Teitelbaum, o brasileiro tem mais chances de sucesso do que o ex-presidente americano
Nathalia Passarinho / BBC News Brasil
Professor da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, Teitelbaum é autor do livro Guerra pela Eternidade (Unicamp, 2020), sobre a corrente de pensamento que inspirou Steve Bannon, ex-conselheiro de Trump, e Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo radicado no Estado americano da Virgínia.
STF autoriza investigação contra Bolsonaro no inquérito das fake news - o que acontece agora
Em entrevista à BBC News Brasil, Teitelbaum disse considerar Bolsonaro uma ameaça mais concreta à democracia que Trump. Para ele, o presidente brasileiro parece ter uma estratégia mais elaborada, semeando um ano antes da eleição a ideia de que as urnas eletrônicas poderiam ser fraudadas.
Quando Trump se viu diante da iminente derrota na eleição de 2019, ele começou a fazer, sem provas, acusações de fraudes e erros na contagem dos votos. O sistema de votação americano é em papel. Em 2018, Bolsonaro já lançava dúvidas sobre a segurança do sistema brasileiro, que é eletrônico. Mas, neste ano, reforçou os ataques às urnas eletrônicas, incentivando protestos e sugerindo que, se o sistema não for mudado, pode não haver eleição no ano que vem.
"Acho que os dois (Bolsonaro e Trump) tinham o objetivo de criar oportunidades de manobra diante de um eventual resultado eleitoral desfavorável. Mas, no caso de Trump, sinto que ele estava improvisando, não tinha um plano claro", disse. "No caso de Bolsonaro, há uma tentativa mais séria e sincera de gerar um clima de desconfiança na população. O que ele está fazendo não é tentar encontrar uma abertura legal para rejeitar um resultado eleitoral, mas sim criar um ambiente político, uma abertura política.
Especialista na extrema-direita e estudioso de movimentos populistas e nacionalistas contemporâneos, Teitelbaum avalia que a ideia de Bolsonaro é preparar terreno e fomentar apoio popular para, em 2022, colocar em xeque o resultado da eleição se for derrotado.
"Acho que ninguém gosta de dizer que está dando um golpe, ainda mais alguém que já está no poder. Mas sim. Trata-se de uma forma de criar oportunidades políticas para rejeitar o resultado de uma votação", disse à BBC News Brasil.
Segundo o professor americano, três características tornam o Brasil mais suscetível que os Estados Unidos à estratégia usada por Trump e por Bolsonaro de espalhar, sem provas, a ideia de fraudes nas eleições: o fato de ser uma democracia mais recente; a postura ambígua das Forças Armadas; e a existência de "ambiente" para que autoridades e apoiadores do presidente defendam abertamente regimes e ideias antidemocráticas, como o fechamento do Supremo.
Como análises matemáticas afastam hipótese de fraude nas urnas, ao contrário do que diz Bolsonaro
"Os Estados Unidos não têm essa história recente de mobilização dos militares na política doméstica. Esse passado recente de ditadura militar pode produzir mais tensão no caso brasileiro. A resposta pode ser maior vigilância por parte dos brasileiros ou, pelo contrário, maior receptividade a uma intervenção militar", disse Teitelbaum.
A BBC News Brasil entrou em contato com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto para comentar as declarações de Teitelbaum, que não respondeu até a publicação desta reportagem.
Leia a seguir os principais trechos da entrevista.
BBC News Brasil - Que semelhanças ou diferenças existem entre a contestação de Trump ao resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos e os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral do Brasil?
Benjamin Teitelbaum - À primeira vista, parece ser uma situação análoga, em que você tem um líder estruturando o palco, plantando a semente da dúvida sobre uma eleição que parece cada vez mais desfavorável para ele, se levarmos em consideração as pesquisas de opinião. Trump certamente estava na mesma situação. No entanto, o que mais me chama a atenção são as diferenças entre as duas situações. No caso do Brasil, estamos lidando com uma democracia mais jovem e, ao mesmo tempo, com um processo eleitoral que é melhor que o dos Estados Unidos. Você tem mais pessoas votando e você conta os votos muito mais rapidamente. Então, há marcadores democráticos que apontam o Brasil como um caso menos problemático quanto ao risco de fraude eleitoral.
Então, temos uma democracia mais jovem, um robusto padrão de participação democrática e temos um líder que tem falado sobre golpes e tomada de poder por militares há muito tempo e que transformou em hábito celebrar a ditadura militar e lançar dúvidas ao processo eleitoral. Donald Trump, quando ele começou a semear dúvidas sobre o processo democrático, não era como se isso fosse uma parte da sua persona por décadas, como foi para Bolsonaro. Então, há uma diferença na aura de seriedade e intencionalidade no caso de Bolsonaro, que não se tinha com Trump.

BBC News Brasil - O objetivo final de Trump e Bolsonaro era o mesmo em lançar dúvidas sobre o processo eleitoral?
Teitelbaum - Acho que os dois tinham o objetivo de criar oportunidades de manobra diante de um eventual resultado eleitoral desfavorável. Essa é uma forma gentil de dizer que eles estavam criando espaço para rejeitar o resultado eleitoral. Mas eu sinto que, no caso de Trump, ele estava improvisando. Não me parece que ele tivesse um plano ou visão claros de como as coisas ficariam se ele tivesse conseguido ampla desconfiança no resultado eleitoral. Ele conseguiu em parte isso na invasão do Capitólio, em 6 de janeiro. Mas, por mais dramático que tenha sido esse episódio, ele foi um caminho sem volta para Trump. Ele não tinha plano, ele não tinha uma estratégia legal para fazer isso (se manter no poder).
No caso de Bolsonaro, os anos de elogios dele ao golpe militar e o fato de a democracia brasileira ser relativamente jovem dão um significado diferente para a estratégia de semear dúvidas sobre o processo eleitoral. Há uma seriedade maior nisso. Me parece que é algo mais pensado da parte de Bolsonaro. E é mais plausível pensar que um líder brasileiro encontre uma maneira de, numa democracia relativamente jovem, rejeitar o resultado eleitoral.
'Semipresidencialismo só agravaria crise política no Brasil', diz constitucionalista português
BBC News Brasil - Então, na sua avaliação, seria plausível pensar que Bolsonaro está preparando terreno para se opor ao resultado eleitoral ano que vem, promovendo algum tipo de golpe? Ou esse seria um termo forte demais?
Teitelbaum - Ele está tornando isso mais provável. Acho que ninguém gosta de dizer que está cometendo um golpe, ainda mais alguém que já está no poder. Por isso que o termo parece estranho. Mas sim. Trata-se de uma forma de criar oportunidades políticas para rejeitar o resultado de uma votação.

BBC News Brasil - Falta mais de um ano para a eleição presidencial no Brasil. Quais os possíveis motivos para iniciar com antecedência essa mobilização contra o processo eleitoral eletrônico?
Teitelbaum - Isso mostra que, no caso de Bolsonaro, há uma tentativa mais séria e sincera de gerar um clima de desconfiança na população. O que ele está fazendo não é tentar encontrar uma abertura legal para rejeitar um resultado eleitoral negativo, mas sim criar um ambiente político, uma abertura política.
Se você tem uma porção grande da população que não ratifica a legitimidade de um processo democrático, isso é um problema. Você pode alcançar um ponto em que não importa que eles estejam errados. Democracia exige confiança por parte da população. Se 40% da população rejeitar a legitimidade de um governo ou de uma eleição, isso cria oportunidades para o perdedor da eleição manobrar e recobrar o poder. Não sei exatamente como ele faria isso, mas trata-se de uma forma de criar oportunidades políticas.
BBC News Brasil - Com relação aos eleitores americanos e brasileiros, há diferenças no clima ou no discurso dos apoiadores de Bolsonaro que tornariam mais provável um desfecho favorável ao presidente brasileiro que o obtido por Trump?
Teitelbaum - Uma coisa interessante nos Estados Unidos é que, mesmo quando a eleição estava sendo contestada, os próprios adeptos dessa ideia diziam que estavam fazendo isso para garantir a democracia, o voto justo. Não queriam dispensar a democracia. No caso de Bolsonaro, ele não defende o valor democracia ao criticar o modelo atual de democracia moderna. Ele diz, 'queremos uma votação híbrida, com voto em papel e eletrônico'. Esse não é o problema em si.
Mas temos outras declarações dele defendendo outras formas de governo ou o regime militar. E isso mostra que, além de não estar comprometido com a democracia liberal, ele não se sente pressionado a se apresentar como a verdadeira versão da democracia liberal, mas como uma alternativa à democracia liberal.
BBC News Brasil - Mas nos Estados Unidos, não havia por parte de adeptos de Trump e do próprio presidente rejeição a valores democráticos?
Teitelbaum - Com certeza havia algum tolo que dizia que houve fraude na eleição e que os militares deveriam atuar para corrigir isso. E Trump pode até ter flertado com a ideia, mas essa não era, de maneira alguma, parte representativa da conversa. O discurso prevalente era: 'Achamos que essa votação foi incorreta e queremos uma nova votação'. Eles se vendiam como pessoas lutando pela integridade e legitimidade da democracia. Se queremos dar a eles o benefício da dúvida, pelo menos, eles se sentiam pressionados a se afirmar como defensores da democracia.
BBC News Brasil - Isso quer dizer que a democracia brasileira está mais sob ameaça com as atitudes do presidente Bolsonaro que a democracia americana esteve sob Trump, quando houve contestação das eleições?
Teitelbaum - Sim. Isso tem a ver com consenso. Olavo de Carvalho mesmo escreveu que democracia é sobre administrar discordâncias, é sobre ter uma série de consentimentos de base. Quando essa fundação começa a ruir, o fato de não vermos isso acontecer nos Estados Unidos… O fato de não vermos ruir um comprometimento ideológico com a democracia ou uma democracia republicana cair, isso era tranquilizador. Mas esse não é o caso no Brasil.
O legado e comprometimento com a democracia é mais recente no Brasil e menos sedimentado. Falamos de hegemonia quando uma ideia é entendida como senso comum, como estando para além de preferências políticas. Em muitas democracias modernas, a democracia goza dessa hegemonia, não questionamos a validade dela, mesmo se odiamos o governo atual. Se isso começa a se tornar condicional, se dizemos que gostamos da democracia apenas nessa ou naquela circunstância, entramos em terreno diferente.
Ciro Nogueira é confirmado ministro: saiba quem é ex-lulista que se junta ao governo Bolsonaro
BBC News Brasil - De que maneiras Trump pode ter influenciado ou inspirado Bolsonaro, mesmo não tendo sido bem-sucedido em contestar a eleição americana?
Teitelbaum - Uma conclusão pode ser a de que Trump não pressionou o suficiente, não se preparou o suficiente ou não preparou terreno a tempo para que a contestação da eleição fosse bem-sucedida. Portanto, eu preciso começar agora (a semear dúvidas sobre o sistema eleitoral) e pressionar mais fortemente.
BBC News Brasil - Que diferenças há na resposta das Forças Armadas americanas e do Brasil às ambições de Trump e de Bolsonaro?
Teitelbaum - Os Estados Unidos não têm essa história recente de intervenção e participação dos militares na política doméstica. A conclusão não é que os Estados Unidos sejam imunes a isso. Talvez sejamos menos vigilantes. Mas, pelo menos, isso não está em pauta, não há conversas sobre possibilidades de intervenção militar na política. Pelo menos, não num nível nacional. Portanto, essa história recente de ditadura militar pode produzir mais tensão no caso brasileiro. A resposta pode ser maior vigilância por parte dos brasileiros e instituições ou, pelo contrário, maior receptividade a uma intervenção militar.

BBC News Brasil - Quais os possíveis resultados dessa estratégia de Bolsonaro?
Teitelbaum - Vamos supor que Lula vença. Se uma fatia considerável da população não aceitar o resultado, não acreditar que ele foi legítimo, eu não sei o que isso significa hoje. Podemos olhar para o passado. Em outras democracias jovens, isso gerou conflito militar, insurgência civil, movimentos separatistas… Mas pode também gerar um cenário completamente novo. Não é possível prever o que acontecerá se uma fatia considerável da população decidir que democracia não funciona para eles, e acho que esse vai ser o resultado (no Brasil).
BBC News Brasil - A candidatura de Lula e a polarização entre o petista e Bolsonaro alimentam essa estratégia do presidente?
Teitelbaum - Sim, essa é minha opinião. De certa maneira, com relação a esse aspecto especificamente, você pode comparar Lula a Hillary Clinton. Você tem uma reação negativa de parte da sociedade. Há a pessoa perfeita para simbolizar tudo o que essa parcela da população odeia num governo. Lula cumpre bem esse papel. Há atualmente um movimento anti-establishment (antissistema). E Trump e Bolsonaro tiveram sorte de concorrerem contra pessoas que personificavam o establishment, o sistema. Não tenho certeza se Trump teria ganhado de Bernie Sanders quando se elegeu em 2016, porque Sanders não servia tão bem ao papel de personificar o sistema, um sistema visto como corrupto. Lula é muito popular e parece capaz de vencer Bolsonaro. Mas os ingredientes estão lá para que Bolsonaro use Lula como essa figura.
Fonte: BBC Brasil
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58079438
Luiz Gama: Textos inéditos mostram como abolicionista denunciava violência policial
Um caso bárbaro de violência chocou o advogado abolicionista Luiz Gama em 1880. Quatro jovens negros e escravizados se apresentaram à delegacia de uma vila da cidade fluminense de Paraíba do Sul, que hoje se chama Três Rios, na divisa com Minas Gerais. Ao delegado, eles confessaram ter matado o filho do seu senhor — um homem rico e dono de muitos cativos
Leandro Machado / BBC News Brasil
Matar o senhor e voluntariamente confessar o crime era comum à época. Muitos negros preferiam a prisão à escravidão, que vivia seu período final e só seria abolida pela Lei Áurea oito anos depois, em 13 de maio de 1888. Mas a punição da Justiça aos quatro jovens foi diferente neste caso.
Segundo Luiz Gama, as autoridades policiais, ao saberem do assassinato, chamaram a população da cidade à delegacia. Compareceram 300 pessoas armadas e sedentas de vingança pelo assassinato de um membro importante da sociedade. A polícia então abriu as portas da delegacia.
Leia também: A desconhecida ação judicial com que advogado negro libertou 217 escravizados no século 19
Em um texto publicado em um jornal da época, Gama narra as cenas de barbárie que se seguiram. Ironicamente, ele pede aplausos aos linchadores, a quem chama "patriotas armados":
" (...) E, aí, a virtude exaspera-se, a piedade contrai-se, a liberdade confrange-se, a indignação referve, o patriotismo arma-se, trezentos concidadãos congregam-se, ajustam-se, marcham direitos ao cárcere e aí (oh! é preciso que o mundo inteiro aplauda), à faca, a pau, à enxada, a machado, matam valentemente a quatro homens; menos ainda, a quatro negros; ou, ainda menos, a quatro escravos manietados em uma prisão!"
Esse texto, um dos mais conhecidos do abolicionista, faz parte das Obras Completas de Luiz Gama que serão lançadas nos próximos dias pela editora Hedra, um acontecimento importante para os estudos do abolicionismo, da escravidão e do pensamento do advogado. Serão dez volumes com 750 textos, mais de 600 deles inéditos, segundo a editora. O material, que também contém teses jurídicas, nunca tinha vindo a público depois de publicados em jornais da época ou processos judiciais.
Os textos foram garimpados pelo historiador Bruno Rodrigues de Lima, doutorando em História do Direito na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e pesquisador do Instituto Max Planck. Lima estuda a vida e a obra de Luiz Gama há mais de uma década e descobriu a maioria dos artigos em arquivos públicos espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

A obra vem à luz em um momento de crescente interesse por Luiz Gama, um ex-escravo que se tornou tipógrafo, jornalista, dono de jornal, poeta, escrivão de polícia, abolicionista e advogado autodidata que, usando apenas a lei, libertou centenas de pessoas da escravidão no século 19.
Nos últimos anos, uma série de publicações tem resgatado seu legado, como o livro Lições de resistência: artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro (Edições Sesc), lançado no ano passado e organizado pela pesquisadora Lígia Fonseca Ferreira.
Na quinta-feira (5/8), estreia o filme Doutor Gama, baseado na vida do abolicionista e dirigido pelo cineasta Jeferson De. O ator César Mello interpreta o advogado no longa.
Crônica policial
Parte dos textos inéditos revelados agora reforçam uma característica de Gama pouco conhecida do grande público: além de advogado que lutava contra a escravidão nos tribunais, ele foi um dos primeiros jornalistas que se dedicaram a denunciar nos jornais a violência sofrida pela população negra do país, principalmente no Estado de São Paulo.
Leia também: O herói da 2ª Guerra Mundial que ficou sem condecoração por ser negro
"Gama era uma espécie de cronista da violência e da cidade", explica Bruno Lima, que escreveu milhares de notas explicativas sobre os textos no calhamaço de 5 mil páginas das Obras Completas do advogado. "Como ele viajava bastante para atuar nos tribunais, ficava sabendo de casos que aconteciam em muitas comarcas de São Paulo. Ele usava os jornais para fazer essas denúncias, que, em alguns casos, até viraram processos em que ele mesmo atuava."
Muito antes do jornalismo policial ter importância na imprensa brasileira, Gama escreveu sobre casos de violência policial, espancamentos, invasão de domicílio e assassinatos. "Ele sempre teve como mote a denúncia da violência da escravidão, mas também a violência racista sofrida pela comunidade negra que já era livre", diz Lima.
Segundo o historiador, o caso dos quatro jovens espancados até a morte não é importante apenas como registro histórico, mas também para entender o pensamento de Gama em relação à escravidão.
Há uma frase atribuída ao ativista, embora ele nunca tenha escrito exatamente dessa forma: "O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata, sempre, em legítima defesa".

"Esse conceito aparece muitas vezes na obra de Gama. Ele acreditava que, como a escravidão era uma violência contra o direito natural e inalienável do homem, o escravizado não só podia matar o seu senhor, como tinha razão moral de fazê-lo. Para Gama, os criminosos não eram os quatro jovens, mas o senhor que os escravizava. Então, quando mataram o senhor, eles praticaram um direito natural à legítima defesa contra essa primeira violência. Para Gama, eles eram as vítimas", explica Lima.
No texto, o jornalista diz invejar os "quatro Spartacus" envolvidos no assassinato do fidalgo. Spartacus, escravo que liderou uma revolta contra o Império Romano, é um personagem importante na trajetória do Gama, que assinou vários de seus artigos com esse nome. Ele também escreveu sob o codinome de John Brown, em referência a um abolicionista americano que liderou uma revolta armada contra a escravidão, no século 19.
Segundo Lima, a escolha dos heterônimos não foi aleatória: era uma característica do projeto abolicionista e literário de Gama. "Ele se colocava nessa posição, não apenas de um advogado que trabalhava com as leis, mas de um escritor que radicalizava os conceitos e a prática. Uma pessoa que enxergava a resistência radical à escravidão como uma saída", diz.
Leia também: História apagou o quanto os africanos escravizados enriqueceram o Brasil, diz Laurentino Gomes
Para Marcelo Ferraro, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), Gama foi nos últimos anos celebrado por movimentos conservadores em contraponto a nomes do movimento negro ligados a uma resistência guerreira, como Zumbi dos Palmares. Isso porque Gama ainda é visto como um ativista "moderado".
"Mas essa é uma visão equivocada da trajetória dele. Gama tinha um pensamento radical, de enfrentamento da escravidão com uso da reação como legítima defesa. Esse texto sobre o linchamento dos jovens deixa explícita essa ideia", explica.
Segundo Ferraro, o linchamento dos "quatro Spartacus" era uma "violência nova" no Brasil do século 19: esse tipo de crime era mais comum nos Estados Unidos.
"Nessa época, em 1880, esse tipo de violência já era contestada e criticada entre as classes mais esclarecidas, que já se colocavam contra a escravidão em alguns jornais que não pertenciam às elites escravocratas. José do Patrocínio também fazia denúncias parecidas nos jornais do Rio. Era para esse público que Gama e outros abolicionistas escreviam", diz Ferraro, que pesquisa violência e escravidão no Brasil e nos Estados Unidos.
'Não é permitido ao negro divertir-se'

Um dos textos inéditos de Luiz Gama, revelado agora pelo historiador Bruno Rodrigues de Lima, conta outra história de abuso policial contra a população negra de São Paulo.
Em uma curta crônica no jornal Gazeta do Povo em junho de 1881, Gama relatou que um moçambicano livre chamado Joaquim Antonio tinha sido autorizado pela polícia a dar uma festa em casa. Na época, pessoas negras precisavam informar e até pagar às autoridades pelo direito de realizar alguma comemoração.
"O africano livre Joaquim Antonio, morador ao marco da Meia Légua, obteve do digno sr. capitão Almeida Cabral, subdelegado do distrito, licença para dar um divertimento. Já não é pouco: neste país clássico da liberdade não é permitido ao negro divertir-se, em sua casa, sem licença da polícia!", escreveu Gama, sempre com um toque irônico ao falar do Brasil.
O texto não diz exatamente onde ocorria a festa. Mas, segundo Lima, provavelmente foi no Brás, Zona Leste de São Paulo, bairro à época de periferia e ocupado principalmente por trabalhadores negros livres. "Os marcos de meia légua demarcavam a distância de 3,3 km de cada ponto cardeal com a praça da Sé. Gama e sua família viviam nessa região. Provavelmente, ele soube do caso porque era vizinho do africano", diz o historiador.
O jornalista continua a crônica: o moçambicano Joaquim Antonio festejava com os amigos dentro de casa quando escutou um chamado da polícia do lado de fora, pedindo para que ele interrompesse o encontro.
Leia também: Madame Satã, o transformista herói para a contracultura e vilão para bolsonaristas
"Joaquim Antonio fechou a sua porta e continuou a divertir-se, com outros seus amigos negros. A patrulha arrombou a porta, penetrou na casa (era meia noite!), saqueou-a, mediante rigorosa busca, prendeu o africano livre, que reclamara contra o ato e, em seguida, arrombou mais duas casas de africanos, sem fundamento nem razão!", relatou Gama.
Ele finaliza a crônica com um alerta às autoridades: "A pessoa que isto escreve está de tudo bem informada; e já instruiu aos pretos que, em análogas circunstâncias, repilam a agressão a ferro e à bala. O exmo. sr. dr. chefe de polícia tem meios de impedir desaforos desta ordem. Sabemos, pelo seu nobre caráter, que é incapaz de autorizar tropelias tais".
Para Lima, a crônica tinha também um caráter de "petição jurídica", porque Gama endereçou o texto ao chefe de polícia de São Paulo, além de citar o capitão responsável pelo caso e o nome da vítima da agressão.
"Há uma estrutura de petição de direito. Gama ainda avisa que, como advogado, instruiu as vítimas a atirar nos policiais caso ocorresse uma nova invasão ilegal. Isso é o abolicionismo negro radical, fincado na defesa armada", explica o historiador.
Crimes atuais
Os textos de Gama sobre crimes e abusos no século 19 apontam para um problema que ainda hoje assombra a sociedade brasileira: a violência policial. No ano passado, por exemplo, 6.416 pessoas foram mortas pelas forças de segurança no país, segundo relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Público. É um recorde histórico.

Desse total, 78,9% das vítimas eram negras e 76,2% tinham entre 12 e 29 anos. Das 50 mil mortes violentas registradas no Brasil no ano passado, 76,2% tiveram pessoas negras como vítimas - 54% da população brasileira é formada por negros (pretos e pardos), segundo o Instituto Brasileiro de Geografoa e Estatística.
Essa proporção desigual se repete quando os policiais são as vítimas: 62,% dos 194 policiais mortos violentamente no ano passado também eram negros.
Para Lívio Rocha, investigador da Polícia Civil de São Paulo e mestre em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas, a violência denunciada por Luiz Gama demonstra que, já no século 19, as forças de segurança tinham como projeto a proteção e o cuidado da elite branca e rica, em detrimento da população pobre e negra, muitas vezes tratada com brutalidade.
"A violência estatal é uma característica da história do Brasil. Ela passa pela Monarquia, por Getúlio Vargas, pela ditadura militar e pela democracia. É um problema estrutural, que independe se o governo é de esquerda, de direita, de centro. Nunca houve interesse político em tornar a polícia mais democrática", diz Rocha, que também é pesquisador na Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
"A formação do policial não é crítica. Discussões sobre racismo e direitos humanos são feitas de maneira formalista e protocolar, sem espaço para reflexão sobre a atuação do policial. Costumo perguntar para meus colegas: quantos chefes negros você já teve na polícia? São muito poucos. Os policiais negros também são os que mais morrem no trabalho, mas o próprio policial não fala sobre isso", diz Rocha, que também milita no movimento negro.
Morrer livre
Luiz Gama morreu em 24 de agosto de 1882. Portanto, depois de décadas militando contra a escravidão, o advogado e jornalista não viu a abolição completa que só viria pela Lei Áurea.

Pouco mais de um ano antes, ele escreveu uma crônica, redescoberta por Lima, sobre uma escravizada que "sonhava em morrer livre". Para isso, ela guardou dinheiro durante a vida para comprar sua liberdade, como tinha direito de fazer.
"Há mais de um ano a preta Brandina, maior de 70 anos, escrava do fazendeiro sr. Barbosa Pires, do distrito de Pirassununga, requereu a alforria por meio de retribuição pecuniária e exibiu, com a sua petição, pecúlio regularmente constituído, no valor de 200$000 em dinheiro", começa Gama.
Mas, dessa vez, o obstáculo para a liberdade não era só o senhor de escravos, mas a Justiça. O fidalgo, "para evitar maus exemplos" contra seu direito patrimonial, não aceitou a libertação de Brandina. O caso chegou ao tribunal. "Os juízes, que não apreciam monomania emancipadora e dão razão ao sr. Barbosa Pires, não depositaram a libertanda, deixaram-na em poder do senhor", conta Gama.
Mas a história de Brandina, impedida pela Justiça de gozar uma morte livre, não termina aí.
"Brandina, a desgraçada velha candidata à mortalha, para evitar os rigores do cativeiro, no derradeiro quartel da vida, fugiu da casa do senhor, meteu-se pelos matos, já que não encontrou juízes humanos nas povoações, no seio das sociedades civilizadas", escreveu Luiz Gama.
Fonte:
BBC Brasil
http://BBC Brasil https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58034244
Caatinga vive explosão em número de queimadas
Nem Amazônia, nem Pantanal, nem Cerrado: o bioma brasileiro com maior crescimento no número de queimadas em 2021 até agora é a Caatinga
João Fellet /BBC News Brasil
Segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), houve até 1º de agosto 2.130 focos de fogo no bioma — o maior número em nove anos e uma alta de 164% em relação ao mesmo período de 2020.
Os focos se concentram no oeste do bioma, onde a Caatinga se encontra com o Cerrado na região de fronteira agrícola conhecida como Matopiba (nome formado pelas iniciais dos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).
Especialistas atribuem o crescimento das queimadas à expansão da agricultura na região e à antecipação do período seco, fenômeno que pode estar ligado às mudanças climáticas e tende a se intensificar.
Entre 1985 e 2019, o tamanho da área desmatada na Caatinga cresceu 27,4%.
Hoje, há ainda 46,5% da vegetação nativa original do bioma, segundo o MapBiomas, plataforma que monitora o uso do solo no Brasil.
Fogo e desertificação
Como em outros biomas, o fogo é geralmente usado na Caatinga para "limpar" uma área antes do plantio.
O problema é que as chamas acabam intensificando a degradação do solo do bioma, que já é naturalmente pobre. E isso limita sua vida útil para a agricultura e estimula a busca por novas áreas quando ele se esgota. Além disso, muitas vezes o fogo foge do controle.
Segundo o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), 13% da Caatinga está em processo avançado de desertificação. E as queimadas são uma das principais causas dessa desertificação, ao lado do desmatamento, do pastoreio intenso e das mudanças climáticas.
A Caatinga é o quarto maior bioma brasileiro, abarcando 11% do território nacional e parte dos seguintes Estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais.
A região tem clima semiárido e vegetação adaptada a a secas intensas.
Em 2021, o Piauí foi o Estado com mais focos de incêndio na Caatinga (32,3%), seguido pela Bahia (26,1%), Ceará (16,8%), Pernambuco (8%), Rio Grande do Norte (6,8%), Paraíba (3,9%), Sergipe (2,2%), Alagoas (2,1%), Minas Gerais (1,4%) e Maranhão (1,1%).
Entre os dez municípios com mais focos, seis ficam no Piauí. O primeiro da lista, Floriano (PI), responde por um quarto de todas as queimadas ocorridas na Caatinga em 2021.
Convivendo com o Semiárido

João Evangelista Santos Oliveira é o coordenador no Piauí da ASA (Articulação do Semiárido Brasileiro), uma rede de associações rurais que pregam a convivência com o Semiárido em oposição ao conceito de "combate à seca", que por décadas norteou as políticas públicas para a região.
Segundo ele, o período chuvoso deste ano se encerrou mais cedo que o normal, o que tem facilitado a ocorrência de queimadas.
Oliveira diz que o fogo costuma ser ateado de forma intencional para preparar a terra para o plantio.
As queimadas, segundo ele, são provocadas tanto por pequenos agricultores, que seguem métodos tradicionais, quanto por grandes proprietários, que buscam expandir cultivos mecanizados de commodities agrícolas, como soja, milho e algodão.
Mas muitas vezes as chamas fogem do controle e atingem áreas vizinhas. Os incêndios são alimentados pela grande quantidade de folhas secas na vegetação nativa nesta época do ano.
Oliveira afirma que pequenos agricultores têm sido orientados a substituir os métodos tradicionais que empregam queimadas por técnicas agroecológicas.
"Estamos tentando desconstruir o mito de que, com as queimadas, os solos ficam férteis", diz Oliveira, que é também o representante no Piauí da Cáritas, um braço da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
Nas técnicas agroecológicas, a matéria orgânica não é queimada, e sim deixada sobre o solo, o que ajuda a mantê-lo úmido e amplia sua fertilidade.
Já o combate às queimadas ligadas à expansão da fronteira agrícola exige maior empenho dos órgãos de fiscalização, defende Oliveira.
Avanço do agronegócio no Piauí
Imagens de satélite mostram o avanço do agronegócio rumo ao interior do Piauí. No sudoeste do Estado, boa parte do Cerrado original já deu lugar a grandes plantações de soja, milho e algodão.
Oliveira diz que, quando as áreas de Cerrado disponíveis no Estado começaram a rarear, grandes proprietários rurais passaram a comprar terras mais a leste, na transição entre o Cerrado e a Caatinga.
"Agora, já começamos a ver soja na Caatinga", ele diz.
Floriano (PI), município que lidera o ranking de queimadas na Caatinga em 2021, fica nessa faixa de transição.
Banhado pelo rio Parnaíba e com um subsolo rico em água, o município em tese teria condições de abrigar a agricultura mecanizada que já se difundiu pelo sul do Piauí.
Do alto, ainda não se veem na paisagem do município as grandes manchas delimitadas por linhas retas que sinalizam a agricultura mecanizada de larga escala.
As manchas mais próximas ficam na região de Bertolínia (PI), a 150 km a oeste de Floriano.
Mas o grande número de queimadas em Floriano pode ser um indício de que o agronegócio está chegando: o fogo pode estar sendo usado para "limpar" terras a serem ocupadas pelas grandes lavouras, diz Oliveira.
Embora alguns associem esse modelo apenas a progresso e desenvolvimento, ele diz que a chegada do agronegócio tende a acirrar conflitos por água, concentrar terras em poucas mãos e contaminar solos e rios com agrotóxicos.
Pequenos focos em grande quantidade

O desmatamento e as queimadas na Caatinga foram tema de uma audiência na Câmara dos Deputados, em 13 de maio de 2021.
O evento teve a presença do geólogo Washington Franca Rocha, professor do Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), na Bahia.
Rocha coordena um sistema de monitoramento de desmatamento e queimadas na Caatinga desenvolvido em parceria com a organização MapBiomas.
Segundo ele, 80,2% dos focos de queimada na Caatinga entre 2000 e 2019 ocorreram em "formações savânicas", tipo de vegetação semelhante à do Cerrado.
Rocha afirma que, diferentemente dos incêndios na Amazônia e no Pantanal, as queimadas na Caatinga costumam ocorrer em pequenos focos, mas em grande quantidade — o que pode refletir o menor tamanho médio das propriedades rurais no bioma.
Ele disse que as queimadas contribuem com o processo de desertificação na Caatinga.
"Quando falamos de desertificação, nos vem a imagem de montes de areia, mas o processo de desertificação é invisível", diz ele.
"É uma quebra de produtividade ecológica, na qual o solo não consegue mais sustentar a vida. Aquele cenário da areia é o estado mais avançado, onde a desertificação já é irreversível", afirma.
Normalmente, diz ele, o processo de desertificação na Caatinga segue o seguinte caminho:
1 - A vegetação nativa é desmatada;
2 - Ateia-se fogo para preparar a área para o plantio de capim;
3 - A área é usada como pastagem para bois, que a pisoteiam intensamente;
4 - Com o solo bastante compactado pelos animais, nem mesmo o capim consegue se desenvolver mais, e a área é abandonada.
Rocha afirma que as mudanças climáticas estão deixando o bioma mais quente e seco, o que deve "ampliar a desertificação e criar megaincêndios".
Ele diz que as mudanças já estão alterando a fauna da região: espécies de aves que antes viviam somente na Caatinga estão se deslocando para o Cerrado.
Outra participante da audiência na Câmara foi Francisca Soares de Araújo, professora de Biologia na Universidade Federal do Ceará (UFC).
Araújo disse que, com as mudanças climáticas, prevê-se o aumento da temperatura média e uma redução de 30% no volume de chuvas no Semiárido — fenômenos que já estão em curso, segundo ela.
A bióloga diz que as mudanças exigem o abandono de atividades econômicas dependentes de água.
Segundo Araújo, técnicas agrícolas podem até ser adaptadas para produzir num cenário de escassez e garantir alguma oferta de alimento aos moradores, mas não se pode esperar que a agricultura ou a pecuária sustentem a região.
Ela diz que o insucesso do modelo econômico atual tem feito com que muitos homens busquem trabalho em outras partes do país.
"Hoje na zona rural, predominam mulheres e idosos que vivem de subsídios governamentais, porque não há recursos naturais suficientes."
Araújo defende mudanças na legislação para que as famílias que vivem na região possam vender energia solar produzida em suas propriedades.
"Enquanto os governantes não pensarem em alternativas fora do pensamento tradicional, o Semiárido caminhará cada vez mais para a degradação", diz.
Fonte:
BBC Brasil
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58065453
'Incêndio na Cinemateca não é acidente',diz cineasta Luiz Bolognesi
Após repetidos alertas sobre risco de fogo, cineasta Luiz Bolognesi pede responsabilização das autoridades e diz que comunidade artística internacional está chocada. "Cinematecas guardam o acervo audiovisual de um povo."
Para o cineasta Luiz Bolognesi, o fogo que atingiu parte do acervo da Cinemateca Brasileira na quinta-feira (29/07) não se trata de um acidente – diante dos avisos repetidos e insistentes de que a entidade estava abandonada e que havia risco de incêndio – mas de um crime administrativo, pelo qual as autoridades competentes precisam ser responsabilizadas.
"Estamos diante de um crime administrativo, de a pessoa não cumprir a função para a qual tem um salário e atribuições. Precisa de uma investigação e está na hora de as pessoas responderem pelos crimes", afirma Bolognesi em entrevista à DW Brasil.
Ele disse que o ocorrido na Cinemateca é uma "tragédia" e que a comunidade artística internacional está "chocada". "Cinemateca de qualquer país é tratada com muito cuidado. É onde está depositado o acervo audiovisual de um povo", diz.
O cineasta, que venceu uma mostra da Berlinale deste ano pelo filme A última floresta, sobre o povo Yanomami, afirma que o governo Jair Bolsonaro, como todo governo com "tendência totalitária", tem um "projeto político" para "destruir o cinema".
Bolognesi: "Vem sendo avisado há mais de um ano que as estruturas estão abandonadas"
"A arte é o âmbito da diversidade e sempre foi questionadora. Se você tem um governo de esquerda, a arte questiona o governo de esquerda. Se tem um governo de direita, a arte questiona o governo de direita. E um governo que está o tempo todo ameaçando o Supremo, o Congresso, as eleições, é um governo que tem uma tendência totalitária, e esses governos procuram sempre destruir a cultura. Porque você não controla o artista", afirma.
Ele diz que o "salto quântico" na degradação da Cinemateca coincide com a gestão Bolsonaro, e identifica um problema semelhante na Agência Nacional de Cinema (Ancine), que é financiada por tributos recolhidos de produtores de conteúdo e de empresas de telecomunicação, mas não tem destinado recursos para obras brasileiras. "Há ali também desvio do objetivo, porque eles arrecadam os recursos, pagam os salários dos funcionários, mas não fazem a finalidade de fomento", diz.
O secretário especial de Cultura, Mario Frias, que está em Roma para uma conferência dos ministros da Cultura do G20, postou mensagem no Twitter culpando a gestão petista pelo descaso na Cinemateca e disse que solicitou perícia da Polícia Federal para apurar o motivo do incêndio.
Como você avalia o incêndio no acervo da Cinemateca?
A comunidade artística sente isso como uma tragédia, inclusive a comunidade internacional, que está chocada porque uma cinemateca de qualquer país é tratada com muito cuidado. Seja nos Estados Unidos, no México, na França, na Alemanha. É onde está depositado o acervo audiovisual de um povo. Depois que a gente já teve um incêndio no Museu Nacional, agora temos um incêndio que queimou uma parte do acervo da Cinemateca. A gente já sabe que tinham negativos de curta metragem, parece que de longas metragens também. Toda uma história de Embrafilme, do Instituto Brasileiro de Cinema, toneladas de documentos que contam a nossa história, é gravíssimo.
Agora, isso não é um acidente, vem sendo avisado há mais de um ano que as estruturas estão abandonadas. Uma coisa é a Cinemateca não funcionar legal porque não tem investimento. Mas o mínimo, manter uma equipe que permita que o acervo de um país não se incendeie, não tem como não ter. O custo não é elevado nem discutível.
Trata-se de um crime, e tem que ser responsabilizado criminalmente quem foi avisado ao longo de um ano... Há nove dias, a Procuradoria da República notificou o governo do perigo iminente de um incêndio e nenhuma atitude foi tomada. Na minha opinião, estamos diante de um crime administrativo, de a pessoa não cumprir a função para a qual tem um salário e atribuições. Precisa de uma investigação e está na hora de as pessoas responderem pelos crimes.
Nesta sexta, um dia após o incêndio, o governo publicou edital para contratar uma entidade para gerir e preservar o acervo da Cinemateca. O que isso indica?
Eles já estão com medo da responsabilização jurídica. Acho que algumas autoridades, agora orientadas por seus advogados, sabem que correm risco. E aí falam "estávamos em processo, não deu tempo". É isso, medo da responsabilidade judicial, é uma omissão administrativa, muito grave.
O descaso que você menciona é resultado de um projeto ou de pouca capacidade administrativa?
A minha interpretação, pelo conjunto da obra, pela paralisação da Agência Nacional de Cinema, que não está mais fazendo fomento, pelo abandono da Cinemateca, pelo abandono da Funarte [Fundação Nacional de Artes], o corte de verbas para a universidade, o corte de investimentos em ciência e tecnologia, parece que é um projeto de um governo que está atacando frontalmente a cultura, a ciência e a inteligência brasileira. Me parece que é um projeto político.
Em relação à Cinemateca, não era a hora de já ter todo o acervo digitalizado?
A Cinemateca estava em um processo lento e contínuo de digitalização do acervo, que foi totalmente interrompido. Essa é uma tendência de todas as cinematecas, guardar e preservar as suas fontes originárias, sejam películas dos anos 1920, sejam fitas magnéticas de 1970, e guardar uma cópia digital que fica para a eternidade. A gente está muito atrasado nesse processo se for comparar com a Cinemateca do México, a francesa ou a alemã.
Além de parar a digitalização, cortaram-se os investimentos a ponto de não ter profissionais e tecnologia suficiente para impedir a destruição de um material que é extremamente delicado e sensível ao fogo. As películas pegam fogo quase como álcool, todo mundo sabe que existem mil cuidados para guardar esse material. Isso vinha sendo denunciado e se agravou muito desde o início do governo Bolsonaro.
Qual é o marco temporal da piora na administração da Cinemateca?
O abandono maior realmente começa com o governo Bolsonaro. A Cinemateca vinha tendo um tratamento melhor sendo construído, passamos algumas crises de redução de investimento no governo Dilma [Rousseff], que a turma da cultura reclamou, mas o salto quântico no abandono, a ponto de todo mundo falar "está para pegar fogo" e o cara não fazer nada até o dia que pega fogo, coincide com as mudanças que foram feitas a partir do governo Bolsonaro, que retirou todo mundo que tinha lá e largou tudo abandonado.
O povo do cinema tentou manter a Cinemateca funcionando com recursos não federais, levantando recursos, e o Ministério da Cultura entrou com uma ação e, com o uso da Polícia Federal, tirou o povo do cinema e disse "vocês não vão cuidar de nada, porque isso é um equipamento que tem uma vinculação com o Poder Federal e nós vamos cuidar".
De forma geral, como o governo Bolsonaro lida com o cinema brasileiro?
O governo Bolsonaro tenta destruir o cinema brasileiro. Porque a arte é o âmbito da diversidade, traz um pensamento complexo e sempre foi questionadora. Se você tem um governo de esquerda, a arte questiona o governo de esquerda. Se tem um governo direita, a arte questiona o governo de direita. E um governo que está o tempo todo ameaçando o Supremo, o Congresso, as eleições, é um governo que tem uma tendência totalitária, e esses governos procuram sempre destruir a cultura. Porque você não controla o artista.
No âmbito do cinema, a Agência Nacional de Cinema parou de fazer fomento. Os recursos do audiovisual brasileiro não vêm de Lei Rouanet nem do Orçamento. Tem um imposto criado na época da privatização das empresas de telefonia pelo governo Fernando Henrique [Cardoso] que teria que ser utilizado para o desenvolvimento da indústria de informática e o audiovisual. Até hoje esse recurso é recolhido e direcionado, [entre outras finalidades] para que a Agência Nacional de Cinema faça a política de fomento. Desde que o governo Bolsonaro chegou, o dinheiro entra e sai a conta gotas. Há ali também desvio do objetivo da agência, porque eles arrecadam os recursos, pagam os salários dos funcionários, mas não fazem a finalidade de fomento.
Qual é a situação atual do audiovisual brasileiro?
O audiovisual brasileiro é muito potente. Com esse imposto criado no governo Fernando Henrique e regularizado no governo Lula, o Brasil estava entre os dez maiores produtores de audiovisual do planeta, quando o governo Bolsonaro começa. Não é pouca coisa, estamos do lado de quem produz muito e barato, por um custo em dólar extremamente competitivo, e somos um dos maiores consumidores de streaming do planeta, como Netflix e Amazon. Então, apesar de a Ancine ter paralisado a nossa produção autoral, a indústria do audiovisual continua resistindo e produzindo porque os players estrangeiros viram uma oportunidade de produzir séries e filmes de qualidade, tanto na dramaturgia como tecnicamente.
Uma parte da indústria está sobrevivendo trabalhando para players americanos, mas estamos perdendo o nosso próprio patrimônio audiovisual, porque por meio da Ancine as produtoras brasileiras eram detentoras dos produtos feitos aqui, dirigíamos a linguagem do que queríamos fazer. Hoje a indústria brasileira está trabalhando para os players estrangeiros, não totalmente porque tem a Globoplay e alguns outros.
Mas o objetivo do governo era quebrar toda uma indústria que tem cerca de 60 mil empregos diretos e 300 mil indiretos porque a cultura vai contra o projeto totalitário. Uma economia de R$ 25 bilhões, maior que a do turismo em termos de faturamento. O incêndio na Cinemateca é só uma manifestação absurda de toda uma política de destruição de uma indústria e de uma memória.
Fonte:
DW Brasil
https://www.dw.com/pt-br/inc%C3%AAndio-na-cinemateca-n%C3%A3o-%C3%A9-acidente/a-58710325
Como Copa, Olimpíada e Bolsonaro implodiram imagem do Brasil no exterior
Quando o Rio de Janeiro foi escolhido em 2009 para sediar a Olímpiada de 2016, o clima era de grande entusiasmo. Seria, aparentemente, uma grande oportunidade de divulgar o Brasil, atrair investimentos e turismo internacional
Nathalia Passarinho / BBC News Brasil
Imagens do ex-presidente Lula e do ex-jogador de futebol Pelé pulando de alegria e até chorando circularam nos meios de comunicação. Três anos antes, em 2006, o Brasil já havia sido escolhido para ser sede da Copa do Mundo em 2014.
Com esses dois megaeventos internacionais, o país seria notícia no mundo todo. E foi. Mas, contrariamente ao senso comum, essa "ampla divulgação" provocou efeito inverso do esperado: marcou o início da derrocada da imagem do Brasil no exterior.
Pelo menos é o que revelam dados obtidos pela BBC News Brasil da pesquisa Anholt-Ipsos Nation Brands, que mede a percepção das pessoas sobre os países em áreas como governança, exportação, cultura e população.
O estudo, encomendado pelo consultor britânico de políticas públicas Simon Anholt, é feito desde 2005 por uma das maiores empresas de pesquisa de opinião pública do mundo, a Ipsos Mori.Pule Talvez também te interesse e continue lendo
Anholt, que já atuou como conselheiro de governantes de 56 países, disse à BBC News Brasil que a Olimpíada e a Copa do Mundo serviram de publicidade negativa ao Brasil porque o mundo passou a conhecer mais sobre a pobreza, a desigualdade social, a violência e a corrupção existentes no país.
Por quase dez anos, o Brasil vivenciou "estabilidade" na sua marca externa, ou seja, na forma como era visto pelo mundo. No entanto, justamente nos anos em que o país sediou os dois grandes eventos esportivos internacionais, houve uma piora acentuada na percepção externa em relação ao país, conforme os dados da pesquisa Nation Brands.
Mas como isso aconteceu?
Holofote sobre o Brasil mostrou 'demais'

Simon Anholt explica que quando um país sedia jogos de envergadura internacional, o noticiário do mundo inteiro passa a fazer matérias sobre a nação-sede. Nesse bojo, entra de tudo: aspectos da história, política, segurança, economia etc. Ou seja, no caso do Brasil, as reportagens jogaram os holofotes não apenas nos aspectos positivos, como cultura e belezas naturais, mas também nos problemas econômicos e sociais.
Em 2014, ano da Copa do Mundo, o Brasil vivia o início de uma prolongada crise econômica. Em 2016, ano da Olimpíada do Rio de Janeiro, a Operação Lava Jato avançava, implicando políticos de peso no esquema de corrupção da Petrobras. Enquanto isso, o Senado estava prestes a confirmar o impeachment da presidente Dilma Rousseff.
A ampla divulgação do Brasil durante os dois campeonatos internacionais ajudou a derrubar, segundo Anholt, uma imagem "mistificada e irreal" que grande parte do mundo tinha do país — de aberto, tolerante, alegre e voltado à música e ao futebol.
"A Copa do Mundo e a Olimpíada foram, de certa maneira, um despertar para a realidade das ideias afetivas que as pessoas tinham do Brasil", disse à BBC News Brasil.
"Havia, pelo menos fora da América, uma ideia romântica equivocada do tipo de país que o Brasil é, focado no futebol, samba, cachaça."
Anholt diz que o fato de a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016 terem sido eventos bem-sucedidos, sem intercorrências graves, não mudou em nada o impacto negativo que os holofotes provocaram.
O Brasil gastou mais de R$ 41 bilhões para fazer a Olimpíada do Rio de Janeiro e outros R$ 26 bilhões para a Copa do Mundo.
"As pessoas já esperam que os eventos sejam bem-sucedidos. O que surpreendeu as pessoas foram as evidências da pobreza, desigualdade, violência, corrupção. E elas meio que não estavam esperando por isso", diz Anholt, que é autor de seis livros sobre marca e imagem internacional dos países. "O mito do Brasil era o de que ele seria um país muito mais desenvolvido e progressista. Eu me refiro à percepção fora da América Latina."
O que mostram os dados
O Brasil figura na posição 30 do ranking Nation Brands, que mede a percepção no exterior de 50 países, entre os quais Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil e Argentina. A Alemanha é o país mais bem avaliado, seguido pelo Reino Unido.
Para fazer a lista, são ouvidas mais de 20 mil pessoas de todas as faixas etárias, poder econômico e nacionalidades. Elas respondem a 50 perguntas sobre diferentes aspectos de um país — de qualidade do governo a belezas naturais e turismo. O recorte representa 70% da população mundial e 80% da economia global.
Os resultados não são divulgados ao público — são vendidos a governos e grandes empresas. Mas Anholt compartilhou com a BBC News Brasil dados relativos ao Brasil.

Desde 2008, o país possuía uma "nota geral" estável, mas no ano da Copa do Mundo houve uma queda forte na percepção das pessoas sobre o Brasil em todos os aspectos, inclusive "cultura", que é a área de melhor pontuação.
Em 2015, houve uma leve recuperação, mas a Olimpíada de 2016 provocou uma deterioração ainda maior na imagem do Brasil no exterior, principalmente no quesito "governança", que avalia a competência de um governo nacional e a percepção internacional sobre o seu comprometimento com questões globais, como paz, segurança, desigualdade e meio ambiente.
Simon Anholt explica que o mesmo fenômeno ocorreu na África do Sul, que sofreu queda acentuada na sua "marca internacional" após a Copa do Mundo de 2010. O evento, assim como a Copa e a Olimpíada realizados no Brasil, foi um "sucesso". Mas as horas e horas de reportagens sobre o país africano deterioraram a sua imagem, em vez de promovê-lo no imaginário mundial.
"Quando tem Olimpíada e Copa do Mundo, a imprensa internacional vai a esse país e tem que preencher a grade de notícias entre os jogos. E o que eles fazem é mostrar o país-sede e a cidade-sede. São horas e horas de vídeos sobre o país, e as pessoas assistem", destaca Anholt, que também é professor de Ciência Política da Universidade de East Anglia, no Reino Unido.
"O conhecimento sobre Brasil e África do Sul era limitado e, em alguns casos, romantizado, entre o público internacional. Mas agora elas estão vendo o Brasil e a África do Sul e pensam: 'meu Deus, esses são países em desenvolvimento, com pobreza, violência e corrupção'. E a imagem se deteriora em função disso."
Queda ainda maior com o governo Bolsonaro
Desde a última queda acentuada na sua imagem internacional em 2016, o Brasil iniciou uma recuperação. Mas, de 2019 em diante, após o início do governo Jair Bolsonaro, a "marca" ou imagem externa do país parece ter entrado em queda livre, conforme os dados do Nation Brands.
"A derrocada na imagem partir de 2019 é a mais significativamente negativa já registrada pelo Nation Brands Index. Isso tem correlação com o governo Bolsonaro, reação do governo à pandemia e ao furor internacional diante das queimadas na Amazônia", explica Anholt.
O pior desempenho do Brasil é no quesito governança, que mede a percepção sobre a competência do governo — o Brasil figura em 44º no ranking nesse tópico. O melhor desempenho é em "cultura", que mede a apreciação do mundo à música, filme, esporte, arte e literatura de um país. Nessa área, o Brasil aparece na décima posição no ranking.

Segundo o consultor de políticas públicas britânico, líderes nacionalistas como Donald Trump, Bolsonaro ou Viktor Órban, da Hungria, podem ser populares em seus países, mas não costumam gozar de boa imagem internacional.
"Em geral, pessoas não gostam de líderes com o estilo do presidente Bolsonaro. Domesticamente, pode haver um apelo, mas internacionalmente eles não costumam ser populares", diz.
"Se formos comparar com Trump, ambos os líderes usavam o mesmo 'manual' e Trump era dramaticamente impopular no exterior, embora fosse muito popular entre parte da população americana."
A BBC News Brasil encaminhou e-mail para o Itamaraty pedindo comentário sobre essas declarações e sobre o resultado do Brasil no ranking e aguarda resposta.
Efeito pandemia
A postura negacionista do governo federal brasileiro diante da gravidade da pandemia também contribuiu, segundo Anholt, para prejudicar a "marca Brasil" em 2020.
"Em geral, as pessoas não estão tão interessadas assim em como outros países lidam com a pandemia, elas querem saber da pandemia no próprio país. A não ser que haja algo que chame muita atenção. E, nesse caso, novamente há o fator Bolsonaro", diz o professor de política.
"Você tem um presidente que, aparentemente copiando Trump, diz que isso não é nada, é um mito, é uma trapaça. E isso é chocante. Essas são as questões que afundaram a imagem do Brasil. Não é algo permanente, mas levará tempo para uma recuperação."
Imagem está piorando entre jovens estrangeiros
Um fenômeno que o Nation Brands Index capta é que a imagem do Brasil no exterior está se deteriorando mais rapidamente entre os jovens, principalmente por causa da posição atual do governo Bolsonaro em relação a direitos de minorias e proteção da Amazônia.
O discurso do presidente de abrir a floresta para a mineração e de minimizar desmatamento e queimadas teve um impacto forte entre o segmento de 18 a 29 anos, diz Anholt. Essa faixa etária é a que posiciona o Brasil pior no ranking de "governança", em 45º entre 50 países.
"O entendimento claro é que Bolsonaro não promoveria um diálogo construtivo com a comunidade internacional sobre proteção do meio-ambiente. E, recentemente, a imprensa internacional mostrou horas e horas de imagens de árvores na Amazônia queimando", lembra.
"Foram imagens poderosas. Principalmente entre os jovens a bandeira da luta contra mudanças climáticas é cada vez mais forte."
Qual o impacto de ter uma imagem externa ruim?
Segundo Simon Anholt, a imagem de um país no exterior tem impacto profundo em diferentes aspectos — de turismo e atração de investimentos externos, ao poder de influenciar decisões políticas no cenário internacional.
"A imagem de um país afeta até mesmo a capacidade de fechar acordos. O Reino Unido ou a União Europeia pode, por exemplo, não se empenhar em fechar um acordo comercial com o Brasil porque os jovens eleitores desaprovam a conduta do governo brasileiro em relação à Amazônia", exemplifica.

É o que está ocorrendo com o amplo acordo comercial negociado entre o Mercosul e a União Europeia. Em vários países europeus, a aprovação da proposta nos parlamentos sofre resistência por causa da imagem negativa da política ambiental do governo brasileiro.
Mas Anholt enxerga o "despertar" do mundo para a realidade do Brasil, iniciado na Copa do Mundo de 2014 e na Olimpíada de 2016, como "positivo a longo prazo".
"De certa forma, ainda que seja prejudicial à imagem, é bom que as pessoas comecem a enxergar o Brasil de maneira mais complexa e adulta", diz.
"Os EUA sempre apresentaram essa imagem do Brasil como sendo de festa constante. E tudo bem para algumas coisas, mas isso não é bom se você é a Embraer e se você tem ambição de ser uma economia séria no cenário mundial."
Além disso, diz Anholt, a pressão internacional pode favorecer a que o Brasil "corrija rumos" em questões de importância global, como proteção ambiental.
"O Brasil agora está sendo observado e julgado. E no momento está sendo julgado severamente no governo Bolsonaro", avalia.
"Acho que a festa acabou no que diz respeito à imagem do Brasil no exterior. Embora isso seja triste e crie pressões econômicas, no longo prazo será uma coisa boa. Já é hora de o mundo reconhecer o Brasil como algo mais que apenas Carnaval de rua."
BBC Brasil: Prejuízo de Bolsonaro à imagem do Brasil é, em parte, irreversível, diz Ricupero
Thais Carrança, BBC News Brasil
“O mundo se acostumou, durante décadas, desde o fim do governo militar, a ver que os governos que se sucediam no Brasil podiam ter prioridades distintas, mas todos tinham valores compatíveis. Todos tinham uma fidelidade aos princípios da Constituição, um engajamento em favor do meio ambiente, dos povos indígenas e dos direitos humanos”, explica Ricupero.
“Essa confiabilidade foi perdida, porque, com a experiência Bolsonaro, ainda que ela termine no ano que vem, vai ficar sempre aquela dúvida sobre o futuro do Brasil. Até que ponto o Brasil não vai ter uma recaída nesse tipo de comportamento?”.
Para Ricupero, que comandou a pasta do Meio Ambiente e da Amazônia Legal entre setembro de 1993 e abril de 1994, e esteve à frente do Ministério da Fazenda de março a setembro de 1994, sob o governo Itamar Franco (PMDB), o ultraliberalismo prometido pelo ministro Paulo Guedes nunca chegou a ser colocado em prática.
“Guedes nunca foi capaz de dar um rumo coerente à política econômica. Tanto é assim que, da equipe original dele, restam muito poucos”, diz Ricupero.
“Estamos agora com uma economia que não cresce, e em que a única coisa que cresce são os preços dos alimentos, da gasolina, do diesel, a carestia da vida. Estamos, de novo, com a pior situação econômica que se possa imaginar, que é a combinação de estagnação com inflação”, sentencia o ex-ministro.
Ricupero avalia que a notícia-crime aberta contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no caso da defesa de madeireiros ilegais da Amazônia não deve ser suficiente para derrubá-lo.
“Os madeireiros ilegais, os mineradores ilegais e os grileiros criminosos constituem uma das bases de apoio do governo Bolsonaro. Então, ao proteger esses criminosos, Salles está, na verdade, solidificando essa base”, afirma.
Ricupero ministra nesta terça-feira (04/05), às 19h, a aula inaugural do curso “História da Diplomacia Brasileira”, que será oferecido pelo Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais). O curso terá desconto de 50% para mulheres, com o objetivo de incentivar a presença feminina no meio diplomático.
“Agora que nos livramos do [ex-ministro das Relações Exteriores] Ernesto Araújo, temos que recuperar nosso patrimônio, que durante dois anos e pouco foi espezinhado e esquecido por essa fase de pesadelo pela qual passou o Itamaraty”, diz Ricupero, quanto à relevância do curso neste momento.
“Como acontece na pandemia, é só quando nos falta o ar que respiramos, que nós valorizamos a capacidade de respirar. A mesma coisa acontece na diplomacia. Agora, estamos valorizando uma coisa que nós perdemos durante pouco mais de dois anos.”
Confira os principais trechos da entrevista.
BBC News Brasil – O senhor disse no passado que há uma contradição inerente entre uma política econômica ultraliberal e uma política externa antiglobalista. Passados mais de dois anos de governo Bolsonaro, é possível dizer que, nesse embate, o liberalismo foi o derrotado?
Rubens Ricupero – A promessa do liberalismo nunca foi aplicada nesse governo. Como nas demais áreas, é um governo sem rumos. Que tem uma inspiração vagamente liberal, mas com desvios muito frequentes.
Vê-se, por exemplo, que houve muito pouca privatização, apesar das promessas repetidas. As reformas que tinham sido anunciadas não saíram do papel. A situação fiscal, contrariamente aos postulados liberais, tem se agravado cada vez mais.
Não se pode dizer que seja uma política econômica efetivamente liberal. É uma política econômica confusa, com sinais contraditórios, e que foi atropelada pela pandemia. No começo da crise, até respondeu razoavelmente, com o auxílio emergencial. Mas depois se perdeu totalmente.
Estamos hoje com uma condição econômica que é a pior de todas, porque o país não cresce – é uma exceção no mundo, onde todas as economias estão se recuperando com um ritmo bastante vigoroso. E, ao mesmo tempo que não cresce, estamos assistindo ao agravamento da inflação. Quer dizer, voltamos à situação de estagflação que tivemos há alguns anos. É esse o resumo que se pode dar da política econômica do governo.
BBC News Brasil – O senhor tem expectativa de alguma mudança de rumo na política externa com a saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores?
Ricupero – Houve uma mudança que é bem-vinda, que merece até aplauso. Porque o caso do Ernesto é que ele agravava uma situação que já era difícil. Pelos próprios postulados da política que ele adotou. Uma visão distorcida da realidade do mundo, teorias conspiratórias. Mas, além disso, ele agregava um fator pessoal: era um militante dessa seita mais lunática que nós temos, que são os seguidores do Olavo de Carvalho. Isso tudo, felizmente, acabou. Há uma sensação de alívio.
O Itamaraty, hoje em dia, tem uma atmosfera muito mais positiva do que tinha antes. E o próprio estilo dos documentos, dos pronunciamentos, melhorou bastante.
O que não mudou é a substância dessa política. Porque uma política externa não pode nunca ser dissociada da política interna. A política externa tem maior ou menor êxito, se a política interna estiver indo bem. Os grandes momentos da política externa do Brasil no passado coincidiram com momentos em que o país estava muito bem na economia, na política, no social, no cultural.
Atualmente, mesmo que a política externa tenha mudado um pouco no estilo de discurso, a política geral é muito ruim. Nós continuamos com essa crise. Com o presidente atuando como ele sempre atuou. E, sobretudo, há um aspecto que não se pode esquecer nunca: boa parte da imagem péssima que o Brasil tem no exterior vem das questões ambientais e das questões próximas a essa, como o tratamento aos povos indígenas. Ora, isso não mudou em nada.
Nós continuamos com a mesma política, ou falta de política. A devastação da Amazônia cresce, como vimos no mês de março, que foi o pior mês para o desmatamento nos últimos dez anos, apesar de ser ainda a estação das chuvas na Amazônia.
Então, devido a esses sinais que vêm do meio ambiente, da política indigenista, dos direitos humanos, da deterioração da situação social, é muito difícil que a política externa, deixada a si mesma, possa fazer alguma coisa. Pode pelo menos evitar de agravar o quadro, que era o que acontecia com o Ernesto. Mas, mais do que isso, não vejo possibilidade de acontecer.
BBC News Brasil – É possível reverter o efeito da gestão Bolsonaro sobre a imagem do Brasil no exterior? E há como recuperar nosso soft power?
Ricupero – Neste governo, não. Eu não acredito que isso possa acontecer, porque também não creio que o presidente vá mudar de personalidade, de caráter, de opinião, de grupos apoiadores.
Nada disso vai acontecer. Então, até a eleição, não vejo nenhuma possibilidade de que essa situação melhore. Depois das eleições, isso pode suceder, desde que haja a eleição de um governo mais “normal”, digamos, entre aspas. De um governo que volte a colocar o Brasil nos trilhos. E que seja capaz de adotar políticas diferentes, em meio ambiente, em povos indígenas, em direitos humanos, em igualdade de gênero, e assim por diante.
A partir de uma mudança interna, pode-se fazer um esforço para melhorar a nossa imagem externa. Isso é perfeitamente factível. Mas vai demorar muito. Vai ser um trabalho gigantesco e, eu diria que uma parte do prejuízo é irrecuperável, é irreversível. Essa parte que se devia à continuidade e à confiabilidade do Brasil e da sua política externa.
O mundo se acostumou, durante décadas, desde o fim do governo militar, a ver que os governos que se sucediam no Brasil podiam ter prioridades distintas, mas todos tinham valores compatíveis. Todos tinham uma fidelidade aos princípios da Constituição, um engajamento em favor do meio ambiente, dos povos indígenas e dos direitos humanos.
Essa confiabilidade foi perdida, porque, com a experiência Bolsonaro, ainda que ela termine no ano que vem, vai ficar sempre aquela dúvida sobre o futuro do Brasil. Até que ponto o Brasil não vai ter uma recaída nesse tipo de comportamento que nós assistimos nos últimos anos.
BBC News Brasil – O senhor chegou a prever nos anos anteriores que o Brasil poderia sofrer boicotes e represálias em suas exportações agrícolas, pela forma como Bolsonaro tem gerido a questão ambiental. Isso não só não se concretizou, como o Brasil tem exportado mais commodities agrícolas do que nunca, com a ajuda da desvalorização cambial. A necessidade global de alimentos se sobrepõe à agenda verde que as grandes potências dizem agora ser prioridade?
Ricupero – Em parte sim. O que você diz é verdade, sobretudo em relação à China e aos asiáticos. Porque, de fato, o aumento das exportações brasileiras de soja, de milho, de minério de ferro, se deveu sobretudo à China, não a outros países. Para outros destinos as exportações têm caído.
No caso da China, de fato, é um país que olha mais a sua própria demanda. Mas, mesmo aí, existe uma incerteza em relação ao futuro, porque as grandes empresas importadoras chinesas, as tradings, já anunciaram que vão começar a ter uma política de traçar a origem dos produtos que elas importam. Então, à medida que a China possa diversificar suas fontes de suprimento, haverá alternativas aos fornecedores brasileiros.
Mas as represálias que o Brasil já está sofrendo não são apenas medidas comerciais. As medidas comerciais são o último limite. É aquilo que acontece quando realmente a situação chega a um ponto muito, muito grave.
Mas a verdade é que, devido a essas políticas que o governo Bolsonaro tem seguido, o Brasil hoje já se converteu numa espécie de “pária” do mundo. Isso se vê agora na pandemia.
Há poucos dias, o jornal Washington Post publicou um artigo muito interessante comparando a solidariedade do mundo com a Índia na pandemia, com a falta de resposta em relação ao Brasil. O jornal dizia que é chocante de ver.
Os Estados Unidos estão se mobilizando, aprovaram mais de US$ 100 milhões em ajuda e medicamentos para a Índia. Alemanha, França, Inglaterra estão mandando aviões especiais, recheados de produtos de ajuda. Enquanto isso, em relação ao Brasil, não há nenhum movimento comparável, apesar de o número de mortes no Brasil ser maior do que o da Índia.
Por quê? Porque o Brasil se tornou um país rejeitado pelo mundo. Então, é óbvio que, na hora que o Brasil precisa, não existe da parte do mundo exterior, uma reação de solidariedade. E é por isso que eu diria que o castigo pelo que nós fazemos já é evidente. Não é alguma coisa que virá depois. É algo que já está acontecendo.
BBC News Brasil – O que muda para a política externa e ambiental brasileira com a chegada de Joe Biden ao poder nos Estados Unidos?
Ricupero – Muda o discurso. Vê-se isso já na carta que o presidente Bolsonaro enviou alguns dias antes da Cúpula do Clima, no dia 22 de abril.
Na carta, ele disse coisas que são o contrário do que ele vinha dizendo até então. Fala no compromisso em combater o aquecimento global. Reafirma o compromisso do Brasil do Acordo de Paris, de pôr fim ao desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. Esse compromisso tinha sido retirado das promessas brasileiras pelo Ricardo Salles, em dezembro de 2020. O que mudou entre dezembro de 2020 e abril de 2021? A posse do Biden.
Então mudou o discurso e a promessa. Mas não mudaram as políticas, as verbas para combater o desmatamento, o desprestígio do Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis], as atitudes de impedir que os fiscais do Ibama cumpram o seu dever. Então, são promessas retóricas. Superficiais. Como se dizia antigamente, “para inglês ver”. Só que hoje é “para americano ver”.
BBC News Brasil – E que balanço o senhor faz da Cúpula do Clima?
Ricupero – A cúpula foi muito importante, porque mudou a agenda mundial por completo. Nós perdemos quatro anos no combate ao aquecimento global devido ao governo Trump. Então era preciso um gesto dramático para fazer com que a questão voltasse a ocupar o centro da agenda mundial. Isso foi feito pela Cúpula do Clima.
Ela não tinha o objetivo de produzir resultados negociados. Porque esses resultados terão que ser produzidos no final do ano, no mês de novembro, na reunião de Glasgow, na Escócia, quando haverá a COP-26. O passo seguinte ao Acordo de Paris.
Na reunião de Glasgow é que vamos ter que ir além, porque os compromissos de Paris somados não vão permitir atingir a meta que está no preâmbulo do acordo, que é limitar o aumento da temperatura global a apenas 1,5 grau. Atualmente, pelos compromissos de Paris, vamos ter um aumento de 4 graus. Portanto, é preciso ir muito, muito além.
BBC News Brasil – O senhor acredita que o ministro Ricardo Salles deve novamente sobreviver à crise gerada pela notícia-crime aberta contra ele no caso da defesa de madeireiros ilegais?
Ricupero – Aparentemente sim, porque os madeireiros ilegais, os mineradores ilegais e os grileiros criminosos constituem uma das bases de apoio do governo Bolsonaro. Então, ao proteger esses criminosos, ele está, na verdade, solidificando essa base.
Não vi até agora nenhum sinal de que algo mude. E, ainda que mude, só a mudança do ministro não resolve nada. Se for para trocar o Ricardo Salles por um outro general Pazuello [Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde] ou alguma pessoa parecida, não resolveria.
É preciso mudar o ministro para alguém melhor, mas mudar também a política. Ter o compromisso de querer, de fato, acabar com o desmatamento, com a mineração ilegal, com a grilagem. Voltar a prestigiar os fiscais do Ibama e do Instituto Chico Mendes. Voltar a aprovar um plano como o que a [ex-ministra do Meio Ambiente] Marina Silva aplicou e que permitiu baixar a destruição de mais de 12 mil, pra menos de 4 mil quilômetros quadrados. Esse plano existia, mas foi abandonado. Ele tem que voltar.
Então, é isso que precisaria. E não vejo sinais de que vá acontecer, infelizmente. Não há nada além de promessas vagas, imprecisas, sem nenhum compromisso objetivo.
BBC News Brasil – E como o senhor avalia a gestão de Paulo Guedes à frente da Economia?
Ricupero – É um grande desapontamento. Desde a campanha, ele sempre criou expectativas exageradas, até por causa do estilo pessoal que ele tem.
Ele, por exemplo, dizia, antes de tomar posse, que iria zerar o déficit público brasileiro em um ano. E como é que ele pretendia fazer isso? Ele pretendia privatizar e vender os imóveis do governo federal. Em cada caso, segundo ele, produziria mais de R$ 1 trilhão. Ora, tudo isso eram fantasias. Fantasias de quem nunca tinha passado pelo Ministério da Fazenda.
Quem já passou pelo ministério, como eu, sabe a dificuldade que existe para privatizar uma só companhia. Quanto mais todas. Então, tudo isso se desfez ao contato da realidade.
Ele nunca foi capaz de dar um rumo coerente à política econômica. Tanto assim que, da equipe original dele, restam muito poucos. A maioria daqueles que o acompanharam foram gradualmente deixando o governo. E muitos admitiram que faziam isso porque viram que nada daquela intenção original ia ser transformada em algo de concreto.
O balanço melhor não é o balanço que se faz com palavras, é o balanço dos fatos. E o fato é que nós agora estamos com uma economia que não cresce. Em que a única coisa que cresce são os preços dos alimentos, da gasolina, do diesel, a carestia da vida.
Nós estamos, de novo, com a pior situação econômica que se possa imaginar, que é a combinação de estagnação econômica com inflação.
BBC News Brasil – A pandemia deve resultar num retrocesso histórico na desigualdade e nos avanços conquistados por mulheres e pela população negra nas últimas décadas. O que precisará ser feito para se reverter esses retrocessos nos próximos anos?
Ricupero – Será necessário um esforço gigantesco. Porque o retrocesso não é só nessas áreas que você mencionou e que são de fato uma realidade. Há um retrocesso em algo mais surpreendente: na expectativa de vida. É a primeira vez em mais de 100 anos que a expectativa de vida no Brasil vai recuar dois anos praticamente.
A mortalidade tem sido gigantesca e, em alguns casos, a perda é irrecuperável. Por exemplo, nas tribos indígenas, boa parte da cultura tradicional, das tradições, e até do conhecimento da língua, está concentrado nos mais idosos, que são os que estão desaparecendo muito rapidamente.
É claro que uma parte dessas mortes teria sido inevitável, mas uma quantidade gigantesca de pessoas que adoeceram e morreram poderiam ter sido poupadas, se desde o início tivéssemos seguido os caminhos corretos de combate à pandemia.
Se tivesse existido uma coordenação de políticas do governo central, com Estados e municípios. Tivesse se adotado confinamento no momento certo e com o nível de rigor necessário. Se tivesse aumentado o número de testes e, uma vez comprovadas as pessoas infectadas, se tivesse feito o acompanhamento para evitar que essas pessoas infectassem outras. Se tivéssemos adotado no momento certo a decisão de comprar vacinas, quando a Pfizer, por exemplo, nos ofertou 70 milhões de doses.
Se tudo isso tivesse sido feito, o número de mortes seria muito menor. Infelizmente, perdeu-se essas oportunidades. E agora, no futuro, um novo governo terá que redobrar os esforços durante anos, para que possamos recuperar o nível em que estávamos e que perdemos. Eu não sei quantos anos vai demorar. Mas, seguramente, não serão poucos.
BBC News Brasil – Muitos economistas liberais têm defendido a necessidade de o liberalismo contemplar a questão social e ter a desigualdade como foco, para que a agenda liberal possa ganhar maior adesão na sociedade. Alguns, como Armínio Fraga, têm inclusive defendido políticas como uma renda básica para pelo menos metade da população brasileira. Como o senhor vê esse redesenho do liberalismo nacional?
Ricupero – É bem-vindo. Mostra que o liberalismo, se bem entendido, não é de forma nenhuma excludente de uma consciência social aguda.
E acho que esses economistas têm razão de que é necessário sintetizar os inúmeros programas que nós temos. Porque, para poder ter um programa como o Armínio aconselha, de renda básica, é preciso examinar bem os diferentes programas sociais que o Brasil tem – e são muitos – e avaliar quais os mais exitosos, que atingem mais a população alvo, como é o caso do Bolsa Família.
Outros programas que não são tão eficazes devem ser descontinuados, para poder concentrar os recursos e ter um programa que seja de fato coerente e bem desenhado. Que procure cobrir toda a população carente, de maneira satisfatória, mas acabando com os desperdícios, acabando com os paralelismos de vários programas que às vezes desperdiçam recurso.
Portanto, precisa de muita racionalidade. Não se vê hoje no governo capacidade de fazer isso.
E não é difícil. Olhando para o Biden, nos Estados Unidos, por exemplo, temos um bom modelo. Os americanos estão focando muito claramente nas crianças pobres, porque um dos aspectos mais graves dos problemas sociais, que tende a perpetuar a miséria, é a miséria da infância.
Então, há muitos modelos que poderiam ser adotados no Brasil. Mas é preciso convocar pessoas capazes de desenhar esses programas, para concentrar os recursos naquilo que realmente vai ter frutos imediatos.
Que é mirar nas crianças pobres, nas famílias com crianças, nas famílias que passam fome. Em todos aqueles que constituem essa gigantesca parte da população carente, que não têm um emprego regular e que sobrevivem, sabe lá Deus como, através de bicos, da economia informal, sem carteira assinada, sem direitos, sem garantia de aposentadoria, sem nada.
É isso que nós temos que fazer. Uma racionalização da política social.
BBC News Brasil – Por fim, o senhor participou no ano passado de um movimento de ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central pressionando por uma retomada verde da economia no pós-pandemia. Vimos movimentos semelhantes de ex-ministros da Saúde, do Meio Ambiente e da Educação de governos diversos, unidos contra as políticas da atual gestão. O senhor acredita que esses movimentos serão suficientes para criar um projeto alternativo ao bolsonarismo em 2022?
Ricupero – Suficientes, creio que não. Mas são necessários. São passos em direção a esse objetivo.
Isso começou, na verdade, com os ex-ministros de Meio Ambiente. O nosso grupo foi criado ainda na época da discussão do Código Florestal, no governo Dilma Rousseff [PT]. Os outros movimentos se inspiraram no nosso, inclusive esse a que eu também pertenço, de ex-ministros da Fazenda.
O que isso indica? Indica que a totalidade das pessoas que passaram pelo setor público no Brasil reprova a linha atual.
E reprova por quê? Porque esse governo é o primeiro que rompe com toda a continuidade que nós tínhamos, desde que começou a Nova República, com o final da ditadura militar, em 1985.
Desde então, todos os governos que se sucederam – uns com mais êxito, outros com menos – tinham a mesma visão, o mesmo projeto de Brasil, que é o da Constituição. Não precisa outro. A Constituição tem o projeto de Brasil que nós queremos. É preciso dar cumprimento a ela.
Esse governo se divorciou desta linha de continuidade. E inaugurou uma linha que é contrária ao espírito e, às vezes, à própria letra da Constituição.
Então nós temos que restabelecer aquele rumo claro constitucional, através de eleições que produzam um governo capaz de dar ao Brasil uma visão coerente, articulada, racional do seu futuro. E que consiga promover uma melhoria da vida das pessoas, para que elas se engajem nesse projeto. Mas isso vai depender das eleições. Enquanto elas não chegarem, nós infelizmente vamos ter que continuar a multiplicar essas tomadas de posição.
Fonte:
BBC Brasil: Quatro fatos que ajudam a explicar tensão entre negros americanos e polícia
Em meio ao julgamento do ex-policial acusado de matar George Floyd, dados mostram que, quando se trata de lei e ordem, os afro-americanos continuam recebendo um tratamento mais violento que os brancos.
Floyd, de 46 anos, foi estrangulado por um policial branco, Derek Chauvin, que ajoelhou em seu pescoço durante uma abordagem em Minneapolis, no Estado americano de Minnesota, em março do ano passado.
Sua morte provocou protestos ao redor do mundo contra a violência policial e discriminação contra os negros.
Nesta semana, outro caso, também em Minneapolis, despertou atenção pela semelhança com o episódio que resultou na morte de Floyd.
Daunte Wright, de 20 anos, foi baleado e morto por um policial durante uma abordagem por infração de trânsito.
A morte também desencadeou protestos. Cerca de 40 pessoas foram presas ao norte da cidade em uma segunda noite de manifestações.
No Brasil, oito a cada dez pessoas mortas pela polícia em 2019 eram negras segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020.
A BBC analisou dados sobre criminalidade nos Estados Unidos e constatou que:
1. Afro-americanos têm maior probabilidade de ser mortos pela polícia
Dados disponíveis sobre incidentes em que a polícia atira e mata pessoas mostram que, para os afro-americanos, há uma chance muito maior de serem mortos em relação ao número total da população dos Estados Unidos.
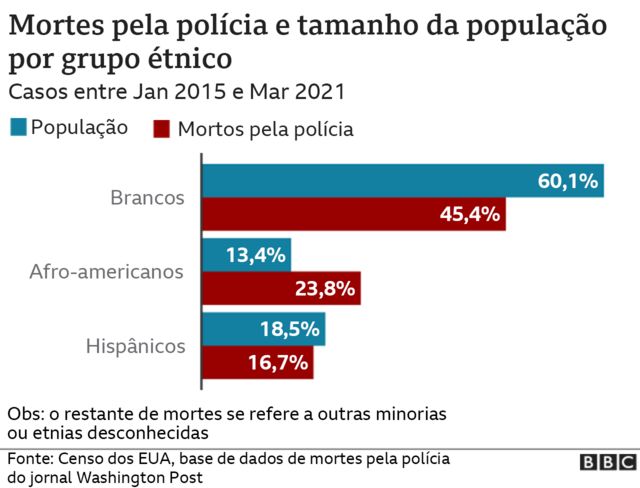
De acordo com o banco de dados de mortes pela polícia do jornal americano The Washington Post, embora os afro-americanos representem menos de 14% da população, eles foram quase 24% vítimas das mais de 6 mil mortes causadas pela polícia desde 2015.
O total de mortes pela polícia permaneceu relativamente estável - cerca de 1 mil por ano desde 2015.
Levantamentos posteriores mostram que a taxa de mortes de negros desarmados por policiais nos Estados Unidos é três vezes maior do que de brancos.
2. Afro-americanos são mais propensos a serem parados pela polícia
Estudos mostram que os negros têm maior probabilidade de ter o carro parado pela polícia.
Um dos mais recentes, um estudo de 2020 da Universidade de Stanford, analisou 100 milhões de abordagens no trânsito por parte dos departamentos de polícia nos Estados Unidos e constatou que motoristas negros tinham cerca de 20% mais chances de serem parados do que motoristas brancos.
O estudo também descobriu que, uma vez parados, os motoristas negros eram revistados até duas vezes mais que os brancos, embora fossem estatisticamente menos propensos a transportar itens ilegais.
3. Afro-americanos são presos em taxas mais altas por abuso de drogas
Os afro-americanos são presos por abuso de drogas em uma taxa muito maior do que os americanos brancos, embora as pesquisas mostrem que os entorpecentes são usados em níveis semelhantes.
Em 2018, cerca de 750 em cada 100 mil afro-americanos foram presos por abuso de drogas, em comparação com cerca de 350 em cada 100 mil americanos brancos.
Pesquisas de âmbito nacional anteriores sobre o uso de drogas mostram que os brancos usam drogas em taxas semelhantes, mas os afro-americanos continuam sendo presos com mais frequência.
Por exemplo, um estudo da ONG União Americana pelas Liberdades Civis descobriu que os afro-americanos tinham 3,7 vezes mais probabilidade de serem presos por porte de maconha do que os brancos, embora a de uso da droga fosse similar.
4. Mais afro-americanos estão presos
Os afro-americanos são presos a uma taxa cinco vezes maior que a dos americanos brancos e o dobro da dos americanos hispano-americanos, de acordo com os últimos dados.
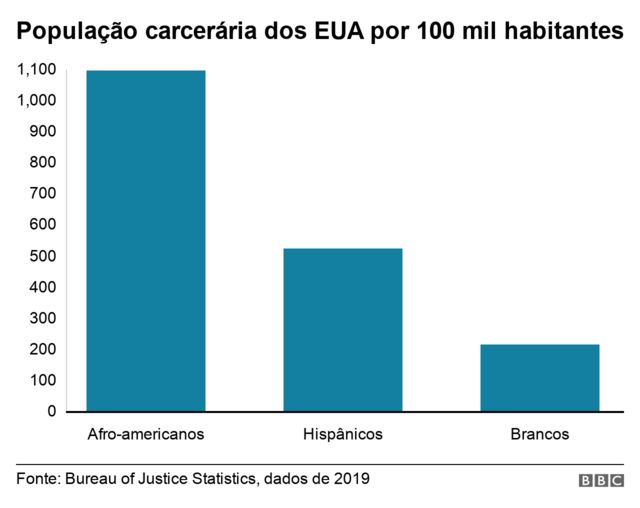
Em 2019, os afro-americanos eram cerca de 13% da população dos EUA, mas representavam quase um terço da população carcerária do país.
Já os americanos brancos eram cerca de 30% da população carcerária, apesar de representar mais de 60% da população total dos Estados Unidos.
Isso significa mais de 1 mil prisioneiros afro-americanos para cada 100 mil residentes afro-americanos, em comparação com cerca de 200 presidiários brancos para cada 100 mil americanos brancos.
A população carcerária dos Estados Unidos é definida como presidiários condenados a mais de um ano em uma prisão federal ou estadual.
As taxas de encarceramento caíram para afro-americanos na última década, mas eles superaram qualquer outra raça quanto à população carcerária, proporcionalmente.













