Alberto Aggio
Alberto Aggio: Duas hipóteses fracassadas e o realismo que nos resta
Duas hipóteses sobre a conjuntura política brasileira, ao que tudo indica, não deverão ser confirmadas: o impeachment de Bolsonaro e a formação de uma “frente democrática” eleitoralmente estruturada e com expectativa de poder. O movimento pelo impeachment não produziu, até o momento, combustão suficiente para ganhar a sociedade e impor-se institucionalmente. A proposta de “frente democrática” contra Bolsonaro não se conectou com o movimento do impeachment e tampouco parece contar com atores inclinados a apoia-la, capazes de lhe dar potência política e eleitoral. Ambas hipóteses parecem, enfim, não terem capacidade nem circunstância para se tornarem efetivas. Quiçá possam ser mantidas em seu espírito fundante, animando ações imediatas e expectativas de médio prazo.

A inviabilização do impeachment ficou explicita na rejeição à emenda do voto impresso, expressando a capacidade do governo em angariar apoio na Câmara dos Deputados, locus de origem institucional de um processo de impeachment do presidente da República. O impeachment não tem como ser instalado com a base de apoio que o presidente demonstrou poder contar. O que especialistas e políticos experientes já divisavam acaba de ser comprovado e o impeachment só passará em função de uma improvável hecatombe no cenário político. A oposição estará obrigada doravante a compreender que só poderá chegar à próxima estação e desembarcar se tiver muito sentido de finalidade para superar o desastre em que o País se meteu.
O que nos leva à segunda hipótese delineada acima. A proposição, concretização e mobilização de uma “frente democrática” contra um governo ou regime autoritário é uma fórmula política que tem história, razões e justificativas[1]. Ela foi originalmente pensada tendo em vista o estabelecimento de regimes fascistas ou autoritários nos quais as forças democráticas foram derrotadas e colocadas na defensiva. O reconhecimento de tal condição acabou por impor a aceitação da formação de algum organismo, oficial ou não, orgânico ou não, que pudesse agregar forças políticas contra a violência, a repressão, a agressão e a ameaça impostas por tais regimes. A origem dessa fórmula política está no combate ao fascismo em meados dos anos 30, com a organização das “frentes populares”, mas foi reelaborada na luta contra os regimes autoritários, em especial os latino-americanos. O Brasil é um case dessa estratégia no contexto de luta contra o regime ditatorial imposto em 1964.
Recolocar a estratégia de “frente democrática” nos dias de hoje, repondo, de certa maneira, os termos do enfrentamento virtuoso contra a ditadura militar nas décadas de 1970 e 1980, pode ser vista como uma proposição mais realista do que uma “frente de esquerda” – que busca a afirmação de identidades e de projetos alternativos de sociedade – porque carrega uma memória positiva e pode ser mais produtiva na luta política. Mas deve-se reconhecer também que é uma proposta que apresenta uma certa coloração passadista de difícil aplicabilidade num contexto político e institucional completamente diferente de pluralismo competitivo e de consolidação da chamada “democracia de audiência”[2]. O cenário político hoje é, portanto, muito mais complexo e difuso do que o de contraposição a um regime de espaços políticos fechados e de repressão aberta.

O pluralismo competitivo, uma vez instalado, não é terreno favorável à proposta de “frente democrática”. Os atores políticos, coletivos ou individuais, veem nele um ambiente político no qual podem disputar e vencer, carreando para seus apoiadores e para os projetos estruturais que defendem os institutos de poder e a máquina do Estado. A “democracia de audiência” tornou-se, por sua vez, a forma e o método pela qual a política se conecta com a sociedade por meio de vias comunicacionais que vão da TV às redes midiáticas, especialmente estas últimas. Isso produziu uma “metamorfose” na prática da política nas sociedades hodiernas. Nessa nova morfologia, importa mais a afirmação da imagem e/ou linguagem de um ator político (aferidas por pesquisas diárias) do que os partidos políticos ou qualquer projeto de sociedade[3].
O resultado é que pluralismo competitivo e “democracia de audiência” induzem mais à competição, disputa e dispersão de forças políticas, que se entendem vocacionadas à conquista do poder, do que à disposição para a unidade política de atores de coloração ideológica diferente visando retirar as forças democráticas da situação defensiva em que se encontram e leva-las a posições de poder por vias democráticas.
Não é casual, portanto, que ao invés de se caminhar para a unidade das oposições, uma vez que quase a totalidade delas julga o governo Bolsonaro como autoritário ou mesmo fascista, ampliou-se o número de postulantes à sucessão de Bolsonaro. Os apelos à formação de uma “frente democrática” parecem ser apenas retóricos e, na melhor das hipóteses, considerados para o embate do segundo turno em 2022, admitindo-se que Bolsonaro ainda se manterá competitivo até 2022. A proposta de “frente democrática”, com o passar do tempo, ficou visivelmente sem articuladores e perdeu substância como uma possível estratégia operacional, fazendo com que os principais postulantes contra Bolsonaro passassem a se movimentar a partir de cálculos e lógicas independentes entre si.
Mesmo nessa situação, não há outro caminho para o conjunto da sociedade senão isolar Bolsonaro como o candidato a ser batido. Isso é importante, inclusive para impedir as permanentes ameaças antidemocráticas ao processo de sucessão acionadas pelo presidente da República e assegurar a legitimidade do pleito. As forças democráticas terão que se tratar nas condições que estão dispostas, com as responsabilidades e os cuidados necessários diante dessas circunstâncias. Como haverá um candidato que postulará a reeleição, há uma dimensão plebiscitária na eleição para presidente da República. Para além dos nomes em disputa, há que se ultrapassar as ameaças de cancelamento da democracia e parar o processo de destruição institucional que se impôs nos últimos anos.
[1] Problematizei esse tema em alguns artigos, a saber, AGGIO, A., “Aporias da ‘frente democrática’” in O Estado de São Paulo, 17.11.2019: https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,aporias-da-frente-democratica,70003091839; AGGIO. A. “O fim da guerra e a antecipação da batalha por 2022”: https://horizontesdemocraticos.com.br/o-fim-da-guerra-e-a-antecipacao-da-batalha-por-2022/. Ambos podem ser acessados em https://horizontesdemocraticos.com.br/.
[2] MANIN, Bernard. The Principles of Representative Government. New York: Cambridge University Press, 1997. Especialistas que lidaram com essa referência em traduções diversas para o português utilizam-se também as expressões “democracia de plateia” ou “democracia de público”; aqui mantivemos uma proximidade maior com a expressão original “audiency democracy”.
[3] DIAMANTI, Ivo. Democrazia ibrida. Roma: Laterza, 2014. Diamanti examina a transição na Itália para a “democracia de audiência”, considerando ainda as sobreposições com a situação anterior de “democracia de partidos”, daí a noção de “democracia híbrida”. A situação brasileira é, em nosso entendimento, distinta, especialmente pela fragilidade dos partidos.
Fonte: Blog Horizontes Democráticos
https://horizontesdemocraticos.com.br/duas-hipoteses-fracassadas-e-o-realismo-que-nos-resta/
O Estado de S. Paulo
Estado da Arte em 16 de agosto de 2021
https://estadodaarte.estadao.com.br/aggio-realismo-horizontes-democraticos/
Horizontes Democráticos: O presente como história
Já se disse que a História não é o que passou, mas o que, no presente, permanece do que passou, desafiando a consciência que se pode ter sobre o tempo e o mundo dos contemporâneos. É por isso que muitos historiadores são convocados a emitirem suas opiniões sobre os fatos do presente. Não há, portanto, nenhuma contradição nessa convocação. O conhecimento e a reflexão historiográfica parecem ser cada vez mais reconhecidos como parte da inteligência especializada em refletir sobre permanências, muitas vezes ocultas – não só para o homem comum –, que sustentam e dão base aos embates e conflitos que nos envolvem cotidianamente.
CONFIRA O WEBINÁRIO
Clique aqui e adquira já o livro escrito por Vinícius Müller
Para além dessa dimensão pontual, está cancelada, da mesma forma, a possibilidade de o pensar historiográfico estar afastado da investigação sobre as formações culturais comumente entendidas como alicerces do mundo, desde aquelas que possibilitaram que se projetasse um futuro melhor – mais progressista ou simplesmente fazendo par com a ideia de progresso – até aquelas, contrario sensu, que, uma vez cristalizadas, condenam pessoas ou gerações inteiras a viverem como se o tempo não se alterasse ou os fatos, mesmo os moleculares, não fossem capazes de mudar a vida.
Reconhecer no passado uma instância permanente do nosso presente é entender que os tempos humanos são estruturas fundantes da nossa cultura, no sentido lato do termo. Assim, pensar em como se lida com a História e fazer com que ela seja útil, científica ou mesmo moralmente, é o que move os historiadores do nosso tempo. Como parte disso, a História que produzimos no Brasil, por historiadores de profissão ou não, deve ser vista como uma das expressões particulares do métier historiográfico que vai da produção desse conhecimento até a função social que desempenha. E uma das dimensões essenciais desse conhecimento especializado, compartilhado por historiografias que se desenvolvem em outras latitudes, é a perspectiva de atualização constante. Assim, cada vez mais o que é entendido como interdependência em outras dimensões da atividade humana invade da mesma maneira o campo da História. Isso é notável no percurso da historiografia que hoje se produz e não poderia deixar de estar presente na reiterada proposta dos capítulos desse livro, a saber, repensar o presente brasileiro a partir de critérios que superem demarcações restritivas, notadamente as ideológicas, e possibilitem novas visões sobre o passado que insiste em demarcar sua presença nas estruturas da nossa sociedade.
No livro que o leitor tem em mãos, o mundo das narrativas, aparentemente inevitável no nosso tempo, é submetido, capítulo a capítulo, a uma operação que visa estabelecer um inventário amplo e diversificado daquilo que coloniza o território das ciências humanas e sociais, com destaque especial para a reflexão historiográfica. Essa operação é muitas vezes ampliada no sentido de incorporar também a essa reflexão o complexo de narrativas intelectuais que a vida cultural assimilou como o mainstream da opinião pública. Ambas dimensões – para mencionarmos apenas duas delas – estão aqui seletivamente recrutadas em agudos diálogos, todos pertinentemente compostos em análises rigorosas e estimulantes.

Cada capítulo deste livro é dedicado, conforme o tema e a abordagem, tanto a sondar o que há de mais atual no debate intelectual a respeito de questões decisivas relativas às teorias e metodologias que orientam a produção do conhecimento histórico quanto a problemas análogos referentes à História do Brasil, selecionando para o debate as narrativas que, em seu tempo, ajudaram a construir as visões que temos sobre o país. Muitas delas, enfatiza o autor, contribuíram enormemente para encobrir uma visão mais complexa e plural da realidade brasileira, obstaculizando uma perspectiva política e cultural ampla e renovada que hoje a imensa crise que vivenciamos se encarrega de evidenciar com notável eloquência.
Em meio a tantas narrativas que brotam no terreno da nossa historiografia, duas merecem ser mencionadas. A primeira é de caráter metodológico e convida o leitor a ultrapassar uma visão modelar que por décadas gerou um apego a explicações e hipóteses calcadas no antagonismo como elemento explicativo da história do país. Como reafirma criticamente o autor, “lamentavelmente para muitos, quando a História não se encaixa no modelo, errada está a história, não o modelo. Assim, continuamos a reproduzir tal modelo e nele ‘encaixar’ tudo o que queremos saber. Inclusive aquilo que ele, o modelo, não é capaz de explicar”. Nesse momento do livro se faz uma crítica clara à sobrevivência de muitos equívocos da abordagem de Caio Prado Jr. a respeito da nossa história, mesmo relevando seus inúmeros acertos, mas, tal apreciação tem caráter mais geral e deve ser entendida como uma referência crítica a outras temáticas e/ou autores. A ênfase no caso mencionado se reporta ao fato de que a abordagem sistêmica com base na oposição metrópole/colônia como determinante explicativo não possibilitou uma leitura mais acurada de processos específicos de desenvolvimento que o país vivenciou, chamando atenção para sua diferenciação regional ou mesmo local, o que nos leva à segunda dimensão que queremos destacar.

Trata-se da perspectiva de ver na hipertrofia do Estado na história brasileira não um modelo de afirmação ou condenação, mas uma história eivada de ambiguidade ou mesmo um paradoxo que acabou gerando um labirinto para as forças políticas que buscam estabelecer projetos de futuro para o país. Acertadamente, Vinicius Müller aponta para o fato de que a centralização do Estado que marca a história brasileira desde o Império passou a ser entendida até hoje como “responsável pela má distribuição dos recursos e consequentemente dos determinantes do desenvolvimento regional”. O paradoxo é que esta narrativa imagina que apenas um Estado altamente centralizado seria capaz de inverter esta tendência. Ela trabalha com a noção de que há “uma dívida histórica creditada ao Estado central, dada sua culpa em ter criado as desigualdades regionais a partir de seu arbitrário comportamento em relação à distribuição dos recursos e incentivos públicos”. Müller nos alerta para o fato de que alguns trabalhos começam a chamar a atenção para o fato de que os descaminhos e entraves do nosso desenvolvimento residem também no modo como os poderes locais se comportam frente aquilo que a eles cabia ou lhes cabe hoje, ou seja, a oferta, a qualidade e o alcance de bens públicos que são transferidos para seu gerenciamento e aplicação. O que envolve analisar dimensões políticas e administrativas locais e regionais nem sempre relevadas como importantes ou mesmo como elementos explicativos para nossos problemas de desenvolvimento.
Haveria muito mais a explorar a respeito destes e de outros pontos apresentados nesta coletânea. Em cada um dos pequenos ensaios que a compõe há o grande mérito de buscar, por meio do debate intelectual, compreender as incompletudes e os déficits da nossa formação nacional. Não é sem razão que aqui se convoca o passado para pensar o nosso presente como História.
(Publicado originalmente como Prefácio ao livro de Vinícius Müller, A História como Presente – 46 pequenos ensaios sobre a História, seus caminhos e meios. Brasília: FAP, 2020)

Blog Horizontes Democráticos
Ensaios, caminhos e meios da História em novo livro de Vinícius Müller
Editada pela FAP, nova obra “A História como presente” reúne 46 ensaios e será lançada em evento online no dia 6 de agosto, às 19h
Cleomar Almeida, da equipe da FAP
Marca da história brasileira desde o Império, a centralização excessiva do Estado é ainda vista como “responsável pela má distribuição dos recursos e consequentemente dos determinantes do desenvolvimento regional”. Esta hipótese, porém, carrega o paradoxo de que apenas um Estado altamente centralizado seria capaz de inverter esse cenário. “Nada mais enganoso”.
Confira o vídeo do webinário!
A avaliação é do historiador e doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo (USP) Vinícius Müller, que se afasta do que chama de “turva visão”, criadora de narrativas exageradamente amparadas no comportamento do governo federal. Por isso, ele observa a importância dos municípios para o desenvolvimento.
Clique aqui e adquira já o livro escrito por Vinícius Müller
“É na ponta do sistema, ou seja, no município, que se revela e se manifesta de modo mais concreto a relação entre os indivíduos e o exercício da cidadania. Nesta relação que se encontra boa parte do segredo do desenvolvimento ou de seu contrário, o subdesenvolvimento”, escreve ele.
Lançamento virtual
A análise consta do novo livro “A História como presente: 46 pequenos ensaios sobre a História, seus caminhos e meios” (240 páginas), de autoria de Vinícius Müller. Editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília, a obra será lançada em evento on-line da entidade, no dia 6 de agosto, das 19h às 20h30. Está à venda na internet.

Professor do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) e do Centro de Liderança Pública (CLP), Müller reúne na obra textos escritos por ele entre setembro de 2017 e junho de 2020, divididos em 12 capítulos. Todos eles publicados na Revista Digital Estado da Arte, hospedada no portal do jornal O Estado de S. Paulo.
“Os textos, com algumas poucas exceções, não foram em princípio pensados e escritos para que formassem um corpo único e coerente entre si. Ao contrário, refletiam antigas preocupações e leituras que, ao calor dos acontecimentos, foram sendo rememoradas e refeitas”.
“Além da dicotomia”
Em um de seus ensaios, o autor sugere que o debate sobre o desenvolvimento “deve ir além da dicotomia entre ‘centralização e descentralização’ para alcançar níveis mais sofisticados de questionamentos”. Por isso, na avaliação dele, deve-se ampliar o olhar para os contextos locais.
Segundo Vinícius Müller, itens fundamentais ao desenvolvimento econômico e ao exercício da cidadania se encontram no entendimento do cotidiano das cidades. “Saneamento básico, educação, oportunidade de trabalho e geração de riqueza, habitação, acesso à saúde e segurança são, no mínimo, tão capitais ao desenvolvimento quanto debates sobre proteção à indústria ou taxas de juros”, analisa.
“Faltam-nos trabalhos sobre os municípios que superem seus isolamentos e nos revelem de forma mais orgânica e integrada como a riqueza, a desigualdade, a cidadania, os direitos e o desenvolvimento estão mais vinculados ao modo como as regiões se comportaram do que aos desígnios do poder central”, afirma, em outro trecho do livro.
O autor se sustenta em estudos como o da historiadora econômica Anne Hanley, norte-americana especializada em História do Brasil e pesquisadora com amplo trânsito na academia brasileira (The Public Good and the Brazilian State: Municipal Finance and the Provision of Public Services in São Paulo, Brazil 1822-1930).

“Antagonismo explicativo”
Historiador e professor aposentado da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Alberto Aggio assina o prefácio e vai participar de debate virtual de lançamento da obra. Segundo ele, Vinícius Müller “convida o leitor a ultrapassar uma visão modelar que, por décadas, gerou um apego a explicações e hipóteses calcadas no antagonismo como elemento explicativo da história do país”.
Em outro trecho, ao analisar a obra, destaca a questão de desenvolvimento levantada pelo autor. “Trata-se de ver na hipertrofia do Estado na história brasileira não um modelo de afirmação ou condenação, mas uma história eivada de ambiguidade ou mesmo um paradoxo que acabou gerando um labirinto para as forças políticas que buscam estabelecer projetos de futuro para o país”, ressalta.
O editor-chefe do Estado da Arte e responsável pela apresentação da obra, Eduardo Wolf, diz que “Vinícius Müller acertadamente recusou o ilusório do extremismo, aceitou o desafio do complexo tempo que nos coube viver e encontrou o caminho do meio”.
“Um exemplo nada óbvio disso o leitor encontrará no artigo ‘Pelo fim da ética do enfrentamento’, em que Müller fornece com discreta convicção sua aposta: ‘falta-nos a construção de uma ética que nos reorganize’”, diz Wolf. Ele também vai participar do debate online de lançamento do livro.
“Caminho incontornável”
Segundo o editor, o historiador não recorre a uma grande doutrina política vista como salvadora. “Não passa lições acerca do mercado ou das relações produtivas para ordenar em novos princípios as sociedades humanas; nada disso: é de um novo modo de valorar nossa relação com o outro que precisamos, e repassar a experiência histórica é caminho incontornável”, afirma.

Na avaliação do antropólogo e professor da Universidade de Campinas (Unicamp) Rodrigo Toniol, os 46 ensaios que compõem o livro não carregam as marcas das análises de conjuntura, apesar de refletirem o presente. “Inclusive, talvez esta seja a razão pela qual muitos dos textos aqui incluídos tenham antecipado debates que apenas meses ou anos mais tarde tenham ganhado fôlego no debate público mais amplo”, diz.
“Este é um livro que nos faz olhar para os ecos da história de um país em vertigem. Certamente isso não desfaz a gravidade dos fatos, mas é capaz de transformar o modo como nos relacionamos com eles”, assevera Toniol.
Além de dividir seu tempo com aulas e palestras, Vinícius Müller também é autor de “Educação básica, financiamento e autonomia regional: Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul” (Alameda, 280 páginas).Serviço
Lançamento virtual de livro
Título: A História como presente: 46 pequenos ensaios sobre a História, seus caminhos e meios” (Vinícius Müller)
Data: 6/8/2021
Horário: das 19h às 20h30
Onde: Portal, página no Facebook e canal no Youtube da Fundação Astrojildo Pereira (FAP)
Realização: Fundação Astrojildo PereiraLeia também:
Livro inédito de jovens de periferia escancara realidade da vida em favelas
Biografia de Rubens Bueno detalha luta pela democracia na vida pública
Novo livro apoia gestores e empreendedores a qualificar trabalho entre setores
Livro de Benito Salomão mostra perspectivas de desenvolvimento municipal
Escritor mineiro aborda detalhes de livro de contos em evento virtual
Bruno Leal: Departamento de História da UnB transmite aula inaugural sobre Salvador Allende
O Departamento de História da Universidade de Brasília (UnB) vai transmitir, ao vivo, a aula inaugural do seu próximo semestre. O convidado é o historiador Alberto Aggio, professor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista (UNESP). A aula vai analisar a experiência do governo de Salvador Allende. Allende foi presidente do Chile entre 1970 a 1973, quando foi deposto por um golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, chefe das Forças Armadas chilenas, e com apoio do governo dos Estados Unidos.
O evento acontece no dia 28 de julho, às 18h. A transmissão ocorrerá pelo canal do YouTube do Instituto de Ciências Humanas (ICH) da UnB. O evento é gratuito e não é preciso inscrição prévia. Qualquer pessoa poderá acompanhar a aula. A aula ficará disponível no canal do ICH permanentemente.
Aggio é doutor em História pela USP e tornou-se Professor Livre-Docente em História da América em 1999 e desde 2009 é Professor Titular da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), campus de Franca. Atuou como professor visitante na Universidade de Valencia (Espanha), onde realizou seu pós-doutorado entre 1997 e 1998. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Política, trabalhando com história política da América Latina contemporânea, cultura política e democracia, intelectuais e pensamento político, Gramsci e América Latina.
O historiador é autor do livro “Democracia e Socialismo: A Experiência Chilena”, que pode ser encontrado na Amazon. A obra também está disponível no formato Kindle.
*Bruno Leal é fundador e editor do Café História. É professor adjunto de História Contemporânea do Departamento de História da Universidade de Brasília (UnB). Doutor em História Social. Tem pós-doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pesquisa História Pública, História Digital e Divulgação Científica. Também desenvolve pesquisas sobre crimes nazistas e justiça no pós-guerra.
Fonte:
Café História
Marcus Oliveira: A política do moderno, de Marx a Gramsci
Em razão da alteração das experiências temporais, a modernidade possibilitou novas percepções em torno da política e da história. Como afirmou o historiador alemão Reinhart Koselleck, essa nova configuração temporal é estruturada em torno da expectativa de um afastamento radical entre o passado e o futuro. Fruto da modernidade, o pensamento de Marx elege a revolução como esse corte entre passado e futuro capaz de anunciar o horizonte de uma sociedade sem classes marcada pela emancipação do homem.
![]()
Iconografia – Marx e Engels na escritura do Manifesto Comunista de 1848
Apesar de ser um autor pouco sistemático e com uma obra bastante diversa, é possível observar que a revolução e a emancipação humana aparecem como preocupações constantes ao longo do trabalho de Marx. Em seus escritos, a discussão em torno da emancipação humana aponta para a incompletude dos processos revolucionários burgueses. A revolução francesa, ao encerrar o Antigo Regime, permitiu a construção dos direitos do homem, que, limitados pelo individualismo burguês, não perseguem a emancipação humana.
Para conduzir o processo revolucionário rumo a emancipação humana, Marx busca um sujeito universal capaz de superar os limites do individualismo burguês. O proletariado, na leitura de Marx, emerge como esse sujeito universal na medida em que, submetido a uma exploração total, é também o responsável pela recuperação total da humanidade.
Por meio das ações desse sujeito universal, a concepção de política elaborada por Marx aparece vinculada à possibilidade de recuperar a humanidade perdida ao longo da história. Nesses termos, a política aparece no horizonte de expectativa marxiano como um dos caminhos para o reencontro da humanidade consigo mesma. Todavia, essa perspectiva, aliada a essa dimensão histórica universal do proletariado, termina por enfraquecer essa concepção de política.
Embora fundamental para consecução de seu projeto emancipatório, a política é limitada pela leitura em torno da estrutura de classes do capitalismo. A garantia da ordem burguesa por meio da ação violenta do Estado impossibilita, em parte dos escritos marxianos, um desfecho político para a revolução. Nessa perspectiva, o avanço do proletariado acirra os conflitos de classe e se desdobra em um conflito violento, de modo que a política se encerra em uma guerra de classes.
Como apontou Carlos Nelson Coutinho, há alguns acenos de Marx em relação a uma perspectiva democrática e reformista para a obtenção de direitos e melhorias na vida dos operários. Todavia, tal perspectiva não foi inteiramente desenvolvida e, em boa medida, aparece submetida ao horizonte revolucionário.
Na transição para o século XX, as propostas reformistas, marcadas por uma visão teleológica e mecânica do marxismo, ganham espaço no movimento operário, nos partidos socialdemocratas e na II Internacional. No contexto da Revolução Bolchevique, Lenin, mais que criticar o que considerava os desvios reformistas do marxismo, reacende o horizonte revolucionário.
Contudo, a concepção política de Lenin incorre em problemas semelhantes aos de Marx. Ao retomar a concepção do Estado como aparato responsável para garantir violentamente a ordem burguesa, o voluntarismo de Lenin aposta na revolução como tomada do Estado e utilização desse mesmo aparato violento para a realização da ditadura do proletariado e da sociedade sem classes. Nesses termos, a necessidade da violência revolucionária anunciada por Marx é radicalizada por Lenin.
Após a revolução, em razão dos dilemas enfrentados na transição para o socialismo, Lenin produz algumas alterações em sua concepção política anterior, marcando a necessidade de um trabalho político no interior da ordem burguesa e também de uma crítica ao radicalismo esquerdista. Nessas reflexões, também não inteiramente desenvolvidas em virtude da sua morte, a possibilidade reformista aparece, ainda que subordinada a revolução.
No interior da tradição marxista, ao desenvolver leituras radicalmente inovadoras acerca da história e da política, Gramsci será capaz de solucionar essas tensões presentes em Marx e Lenin. Partindo do diagnóstico histórico de uma transformação morfológica no contexto histórico-político europeu, Gramsci afirma o cancelamento das revoluções. Esse cancelamento ocorre porque, na modernidade europeia, o fortalecimento da sociedade civil desloca a centralidade do poder estatal.
Canceladas as expectativas revolucionárias de assalto frontal ao poder do Estado, Gramsci busca a teoria da hegemonia como forma de compreensão e ação política na modernidade ocidental. Para tornar-se hegemônico qualquer grupo social precisa trabalhar politicamente para a construção de um consenso na sociedade civil, antes mesmo de alcançar o aparato estatal. Na leitura gramsciana, desenvolvida ao longo dos Cadernos do Cárcere, a construção dessa hegemonia ocorre a partir das disputas políticas entre os diversos grupos sociais. Realizar a hegemonia e exercer o poder na sociedade, mais que um exercício de força, implica uma ação política virtuosa no sentido atribuído por Maquiavel.
Com a elaboração da teoria da hegemonia, Gramsci resolve, concomitantemente, as tensões entre reforma e revolução presentes em Marx e Lenin, propondo uma concepção de política para além da revolução e da violência. Nesse sentido, a expectativa basilar do marxismo acerca da necessidade de emancipação humana é mantida em Gramsci. Todavia, liberada de um horizonte revolucionário, a realização dessa expectativa ocorre por meio da disputa política da hegemonia, dentro de uma moldura democrática. Para Gramsci, diferentemente de Marx e Lenin, é possível produzir grandes transformações históricas, mesmo que em durações mais ou menos longas, a partir de uma política democrática. Portanto, em razão dessa concepção forte de política, as contribuições de Gramsci para a contemporaneidade ultrapassam aquelas oferecidas por Marx e Lenin e permitem a formulação de projetos políticos para a contemporaneidade.
Fonte:
Blog Horizontes Democráticos
https://horizontesdemocraticos.com.br/a-politica-do-moderno-de-marx-a-gramsci/
Alberto Aggio: A teoria pura da revolução
“O dever de todo revolucionário é fazer a revolução”. Essa máxima tautológica, atribuída a Ernesto Che Guevara, tornou-se a senha para diversas gerações de militantes políticos que fizeram parte do que muitos chamam de “revolucionarismo” latino-americano. Nas palavras do historiador chileno Alfredo Riquelme, uma manifestação da “imaginação revolucionária” que incendiou as inúmeras correntes e grupos que emergiram nos “longos anos sessenta”[1], que se iniciam com a Revolução Cubana de 1959 e se prolongam até a derrubada de Salvador Allende no Chile em 1973.
Che Guevara e Fidel Castro
Também identificado como “ultraesquerda”, o revolucionarismo se antagonizou dura e permanentemente com todas as correntes de esquerda ou de centro-esquerda (ainda que tal terminologia não existisse na época) que buscavam patrocinar ou apoiar reformas que modernizassem ou tornassem menos desiguais as sociedades latino-americanas. Tais grupos assumiram a luta armada como ação política ou como perspectiva estratégica de seus programas revolucionários. Instalaram no seio da esquerda latino-americana uma “muralha chinesa” entre reforma e revolução, caracterizando os partidos políticos que não seguissem suas orientações como “tradicionais” ou simplesmente “reformistas”, mesmo que as reformas fossem projetadas dentro de uma perspectiva de “revolução processual” voltadas para o socialismo. Esse vigor antagonista era expressão de uma atitude reativa à esquerda latino-americana, especialmente aquela que se pautava pelo marxismo originário da Revolução bolchevique, ou seja, os Partidos Comunistas orientados por Moscou e que buscavam se atualizar em função das variações táticas de lá emanadas e “traduzidas” para seus países.
Apesar dessa busca incessante de apartação da esquerda prévia a ele, o revolucionarismo não conseguiu se desvencilhar dos pressupostos de orientação geral que marcaram historicamente o comunismo no século XX. Como anotou José Rodriguez Elisondo[2], era nítido o apelo à fórmula da “classe contra classe”, que se acoplava a outras noções, tais como, (1) o caráter do Estado burguês como simples aparelho de dominação de classe; (2) a validade da “ditadura do proletariado” e a fusão entre partido e Estado; (3) o caráter de “destacamento avançado” do partido revolucionário, composto por revolucionários profissionais; e, por fim, (4) a militância como “forma de vida” e a “vigilância revolucionária” como conduta permanente. Evidentemente, são pressupostos seletivamente assumidos. Não à toa deixa de aqui comparecer o Lenin crítico ao vanguardismo e à pequena-burguesia radicalizada.
Mas há no revolucionarismo uma espécie de sincretismo de ênfases e orientações que formam um mosaico, assumido caso a caso, no qual se prega a luta contra o “cerco capitalista” e a denúncia do “reformismo burguês” como “ala moderada do fascismo”; recusa-se o etapismo, afirmando o caráter internacional da revolução socialista; defende-se a tese de Mao Tse-Tung de que o centro da revolução mundial havia se deslocado para Terceiro Mundo ao mesmo tempo em que se critica o “aburguesamento” da então União Soviética e sua política de “coexistência pacífica”; por fim, last but not least, sob a influência da chamada “nova esquerda” da década de 1960 (H. Marcuse e Wright Mills) adota-se o ódio à “sociedade de consumo” e se sugere que os intelectuais passem a compor uma “nova formação revolucionária” que tivesse como base a aliança entre intelectuais, estudantes e setores marginalizados, em geral.
É mais do que evidente que o revolucionarismo latino-americano se expandiu a partir de uma leitura mitológica da Revolução Cubana. Dela emerge um “modelo” de revolução concebido como único para o continente. Nele estão algumas fórmulas que se tornaram verdades insofismáveis, a começar pela visão geral de que a revolução foi impulsionada por “um punhado de homens decididos e audaciosos” que abriram passagem para o “povo” se constituir na força motriz da revolução. Esse “punhado de homens” se constituiu na direção política da revolução, substituindo o partido operário-socialista, e, acima deles, emerge a figura carismática do líder revolucionário. Contestando fortemente os pilares do comunismo soviético, a pedra de toque dessa leitura se fixava na ênfase de que a base guerrilheira e logística da revolução é camponesa e não uma organização partidária operária e popular. Soldando essas formulações, cria-se o axioma de que a revolução cubana nasce do “atraso”, mas assume seu caráter anti-imperialista e se coloca a tarefa da construção do socialismo. É, portanto, uma revolução que realiza o chamado “salto” do capitalismo, superando a tese da necessidade de uma etapa “democrático-burguesa”. Por tudo isso, o socialismo cubano seria uma “criação heroica”, única e desafiadora para o mundo intelectual vinculado ao marxismo anterior a ela.
As derivações da leitura mitológica da revolução cubana para as teses gerais que fundamentaram o revolucionarismo latino-americano podem ser sintetizadas, de acordo com José Rodriguez Elizondo, em seis pontos: 1. a revolução latino-americana é continental; 2. seu caráter é socialista pois o desenvolvimento capitalista no continente é obstaculizado pela dependência que cancela a possibilidade de a burguesia nacional liderar uma revolução democrático-burguesa; 3. a forma e o método é o da luta armada, concebida como “uma forma superior de luta”; 4. em função da defasagem do proletariado latino-americano em relação aos países mais avançados, a pequena-burguesia assume o papel dirigente da revolução; 5. a revolução pede alianças entre frentes e polos revolucionários – e não alianças entre classes – para confrontar tanto o inimigo estratégico, o imperialismo, quanto o inimigo tático, a burguesia local; 6. os partidos comunistas latino-americanos não são instrumentos revolucionários válidos porque se burocratizaram, são etapistas, privilegiam as diferenças entre os países latino-americanos ao invés da sua homogeneidade, negam o caráter socialista da revolução, adotam condutas pacifistas e se submetem a frentes políticas amplas[3].
A partir desta visão formou-se no continente o que se pode chamar de uma “militância da revolução cubana” que teve muita influência por toda a década de 1960. Entretanto, depois de um primeiro momento de acumulação de forças, o “partido da revolução cubana” se enfraqueceu, golpeado pelo impacto da morte de Che Guevara, na Bolívia, em outubro de 1967, a derrota da revolta de maio de 1968, em Paris, e, por fim, a invasão da Checoslováquia pelas tropas do Pacto de Varsóvia, em agosto do mesmo ano. Estes acontecimentos exacerbaram os sentimentos anticomunistas da ultra-esquerda latino-americana. No tocante ao Che, pela suposta “traição” do PC boliviano. Em relação ao maio parisiense, pela generalização da avaliação de que “os comunistas têm medo da revolução”. E, quanto a Checoslováquia, passou a pesar a qualificação da URSS como uma potência imperialista, que encobria este caráter com a retórica revolucionária.
Quando Fidel Castro visitou Salvador Allende no Chile, no final de 1971, permanecendo no país por 24 dias[4], o cenário mundial era bastante diferente daquele no qual a revolução trinfou em Cuba. A revolução era, por certo, uma retórica compartilhada, mas a obsessão do revolucionarismo havia se deslocado para o tema do socialismo. Por esse entendimento, é explicável que Fidel tenha admitido, em parte e apenas publicamente, a “insólita” existência de uma via chilena ao socialismo como uma “via política ao socialismo” (Allende), embora discordasse inteiramente dela. Aliás, naquele momento, Cuba já havia alterado sua orientação, aliando-se incondicionalmente a URSS e julgava que o fundamental era manter o poder conquistado, arrefecendo a ênfase anterior de promover outras revoluções a todo custo. De fato, anos mais tarde, numa entrevista a Newsweek, em 09 de janeiro de1984, Fidel esclareceria que a estratégia guerrilheira na América Latina era uma das muitas variáveis de defesa do regime revolucionário cubano, ao contrário do que se havia afirmado na década de 1960 de que a revolução na América Latina “caia de madura”. Nas palavras de Fidel: “Nem ao menos oculto o fato de que, quando um grupo de países latino-americanos, sob a direção e inspiração de Washington, não apenas buscou isolar Cuba politicamente, mas a bloqueou e patrocinou ações contrarrevolucionárias (…) nós respondemos, num ato de legítima defesa, ajudando a todos aqueles que queriam combater contra esses governos”[5].
Os pressupostos da teoria pura da revolução acabaram se cristalizando e diversas gerações os assumiram e os vivenciaram sem espírito crítico. Mesmo admitindo que, com o tempo eles sofreram ajustes, alterações ou mesmo supressões, é importante estabelecer uma avaliação rigorosa a respeito das orientações que sustentavam o chamado “processo revolucionário latino-americano” que aquela “teoria” supunha. Isso é ainda mais importante porque ela ainda influencia significativas parcelas da esquerda latino-americana além de inúmeros intelectuais que trabalham em diversos campos do conhecimento na área de Humanidades.
Expressando claramente o caldo de cultura de abstracionismo existente na época, o mito da revolução vitoriosa acabou por sustentar a construção de um modelo que, ao ser tomado como “universal”, se voltou contra a História. Cultuou-se um modelo alternativista que via a política a como jogo de soma zero, evitando funcionar dentro de um sistema político que obrigava os atores a partilharem um consenso mínimo; produziu-se um modelo de antipolítica, essencialmente. Essas posições tinham correspondência com uma postura confrontacionista no plano internacional, que compreendia a América Latina como vanguarda do Terceiro Mundo e tratava como inevitável o confronto com os EUA. Che Guevara qualificava os EUA como a “mais bárbara nação do mundo”, o “grande inimigo do gênero humano”. Isso contrastava, por exemplo, com a postura do Vietnam que preferiu atuar dentro dos EUA, explorando as suas divisões internas. No plano nacional, como não poderia ser diferente, o modelo supôs a existência de dicotomias excludentes: o Estado é o aparelho de coerção que precisa ser tomado; o Exército é a versão concentrada do Estado como expressão da violência contra as classes dominadas; o Direito sublima as relações de força e institucionaliza a exploração das maiorias; as classes sociais são a representação de explorados e exploradores; os partidos políticos fazem apenas o jogo das classes dominantes e estão destinados a desaparecer.
Não há como eludir o resultado de que toda essa formulação só poderia redundar numa nova ditadura de classe, flagrantemente autoritária. A democracia e a liberdade se tornam, aqui, categorias subjetivamente instrumentais: a democracia dos exploradores não é, em nenhum aspecto, a dos explorados e as liberdades de alguns são derivadas das carências de outros, sem uma área intermediária. Em síntese, democracia e liberdade devem ser revolucionárias e isto significa que devem servir para garantir a implantação de uma nova ditadura. É inexplicável como poderá nascer daí uma sociedade nova, um “homem novo”.
![]()
Assim, mais que interpretar ou revolucionar o mundo, a teoria pura da revolução serve para afastar da reflexão a complexidade da realidade. Ela é simplesmente “falsa consciência”, pura ideologia. Sua imaginação funciona para eludir um jogo intelectual de tipo circular, exercitado nos seguintes termos: a impaciência revolucionária se justifica pelo “atraso histórico”, levando à busca de um atalho revolucionário que permita, por sua vez, recuperar o tempo perdido … que justifica, uma vez mais, a impaciência revolucionária.
Mirando historicamente, o resultado não é outro senão o fracasso: não se implantou uma “nova sociedade”, nem em termos revolucionários, nem em termos reformadores. Nesse sentido, perdeu tanto a reforma como a revolução. Nenhum dos teatros de operação da região serviu como suporte para levantar e sustentar uma “segunda Cuba”. Tampouco para consolidar aquelas transformações estruturais que alguns governos reformadores vinham colocando em prática.
Ao contrário da imagem europeia que qualifica a década de sessenta como uma “década prodigiosa”, na América Latina ela foi, antes de tudo, “uma década perdida”, especialmente para aquela esquerda que aderiu à teoria pura da revolução. Foi preciso atravessarmos o século e o milênio para vermos emergir, em traços ainda bastante rudimentares, uma esquerda ainda sem nome próprio, que ainda coqueteia como aqueles paradigmas e claudica em se conformar como um ator distinto do que foi no passado e do que é na atualidade.
[1] RIQUELME S. Alfredo, “La vía chilena al socialismo y las paradojas de la imaginación revolucionaria”. In Araucaria. Revista ibero-americana de Filosofia, Política y Humanidades, año 17, n. 34, segundo semestre de 2015, p. 203-230.
[2] RODRIGUEZ ELIZONDO, J. Crisis y renovación de las izquierdas – de la revolución cubana a Chiapas, pasando por “el caso chileno”. Santiago: Andres Bello, 1995, pp.131-167. A expressão que dá título e que inspira diversas passagens desse artigo é de José Rodriguez Elizondo.
[3] RODRIGUEZ ELIZONDO, J., 1995.
[4] AGGIO, A. “Uma insólita viagem: Fidel Castro no Chile de Allende” In AGGIO, A. “Um lugar no mundo – estudos de história política latino-americana. Brasília: Fundacão Astrojildo Pereira, 2ª. Edição, 2019, p. 121-136.
[5] RODRÍGUEZ ELIZONDO, J. “El invierno del Messías”. La Tercera. Santiago, 28 de octubre de 2001. p. 9 (Cuaderno Reportajes intitulado El invitado que saboteo a Allende).
Fonte:
Blog Horizontes Democráticos
https://horizontesdemocraticos.com.br/a-teoria-pura-da-revolucao/
(Artigo publicado simultaneamente em Estado da Arte, 08 de maio de 2021; https://estadodaarte.estadao.com.br/teoria-pura-revolucao-aggio-hd/)
Alberto Aggio: A experiência chilena, 50 anos depois
Há 50 anos o Chile vivia uma experiência política extraordinária. Foi o período em que Salvador Allende governou o país, depois de ter vencido as eleições em 1970 e, quase três anos depois, ser deposto por um golpe militar, em 11 de setembro de 1973.[1] Tão logo se começa a rememorar o período vêm à mente as imagens que correram o mundo ao registrarem o assalto ao Palácio La Moneda, em Santiago. Cenas chocantes especialmente em se tratando de um país que cultivava, interna e externamente, a imagem de estabilidade política e solidez institucional.

O que ocorreu para que se chegasse a tal ponto? Até hoje, 50 anos depois, essa pergunta é feita e há muitas respostas para ela, tanto quanto as incógnitas que permanecem submersas. Diversos aspectos são apresentados como fatores explicativos. Dentre eles, o fato de que Allende tornou-se Presidente mas seu apoio eleitoral era minoritário, uma vez que havia sido eleito com apenas 36% dos votos e sua posse aprovada, em segunda instância, pelo Congresso; que as forças políticas da época se dividiam em três — os liberais e nacionalistas, a democracia-cristã e o eixo socialista-comunista —, com projetos de sociedade distintos, o que dificultou a convivência e o equilíbrio do sistema político ao extremarem suas posições; que as reformas implementadas por Allende, aprofundando a reforma agrária, estatizando bancos e empresas, evidenciaram-se excessivamente maximalista e o caminho adotado para realizá-las, por meio do Executivo, acabaram abrindo espaço para a contestação e a ingovernabilidade; que o apoio dos EUA à oposição e, por fim, ao golpe de Estado, não deixam dúvidas a respeito da transcendência do que se passou no Chile, um dos palcos da confrontação acionada pela “guerra fria”.
Os três anos nos quais Allende governou o Chile são identificados como a experiência chilena, que mesmo depois do golpe militar continuou a provocar uma sensação paradoxal, constituindo-se numa referência positiva e negativa em razão do fracasso da chamada via chilena ao socialismo, que acalentava a ideia de que seria possível a construção do socialismo mediante a manutenção e o aprofundamento da democracia. Tratava-se de uma proposição inédita, de repercussão universal.
Por muito tempo fez-se uma discussão reducionista da via chilena ao socialismo. Para alguns era mais uma ilusão reformista; para outros, ensaiava-se uma perspectiva nova de construção do socialismo. Entre os protagonistas, as avaliações posteriores tenderam a reproduzir a divisão que habitava a esquerda chilena do período Allende.[2] Imerso nesse antagonismo anacrônico, onde inutilmente se busca uma “saída” para o governo Allende, o passado permanece envolto numa bruma que não se dissipa.
VIA CHILENA E VIA DEMOCRÁTICA AO SOCIALISMO
Em diversas oportunidades Allende usou a expressão via democrática para qualificar melhor a opção que a esquerda deveria seguir no Chile. Esta expressão, para Allende, enfatizava a forma de luta e o comportamento político que a esquerda deveria adotar no exercício do poder. Foi neste sentido que suas referências à via democrática acabaram por selar uma identificação entre processo (experiência chilena) e projeto (via chilena ao socialismo) que, juntos, passaram a ser vistos como uma experiência prática de aplicação daquilo que nas perspectivas teóricas da esquerda ocidental se chamava — ainda que de uma maneira um pouco difusa — de via democrática ao socialismo.

No entanto, a história não corrobora esta identificação. Mesmo que Allende jamais tenha se afastado dos procedimentos democráticos, a experiência chilena apenas pode ser compreendida como uma tentativa de realização prática dos pressupostos da via chilena, uma vez que o projeto que a embasava nem sempre fora compreendido no interior da UP como uma via democrática ao socialismo. A identificação entre via democrática e via chilena ao socialismo não se configurou como uma linha política clara e hegemônica nem no governo nem entre os partidos que o apoiavam. Tratava-se de uma estratégia bastante inovadora para os dois principais partidos da esquerda chilena, o PC e o PS. Para ambos, a superação do Estado burguês no processo revolucionário chileno se concluiria com o estabelecimento da ditadura do proletariado, única situação em que se poderia pensar a implantação do socialismo. Para o PC, era necessário chegar ao momento da ruptura mantendo a institucionalidade; para o PS, era preciso resolver a questão do poder e formar um Estado paralelo fundado no “poder popular”. Em suma, para os dois partidos, a particularidade chilena confirmaria, mais uma vez, as leis universais da revolução.
Está claro, portanto, que aquela esquerda concebia a via chilena apenas como um elemento de retórica, um slogan, um artifício de unidade e mobilização. A via chilena constituiu-se apenas numa “anunciação” e não numa aplicação da via democrática para o socialismo. A cultura política convencional que governava a cabeça da esquerda chilena — mas não apenas dela — não permitiu que se pensasse na ideia de que a democracia era ou poderia ser “a via” do socialismo. Isto somente iria começar a ser formulado em outro contexto e em função das lições que foram extraídas do golpe de 1973.[3]
Esse caráter anunciador do projeto da via chilena, mais intencional do que dirigente de uma grande política, perdeu poder de atração e eficácia no decorrer do governo, diluindo-se na imperiosa necessidade de manter unida a coalizão de esquerda como forma de sustentação política. Do ponto de vista prático, o que ocorreu foi que a via chilena ao socialismo de Allende acabou por reduzir-se a um conjunto de operações táticas frente à economia e ao aparelho de Estado. Mesmo Allende supunha que o processo se encaminharia para uma situação de ruptura na qual se poderia transformar o Estado vigente em Estado antagônico ao capitalismo. A via socialista deveria ser capaz, nestas circunstâncias, de articular simultaneamente criação socialista e resolução do problema do poder como processos construtivos de desarticulação da dominação capitalista. Aqui ressoam ecos fortes do “socialismo de esquerda europeu” que, à época, criticando o comunismo soviético e a socialdemocracia, procurava encontrar uma alternativa que vinculasse reforma e revolução. Mas o resultado foi outro: fraturada, a UP não executou nem desenvolveu a via chilena ao socialismo e o que nela se anunciava como uma possibilidade de caminho democrático ao socialismo.
A experiência chilena de Allende e da UP evidencia que foi impossível seguir adiante sem a construção de consensos e de instituições que dessem suporte às transformações estruturais colocadas em curso. Seu fracasso deixa explícito que aquela era uma revolução que se tornou impossível por conta da cultura política convencional que marcava a esquerda da época diante do caminho escolhido: transitar ao socialismo por meio da democracia.
DE UM CHILE A OUTROS: IMAGENS DA EXPERIÊNCIA CHILENA
Toda metáfora quer dar corpo concreto a uma impressão difícil de exprimir. Sua forte produtividade heurística, a despeito das imprecisões, cumpre um papel de síntese, procurando assegurar, por meio de um custo muito pequeno, o máximo rendimento comunicativo. Em relação à experiência chilena, alguns analistas se mantiveram prisioneiros à imagem da tragédia como síntese daquele processo, predeterminado ao fracasso. A história aqui é vista como uma aproximação a um fim inexorável, o que impossibilita que se investigue as estratégias, cálculos e erros, bem como o grau de responsabilidade dos atores envolvidos, dimensões sem as quais não se explicariam os três anos de governo, suas razões, suas dificuldades e seus limites.

O cientista social Tomás Moulian buscou outra angulação. Para ele, o período da UP expressou simultaneamente “festa e drama”, foi “excitante e efervescente” bem como “doloroso e traumatizante”.[4] Havia uma dimensão positiva, de festa popular — uma dimensão erótica —, mas também uma face negativa, marcada pela imposição do regime ditatorial que sucedeu ao golpe de Estado. “Festa e drama” eram duas caras de uma mesma moeda. A festa assumia “a forma de uma catarse vingativa, adotava o caráter de uma vingança por anos de sofrimento, silêncio e impotência”; “não era alegre, tinha a gravidade dos ritos, onde o povo se assume como juiz”; “expressão de uma pulsão escatológica” em que se acreditava ter chegado o “momento do acerto de contas”, momento definidor em que o povo capturava o futuro para si, imagem condensada na ideia de “revolução triunfante”. O drama, por sua vez, materializou-se na “encarniçada batalha política”, na emergência de uma “situação de crise catastrófica gerada e produzida (no seu sentido forte) pelas decisões adotadas, em diferentes conjunturas do processo, pelos atores em conflito”. Nessa leitura, a crise de 1973 é ainda vista como derrota da UP, evitando-se aludir ao fracasso de um governo conduzido pela esquerda.
Quase 10 anos depois, Moulian retoma o turbilhão de imagens para recontar a história da UP, agora no contexto do “transformismo” pós-ditatorial[5]. No novo contexto, o período Allende representa um Chile romântico, o avesso do Chile da Concertación[6], onde predomina a negociação, o pragmatismo político, o consumismo, etc. O romantismo da UP assumiria um “pathos trágico”, típico da adolescência. Seu desfecho, um “doloroso aborto”, imagem que sugere a explosão de violência que se impôs depois de 1973.
Para Moulian, o Chile “transformista” dos tempos da Concertación, evidenciando outra cristalização identitária, equivoca-se ao criar o mito da transição modelar da mesma forma que se equivocou ao mistificar o “Chile democrático” anterior à catástrofe de 1973. “Verniz e aparência”, diz o nosso autor: “a estabilidade da democracia chilena até a década de sessenta sustentou-se mais em razão de suas imperfeições do que de suas perfeições”. A estabilidade chilena, como “nossas ilusões”, continua, não se baseava “no enraizamento da democracia na cultura, nos valores incorporados com força quase atávica”[7].
O Chile do final da segunda década do século XXI já é inteiramente outro. O período da Concertación se foi com a alternância de poder com a direita democrática. Mas, o Estado de “mal-estar social”, marcado por extensas desigualdades e a manutenção da Constituição de 1980, herdada do período Pinochet, acabaram por gerar o que ficou conhecido como o “estallido” de outubro de 2019, quando multidões desceram às ruas de forma tão imponente quanto surpreendente. Essa explosão social forçou o acordo político que iria dar sustentação à realização de um Plebiscito quase um ano depois no qual se aprovou os termos de realização da eleição e funcionamento de uma Assembleia Constituinte, responsável pela elaboração de uma nova Constituição.

Afirmar que há uma identidade entre essa “irrupção de massas” e a vitória de Allende em 1970 alimenta equívocos. A eleição de Allende em 1970 não tem nada semelhante ao outubro de 2019. A catarse dos cânticos da UP nas ruas de Santiago, em outubro de 2019, pode iludir a quem pensa em fazer a História voltar atrás. No prefácio a um livro coletivo sobre os 50 anos da UP[8] Tomás Moulian chama a atenção para a impossibilidade de se repetir aquele processo. Também cantada nas ruas em 2019, “El baile de los que sobran”, do álbum Pateando piedras (1986), da extinta banda, Los Prisioneros, talvez sinalize mais realisticamente o que se pensa ultrapassar e o que se ambiciona alcançar.
Hoje o Chile de Allende e da UP está bastante distante do universo político que anima os jovens que saem às ruas e pedem mudanças estruturais para o País. Se há alguma atualidade daquele Chile nos dias de hoje ela não está na expectativa de se retomar os pressupostos do projeto de construção do socialismo por meio da democracia, mas na compreensão dos dilemas políticos que, hoje, vivenciamos e que assumem dimensões universais. A experiência chilena deve ser vista, portanto, como um ponto de inflexão na necessidade de superação da cultura política da revolução, sem a qual não haverá possibilidade de redirecionamento das políticas da esquerda para o enfrentamento dos problemas e impasses da democracia, entendida como a projeção civilizacional do nosso tempo, capaz de garantir transformações históricas sem a perda das liberdades e das individualidades. O fracasso da experiência chilena demonstra que o tempo da revolução é incompatível com o tempo da política. Enquanto o primeiro é marcado pela urgência da tomada do poder, o segundo reconhece que as transformações históricas devem ocorrer a partir de consensos pactuados politicamente no interior de uma moldura democrática.
Notas:
[1] Allende foi candidato pela Unidade Popular (UP), uma coalizão de esquerda que tinha como eixo os Partidos Comunista (PC) e Socialista (PS), mais os Radicais, o partido Socialdemocrata, a Ação Popular Independente e o Movimento de Ação Popular Unificado (MAPU); o golpe militar foi liderado pelo general Augusto Pinochet que imporia uma ditadura por 17 anos.
[2] AGGIO, A. Democracia e socialismo: a experiência chilena. Curitiba: Appris, 3ª. Ed. 2021.
[3] O início do reconhecimento dessa perspectiva se dá nos três artigos de Enrico Berlinguer, líder do Partido Comunista Italiano (PCI), publicados em 28 de setembro e 5 e 12 de outubro de 1973 em Rinascita, que dão corpo ao chamado “compromesso storico” entre o PCI e a DC. Ver Vacca, G. L`Italia contesa – comunisti e democristiani nel lungo dopoguerra (1943-1978). Venezia: Marsilio, 2018, p. 266 (há uma tradução brasileira no prelo pela Editora da Unicamp).
[4] MOULIAN, T. “La Unidad Popular: fiesta, drama y derrota”. In GAZMURI, J., Chile en el umbral de los noventa. Santiago: Planeta, p. 27-41, 1988.
[5] MOULIAN, T. Chile Actual, anatomía de un mito. Santiago: LOM/Arcis, 1997.
[6] A Concertación de los partidos por la democracia nasce no plebiscito de 1988 como Concertación por el No. Foi formada por diversas forças oposicionistas, menos o PC. Em 1990 vence as eleições presidenciais com Patricio Aylwin. Vários Presidentes eleitos pela Concertación governaram o Chile sucessivamente até 2010.
[7] MOULIAN, T., 1997, p. 166.
[8] HENRY, R. A., SALÉM V., J. y CANIBILO R., V. (comps.) La vía chilena al socialismo 50 años después, Tomo II. Buenos Aires: CLACSO, 2020. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201201032252/La-via-chilena-al-socialismo-Tomo-II.pdf
(Publicado simultaneamente em Estado da Arte, 02.04.2021: https://estadodaarte.estadao.com.br/chile-allende-aggio-horizontes/)
Alberto Aggio: O que mudou
A decisão de 08 de março do Ministro Edson Fachin, do STF, que, no fundamental, garante elegibilidade a Lula (PT) na corrida presidencial de 2022, gerou um verdadeiro terremoto nas relações de força entre os principais atores políticos.
Na forma como se deu, contestando a validade do fórum de Curitiba no qual protagonizava o ex-juiz Sérgio Moro, o fato equivale a uma profunda derrota do chamado “tenentismo de toga” (Werneck Vianna) expresso na operação Lava-Jato durante os últimos anos. Em função da visão messiânica que visava a regeneração da Nação, tal movimento colocou em suspensão toda a política brasileira e o resultado foi a identificação da política com corrupção. A Lava-Jato foi mais uma face da ideia de que o País necessita de uma ruptura histórica e, por essa razão, contribuiu para a emergência de fenômenos de antipolítica que grassam desde 2013.
Independente das suas intenções e aparentemente sem uma estratégia definida, a adesão de Sergio Moro ao governo Bolsonaro, a partir de 2018, implicou uma aposta de alto risco que, por fim, fracassou. Sua saída do governo não redundou em força para o movimento. A Lava-Jato restou parada no ar e se enfraqueceu. Agora, atingida no coração, seu destino parece estar selado. Em sentido profundo, mitigar ou tentar eliminar a política e sobrepô-la pela dimensão jurídica, concentrando suas ações num único ponto, a corrupção, apenas confirmou que este não pode ser o caminho da política democrática com vistas a resolver os principais problemas do País nem o orientar em direção ao futuro.
O retorno de Lula ao centro da cena tem inúmeras repercussões e guarda muitos significados. De um ponto de vista conjuntural representou um respiro frente a um governo como o de Bolsonaro. Diante dele, a sociedade parece atônita e vulnerável, acossada pela pandemia e a persistente elevação do número de infectados e mortos. Lula se apresentou e rapidamente foi identificado com a vitalidade que a oposição deve ter. Com isso, a musculatura do polo petista sai fortalecida não só em função da sua popularidade, mas também porque isso gera desestabilização em outras candidaturas por seu poder de atração. Além disso, antigos aliados serão desafiados e o próprio Centrão, até agora em deriva inercial rumo à candidatura de Bolsonaro, deverá repensar seus futuros passos.
Mas há um engodo nessa história. Claro está que a retomada dos direitos políticos de Lula não equivale a absolvição de todas as acusações que existem contra ele. Essa narrativa é falaciosa, Lula não foi absolvido. O ex-presidente retorna à politica, com todos os seus direitos, por uma tecnicalidade jurídica que tardou a ser admitida e não por sua absolvição.
O discurso de Lula no sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo serviu para instituir o teatro de que ele é a única contraposição à estratégia destruidora da democracia de 1988 que Bolsonaro vem estabelecendo desde sua posse. O que é outra falácia. Há resistência a Bolsonaro desde a posse, fortemente demonstrada nas eleições municipais de 2020, especialmente nas capitais. No contexto da pandemia tal resistência se expressa na defesa do SUS e na contraposição dos governadores, especialmente o de São Paulo, no tocante à vacina. Os petistas querem fazer crer que somente eles se opõem a Bolsonaro e mantêm o estilo de sempre: mitificam Lula, despreocupados em ampliar o arco de alianças para enfrentar Bolsonaro desde o primeiro turno.
Há uma soberba nisso tudo. Lula permaneceu em silêncio até esse momento e as agressivas manifestações bolsonaristas não são contra ele, mas contra aqueles que estão na chuva e no sol criticando o atual presidente. O PT tem feito uma política errática no Parlamento que contém lances de ambiguidade em relação ao bolsonarismo, tal como se observou na votação para as presidências das duas Mesas no Congresso bem como nas principais comissões.
Por outro lado, há questões a serem recuperadas na história do PT e de Lula. Ambos coquetearam com a antipolítica desde as primeiras lutas pela redemocratização e foram vigorosos representantes dela no processo que gerou a Constituição de 1988. Ambos são a expressão de uma esquerda que promete a nova sociedade aos “de baixo” mas apenas lhes dá inclusão via consumo. Enquanto aos “de cima” garante estabilidade e ampliação de ganhos. Lula é a esquerda antirreformista que estabiliza o capitalismo brasileiro na fase da globalização, depois da integração a ela promovida por FHC. É uma esquerda adaptada ao contexto histórico, o que é positivo, mas é uma esquerda sem conceito, que negocia tudo para garantir seu projeto de poder com o apoio de movimentos fragmentados nascidos da sociedade pós-industrial. É uma esquerda mais do “mundo da vida” do que do “mundo da produção”, apesar de daí ter nascido. Lula não precisa de esforço algum para definir seu inimigo na contenda eleitoral de 2022. Ele retomará a posição de ataque a quem está no poder, como sempre fez, de Sarney a FHC, e assumirá a dissimulação de ser um ator benfazejo a todos e a todas.
As reações de Bolsonaro à volta de Lula são evidentes, embora demonstrem alguma desorientação. A adoção de uma atitude mais responsável frente à pandemia é apenas um dado superficial. Do ponto de vista discursivo, Bolsonaro poderá recuperar a narrativa antissistema, criticando a decisão judicial que favoreceu Lula e identificando o petismo com o status quo. Bolsonaro será seduzido por seus apoiadores a radicalizar essa posição e voltar à lógica da guerra. A palavra de ordem desse grupo é o golpe. Provavelmente Bolsonaro vai ceder espaço a isso, evitando muito envolvimento. Aqui também a estratégia é a da dissimulação: retomará o antipetismo, embora tenha perdido seu aliado fundamental, o ex-juiz Sérgio Moro. Nesse sentido, a campanha de 2022 não poderá se servir inteiramente desse ponto de força como foi em 2018. Outro elemento de fragilidade de Bolsonaro está, como todos sabem, na desastrosa condução frente à pandemia, deixando o País sem as vacinas de que necessita.
Portanto, a estratégia de destruição de Bolsonaro não pode lhe garantir, como antes, uma passagem lisa e tranquila para o terreno eleitoral. Reduzir-se apenas aos seus, àqueles que professam essa estratégia, pode ser uma aposta de alto risco para chegar ao segundo turno e depois perder. Por fim, a última alternativa seria, fragilizando-se ainda mais, se reduzir a um candidato do Centrão, retornando à expressão de um candidato do “baixo clero” – e isso se o Centrão não se movimentar pragmaticamente em direção a Lula.
O terremoto provocado pelo retorno de Lula afetou diretamente a todos postulantes à presidência em 2022. É inevitável que Ciro Gomes mantenha sua beligerância tanto contra Lula e o PT, quanto contra o ex-juiz Sergio Moro. No entanto, sua resiliência não encontra equivalente em sua capacidade de agregação. Envolvido diretamente, Moro será forçado a se pronunciar: ou contra-ataca, lançando-se definitivamente candidato ou se retira de uma vez da contenda eleitoral.
O fato é que se o centro político já encontrava dificuldades de unificação em torno de uma candidatura, com os partidos inteiramente divididos, o retorno de Lula veio carrear mais obstáculos. Independentemente dos nomes ou pela profusão deles, o centro permanece invertebrado. Em verdade, ainda não existe do ponto de vista eleitoral e a grande incógnita é se conseguirá se configurar como um fator de poder para atrair aliados e eleitores.
A premissa de que o centro deveria ser um ponto intermediário entre dois extremos perde força com o retorno de Lula, que, a partir da esquerda, se move com facilidade para o centro. De outro lado, o desastre que significa o governo Bolsonaro impõe uma condição: não há como o centro se apresentar a não ser em oposição a Bolsonaro. Mas terá que buscar um discurso e uma estratégia distinta do lulopetismo, sem ser antagônica a ele. Pensando na rearticulação e no futuro da Nação, o centro terá que se reinventar: sua única saída é ser um “centro excêntrico”, um novo polo de agregação, com programa próprio e alternativo. Uma operação dificílima, obviamente, e talvez já tardia, ainda mais se tiver que cuidar também para que sua candidatura consiga fazer frente a duas “potências de audiência”, como Bolsonaro e Lula.
Tudo mudou, mas infelizmente o nosso flagelo frente a pandemia se agravou. Mas com força e resiliência, mais as vacinas, o País pode superar o vírus e … Bolsonaro.
*Professor Titular de História da UNESP-Franca-SP
"Bolsonaro não é só um mau soldado. É um fascista incapaz", afirma Alberto Aggio
Em entrevista exclusiva à Política Democrática Online de março, professor da Unesp avalia o governo do presidente como “ameaçador à democracia”
Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP
O historiador e professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista) diz que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “gostaria de ser um líder fascista, mas ele fez a vida dentro do Estado, como militar e como parlamentar”. A declaração ocorreu em entrevista exclusiva publicada na edição de março da revista Política Democrática Online.
Com periodicidade mensal, a revista é produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania. A versão flip, com todos os conteúdos, pode ser acessada gratuitamente na seção de revista digital do portal da entidade.
“Fascismo caricatural”
Mestre e doutor em História pela USP (Universidade de São Paulo), Aggio afirma que “o fascismo de Bolsonaro é caricatural”. “Sua inclinação é muito mais tradicionalista, de uma sociedade fechada. Bolsonaro é o anti-Popper, é visceralmente contra a sociedade aberta”, critica o professor.
Aggio, que é diretor do blog “Horizontes Democráticos”, voltado para o debate da política contemporânea no Brasil no mundo, também afirma que o presidente é “um pragmático”. “Mas por ser mentalmente restrito é alguém que não tem capacidade de ampliação pelo que ele representa. Em suma, não é efetivamente um líder”, analisa.
Com pós-doutorado nas universidades de Valência (Espanha) e Roma3 (Itália), o historiador afirma que, pelos acordos políticos que estão conseguindo impedir o impeachment, Bolsonaro pode conseguir a reeleição. Mas com uma condição: “Se seus opositores errarem muito, e infelizmente sabemos que isso pode acontecer”, afirma.
Agruras
Na entrevista à revista da FAP, Aggio explica que o fascismo nasceu da sociedade, das agruras do pós-Primeira Guerra. No fundo, de acordo com ele, “Bolsonaro é não só um mau soldado, como disse o General Geisel, mas é também um fascista incapaz”.
Segundo o entrevistado, além da ligação com os militares, a vinculação do presidente com a religião é instrumental, a pauta de costumes reacionária, tradicionalista. “Bolsonaro espelha melhor um regime autoritário a la Salazar ou Franco, do que a la Mussolini ou Hitler, esses, sim, carregaram um projeto ativo e moderno de mundialização, mas foram derrotados”, diz.
Leia também:
“Governo Bolsonaro enfrenta dura realidade de manter regras fiscais importantes”
Brasil corre risco de ter maior número absoluto de mortes por Covid, diz revista da FAP
Face deletéria de Bolsonaro é destaque da Política Democrática Online de março
Veja todas as 29 edições da revista Política Democrática Online
RPD || Entrevista Especial – Alberto Aggio: 'Bolsonaro não é só um mau soldado. É um fascista incapaz'
O desastre do governo Bolsonaro se configura num bloqueio civilizatório, um retrocesso com sérias repercussões para toda a sociedade brasileira, avalia Alberto Aggio, entrevistado especial desta edição da Revista Política Democrática Online
Por Caetano Araujo, Viniicius Müller e Rogério Baptistini
Desde seu início, o Governo Bolsonaro se notabilizou por suas ações voltadas ao enfraquecimento da democracia brasileira e de olho na reeleição. Com a recente decisão do STF de restaurar os direitos políticos do ex-presidente Lula, o Brasil caminha para a eleição de 2022 num cenário difícil, de muita divisão, avalia Alberto Aggio, entrevistado especial desta edição da Revista Política Democrática Online.
A estratégia do presidente brasileiro sempre foi a do confronto, minimizando a epidemia do novo coronavírus, atacando governadores e prefeitos, a mídia e demitindo ministros da saúde, além de ter apoiado manifestações públicas que pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional, avalia Aggio. “Bolsonaro sempre praticou um jogo duplo, ambíguo, alternando um discurso tendente ao fascismo e um movimento político de composição e de ocupação das instituições”, completa.
Mestre e doutor em História pela Universidade de São Paulo (USP), Aggio é professor titular em História pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), com pós-doutorado nas universidades de Valência (Espanha) e Roma3 (Itália). Dedica-se à história política da América Latina Contemporânea, em especial à história política do Chile. Atualmente é diretor do Blog "Horizontes Democráticos" voltado para o debate da política contemporânea no Brasil no mundo. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista à Revista Política Democrática Online.
“Os cenários para 2022 são, de fato, obscuros. Bolsonaro é um flagelo, mas vem mantendo sua base eleitoral”
Revista Política Democrática Online (RPD): O governo Bolsonaro constitui ameaça real à democracia?
Alberto Aggio (AA): Acho que o Bolsonaro se configura como um governo, se não ameaçador à nossa democracia, pelo menos um governo que visou, desde o início, a um enfraquecimento dela; visou objetivamente confrontar suas principais instituições por meio de ações bastante agressivas do presidente e de seus apoiadores, que chamei de guerra de movimento. Essa guerra de movimento, essa agressividade às instituições democráticas, percorreu todo o primeiro ano de governo e, a partir da pandemia, já em 2020, com a necessidade de enfrentar a repercussão na opinião pública, Bolsonaro começa a mudar. Sua estratégia de movimento carecia de atores convencidos de que o projeto era - não apenas de ameaça – mas de derrubada da democracia da Carta de 88.
RPD: E quando ocorreu isso?
AA: Quando houve o bombardeio fake ao Supremo Tribunal Federal, estimulado por um discurso raivoso, um discurso de ódio, incapaz, no entanto, de transformar essa retórica em violência direta às instituições e a seus representantes. É importante ressaltar que, desde os primeiros meses do mandato, Bolsonaro declarou seu objetivo maior: a reeleição. Contudo, havia aí um paradoxo, o choque entre uma tática agressiva e a tentativa de cativar o eleitorado; objetivamente o golpe não necessitaria da reeleição. Sobretudo depois do início da pandemia, Bolsonaro deve ter concluído que a agressividade dessa guerra de movimento não era compatível com seu projeto eleitoral. Passou, então, a buscar acordos, no sentido de uma guerra posicional, ou seja, fazer política combinando ataque e defesa nas pautas que lhe interessavam. E isso caracterizou boa parte de 2020 e é isso que se vê em 2021.
RPD: Mas Bolsonaro mudou ou continua o mesmo?
AA: O fato é que Bolsonaro nunca se deixou domesticar. Sempre praticou um jogo duplo, ambíguo, alternando um discurso tendente ao fascismo e um movimento político de composição e de ocupação das instituições. Como parte dessa guerra de posições, cuidou, primeiro, em manter os militares dialogando com o Palácio do Planalto, evitando, assim, conspirações nos quartéis, e, segundo, não acionou uma linha miliciana que pudesse incluir as polícias militares dos Estados em confrontação direta com seus adversários. Vem cozinhando isso em fogo morno, que nunca apaga completamente.
RPD: De qualquer forma, permanece a ameaça
AA: Sim, permanece. Contudo, Bolsonaro demonstra não ser capaz de transformar essa ameaça em ação efetiva, numa palavra, num golpe. Acho que a situação é a seguinte: as sensações de ameaça às vezes crescem e, às vezes, são contidas em um terreno onde as disputas são localizadas, quase moleculares, com Bolsonaro tentando manter seu grupo de apoio, marcadamente antidemocrático, autoritário, que não crê na democracia como regime e tampouco como sociedade, como civilização. As sensações de ameaça variam, portanto, conforme a conjuntura e o movimento dos atores. É uma situação muito complexa, ambígua, paradoxal. Imagino que ele gostaria de ganhar cada vez mais posições institucionais com personagens puro sangue.
Mas, nem partido ele tem. Tem que negociar com uns e outros; é tudo pantanoso, difícil de compreender o alcance dessa estratégia. Mas, tudo isso é muito ruim para o país, especialmente num contexto de pandemia, de diminuição da atividade econômica. Não dá para imaginar o que vai a acontecer, sobretudo quando aumentam as ameaças à democracia, em meio a uma governança errática, de orientação ambígua, onde se muda a toda hora para tentar sanar erros cometidos e responder seja à opinião pública seja aos seus apoiadores. A intervenção na Petrobrás é prova disso, ocasião em que Bolsonaro decerto terá perdido muitos aliados, mesmo que tenha tentado depois apresentar os projetos de privatização dos Correios e da Eletrobrás, gestos mais preocupados com a mídia do que com uma ação política mais efetiva.
“Bolsonaro espelha melhor um regime autoritário a la Salazar ou Franco, do que a la Mussolini ou Hitler”
RPD: Embora já tenham sido explorados, indiretamente, os conceitos de guerra de movimento e guerra de posições, talvez coubesse ainda uma palavra adicional para melhor caracterizar os referidos conceitos.
AA: Usei os conceitos tendo em conta que Bolsonaro é um ator da guerra, ele vê a política como guerra, vê a política como a destruição de inimigos; pessoas, lideranças, instituições. Contudo, tecnicamente não se trata de uma ação militar, é uma ação política. E não importa se ele tem consciência ou sabe vocalizar isso. Pensando mais amplamente e convocando Gramsci que é o pai dessa conceituação, o conceito de guerra de posições identifica como se faz política contemporaneamente, especialmente depois da estabilização capitalista, depois da Revolução Russa de 1917, e mesmo depois da Crise de 1929 e da Segunda Guerra.
É como a política contemporânea tem se estabelecido, com os atores, especialmente os atores antagonísticos, buscando conquistar posições institucionais, culturais, sociais, etc. Alguns fracassam e desaparecem, como o comunismo; outros imaginam que ganharam tudo, como em um certo momento se supôs que a história tivesse acabado. Nas sociedades democráticas mais avançadas seria possível imaginar que essa guerra de posições poderia até mesmo se diluir e a metáfora perderia o sentido, com o seu desaparecimento no terreno da ação política. Possivelmente, a partir daí o debate pela hegemonia mudaria diluindo-se no corpo da sociedade; falaríamos então em “hegemonia civil”, hegemonia como um ato civilizatório. Acho que a democracia precisa estar muito mais avançada, ser muito melhor compreendida pelos cidadãos, para que se supere a metáfora da guerra na política.
RPD: Bom, mas como vincular Bolsonaro a essa discussão?
AA: Ao exacerbar a guerra de movimento, Bolsonaro mostrou que não foi capaz de finalizá-la, de vencer. Ele altera a tática, mas também não consegue sustentar-se: não tem partido, não tem intelectuais, não tem projeto, nem acredita no projeto do Paulo Guedes, não acredita nem mesmo no antigo projeto desenvolvimentista da ditadura militar, porque ele não é um homem do regime militar, ele é um homem da ala extremista do regime militar, que não venceu, que foi derrotada dentro do próprio regime pelo avanço do seu projeto de autorreforma. Em certo sentido, Bolsonaro é um ressentido porque é um homem solitário, sem projeto claro que possa apresentar “grande política”, e por isso começou seu mandato isolado politicamente, embora com voto e popularidade. Ele não é capaz de exercer uma liderança para além do seu narcisismo, para além do que ele mesmo é, expressão desse grupo de pessoas que o apoia. Isso não tem como se ampliar, a não ser na lógica da antipolítica, uma outra face do narcisismo que passou a predominar entre nós. Essas limitações comprometem sua capacidade de lidar com a guerra de posição. Com ele, o Brasil se distanciou enormemente da possibilidade de agregar maior qualidade a sua democracia. O desastre do governo Bolsonaro se configura num bloqueio civilizatório, um retrocesso com sérias repercussões para toda a sociedade.
“Não haverá futuro algum quando se diz que se quer voltar ao poder para resgatar o que se fez no passado”
RPD: Considerando a nomenclatura utilizada pela História, pode-se fazer analogias entre Bolsonaro e o fascismo do início do século 20, sem correr o risco de prejudicar a tática e a estratégia política dos democratas?
AA: Bolsonaro gostaria de ser efetivamente um fascista, de ser um líder fascista, mas ele fez a vida dentro do Estado, como militar e como parlamentar. O fascismo nasceu da sociedade, das agruras do pós-Primeira Guerra. No fundo, Bolsonaro é não só um mau soldado, como disse o General Geisel, mas é também um fascista incapaz. Fora essa ligação com os militares, sua vinculação com a religião é instrumental, a pauta de costumes reacionária, tradicionalista. Bolsonaro espelha melhor um regime autoritário a la Salazar ou Franco, do que a la Mussolini ou Hitler, esses, sim, carregaram um projeto ativo e moderno de mundialização, mas foram derrotados. Bolsonaro não tem nada disso. Não ultrapassa o tradicionalismo.
O fascismo do Bolsonaro é caricatural. Sua inclinação é muito mais tradicionalista, de uma sociedade fechada. Bolsonaro é o anti-Popper, é visceralmente contra a sociedade aberta, para usarmos aqui uma referência muito ao gosto do Vinícius Müller. Eu não insistiria muito nessa coisa de fascismo. Bolsonaro é um pragmático, mas por ser mentalmente restrito é alguém que não tem capacidade de ampliação pelo que ele representa. Em suma, não é efetivamente um líder. Pelos acordos políticos ele está conseguindo impedir o impeachment, pode conseguir a reeleição, se seus opositores errarem muito, e infelizmente sabemos que isso pode acontecer.
RPD: O modo como Bolsonaro faz política estaria reproduzindo em parte o que se fez na Nova República e, em caso afirmativo, poderia ele estar inaugurando uma nova fase na política brasileira, na condição do último presidente da Nova República?
AA: Se vencer em 2022, isso estará em questão. Mas se isso ocorrer, ele vai ter de fazer um governo diferente, não poderá ser “puro sangue”. Bolsonaro é a face mais deletéria, mais grave da política da Nova República. É um político que não valoriza os partidos nem a negociação política, um político que pensa que negociação é corrupção. Esse tema tem possibilitado a Bolsonaro alguns acordos desde o início do governo, mas depois da saída de Moro, a coisa se complicou. Ele tem que encontrar novos pares. E quais seriam eles? O Centrão terá dificuldades em se vincular a esse tema. Daí a regressão que estamos assistindo nessa matéria. Quais seriam as novas chaves do discurso de Bolsonaro? Não se sabe. Mas o fato é que ele prosperou num contexto em que perdemos a perspectiva de organização democrática e cosmopolita da Nação brasileira. E isso ocorreu a partir dos governos do PT, não do primeiro Lula, mas depois, com Dilma. Configurou-se, então, um cenário extraordinariamente paradoxal: um projeto de resgate do nacional desenvolvimentismo, e, na base, a valorização do consumo, que vem desde o primeiro Lula.
A mensagem era o individualismo no consumo e o mercado como o vetor capaz de reconfigurar a Nação; um “aggiornamento” capitalista, mas que não podia ser “puro sangue”. Isso de certa maneira contraditava o projeto nacional-desenvolvimentista que tinha por base o grande capital, os “campeões nacionais”, etc., uma espécie de visão coreana do desenvolvimento do capitalismo. Essa contradição desorganizou completamente o país, a economia, a sociedade. Bolsonaro se apresentou como aquele que era capaz de consertar essa desorganização, prometendo um capitalismo sans frase, que também não consegue impor – e hoje talvez nem queira. Nossa desorientação, portanto, não vem do impeachment, vem dessa contradição, é a política do petismo no último governo com Dilma que impossibilita que a sociedade, a Nação, se solde. Podemos lembrar muito bem os discursos dos petistas em busca de alguma unidade com o PSDB, por exemplo, no momento de crise aguda do governo Dilma. Temer ainda tentou algo, mas não conseguiu estabelecer um novo padrão. A vitória do Bolsonaro, por fim, abriu caminho para avançar a degradação.
RPD: O que efetivamente mudou na Nova República e que não se ajustou em tempo hábil?
AA: Vínhamos de um cenário em que se ultrapassava a democracia de partidos e se adentrava na democracia de audiência. A Nova República, de acordo entre diferentes, da Lei de Anistia, da Constituição de 1988, teria que se adequar. As instituições ficaram, mas o resto gradativamente sofre uma erosão. Na verdade, o Brasil passou por rupturas sem ruptura, que gerou desorganização e uma Nação à deriva. Bolsonaro venceu nesse quadro onde já havia degradação e isso não só se manteve como se aprofundou. Não se confia mais em ninguém. O jogo político piorou. Não é nem um jogo de grandes máfias, é um jogo da pequena política. E olha que o Brasil viveu “trasformismos positivos”, como identificou Luiz Werneck Vianna, como foi o período JK, que fizeram avançar a modernização. Hoje, com Bolsonaro, não se divisa nada. O que me parece terrível é que entramos em uma situação de guerra a partir de um terreno completamente desorganizado. E ele se desorganizou porque perdemos qualquer projeto de pensar o Brasil no mundo. O PT fracassou e depois dele não surgiu nenhum outro ator que pudesse recompor isso.
RPD: As projeções feitas para 22 ainda não esclareceram uma questão relevante. Desde 2014, 18, 16, o PT perde votos; na última eleição, Bolsonaro perdeu votos, mas não se sabe ainda para onde foram esses votos, quem os ganhou, os cenários continuam obscuros. Quais perspectivas de curto prazo existiria, então, para a formação e atuação de um centro democrático na disputa eleitoral de 2022?
AA: Os cenários são, de fato, obscuros. Bolsonaro é um flagelo, mas vem mantendo sua base eleitoral. Estudei o Chile e muitos se surpreendiam ao verificar que, no final da ditadura, a direita tinha bases sociais muito fortes, tendo um eleitorado que ultrapassava 40%. Do outro lado, Concertación, mesmo sem os comunistas, conseguia superar a direita e isso durou 20 anos. No caso do Brasil, é quase impossível acreditar que se possa formar algo parecido. Muito falam em “frente democrática”. Entendo que os obstáculos à construção da frente democrática são fortes. O primeiro é que os atores de maior projeção na esquerda ainda não estão convencidos disso. Muito pelo contrário, o PT discursa no sentido de resgatar o que foram os governos petistas.
“Bolsonaro não é capaz de exercer uma liderança para além do seu narcisismo, para além do que ele mesmo é, expressão desse grupo de pessoas que o apoia”
Fernando Haddad acabada de declarar que todos – exceto o PT e seus aliados mais próximos – são de direita e que a oposição tem de se unir no segundo turno. É um non sense. Fazendo política assim, o PT demonstra que é narcisista tanto quanto Bolsonaro. Não se pode fazer política democrática a partir de uma concepção narcisista, uma posição antipolítica. A segunda dificuldade vem do nosso sistema eleitoral de dois turnos. Isso anima mais a competição do que a composição. Não creio que se possa montar uma frente democrática no primeiro turno. Certamente haverá alianças. Anunciam-se três polos, mais uma ou outra candidatura desgarrada deles, todos se opondo a Bolsonaro, o polo governista.
O PT deverá ser um dos polos. Ciro Gomes vai concorrer, mas não tem força para se constituir num polo. O chamado “centro democrático” está dividido, até o momento, em muitos nomes e não se pode dizer que já tenha um projeto para o País. Na sociedade, como mostram as pesquisas, Sérgio Moro e Luciano Huck têm melhor presença. João Doria Jr, governador de São Paulo, é uma força, sobretudo por seu protagonismo na questão da vacina, um tema crucial. Cogita-se também o nome do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Nesse campo, os articuladores serão fundamentais. Até o momento, Rodrigo Maia, juntamente com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-deputado Roberto Freire, parecem dispostos a cumprir esse papel. Em suma, caminhamos para a eleição de 2022 num cenário difícil, de muita divisão, sem um projeto para o futuro. E não haverá futuro algum quando se diz que se quer voltar ao poder para resgatar o que se fez no passado.
O passado não deve ser esquecido, mas ele não é garantia de futuro. Por outro lado, a ideia de combater os extremos em si, não legitima nem sustentará candidatura alguma. Com as eleições municipais no retrovisor, recordemos que o PT perdeu uma quantidade significativa do seu eleitorado, mas venceu em lugares importantes do Nordeste e que Bolsonaro perdeu nas capitais, mas sua resiliência, como demonstram as pesquisas, ainda é forte. Tudo isso sublinha o quão importante é a conjugação de esforços na recuperação da política democrática, porque, de alguma maneira, todos estivemos envolvidos, ainda que em parte, no processo de permitiu a Bolsonaro chegar ao poder.
Post-scriptum
Em razão da decisão de 08 de março do Ministro Edson Fachin, do STF, que, no fundamental, garante elegibilidade de Lula (PT) na corrida presidencial de 2022, a relação de forças sofre alterações.
A musculatura do polo petista sai fortalecida não só em função da popularidade de Lula, mas também porque isso gera desestabilização em outras candidaturas por seu poder de atração. Antigos aliados serão desafiados, e o próprio Centrão, até agora em movimento inercial rumo à candidatura de Bolsonaro, deverá repensar seus futuros passos. O polo Bolsonaro também se revigora porque, em tese, pode recuperar a narrativa antissistema, criticando a decisão que favorece Lula.
É inevitável que Ciro Gomes mantenha sua beligerância tanto contra Lula e o PT, quanto contra o ex-juiz Sergio Moro. Envolvido diretamente, Moro será forçado a se pronunciar: ou contra-ataca, lançando-se definitivamente candidato ou se retira de uma vez da contenda eleitoral.
Por fim, o chamado “centro político”, cuja identidade primeira é se postar contra os “extremos”, está forçado a se definir pelo critério da popularidade, diante de duas potências de audiência. Se não tiver Moro, à primeira vista, aparentemente, só Huck teria esse atributo.
Alberto Aggio: O debate em torno do populismo volta à cena
Os ziguezagues de Bolsonaro no comando do governo federal, dentre eles seus desconexos movimentos justificadamente interpretados como mais um retorno a políticas de caráter estatizante, evidenciados recentemente na desastrada intervenção na Petrobrás, recolocaram um velho debate no centro da conjuntura: a suposição de um “retorno ao populismo” que por sua vez contestaria as até então declaradas inclinações pelo liberalismo como a principal orientação da política econômica governamental. De repente, tudo virou de pernas para o ar e as acusações de populismo a Bolsonaro passaram a ser vocalizadas insistentemente e se combinaram com estapafúrdias similitudes com o comunismo e o fascismo — tudo junto e misturado! Num ambiente como esse, as discrepâncias entre conceitos são chocantes, o que torna imprescindível, pelo menos brevemente, revisitar a temática do populismo a partir de uma perspectiva mais crítica e esclarecedora.
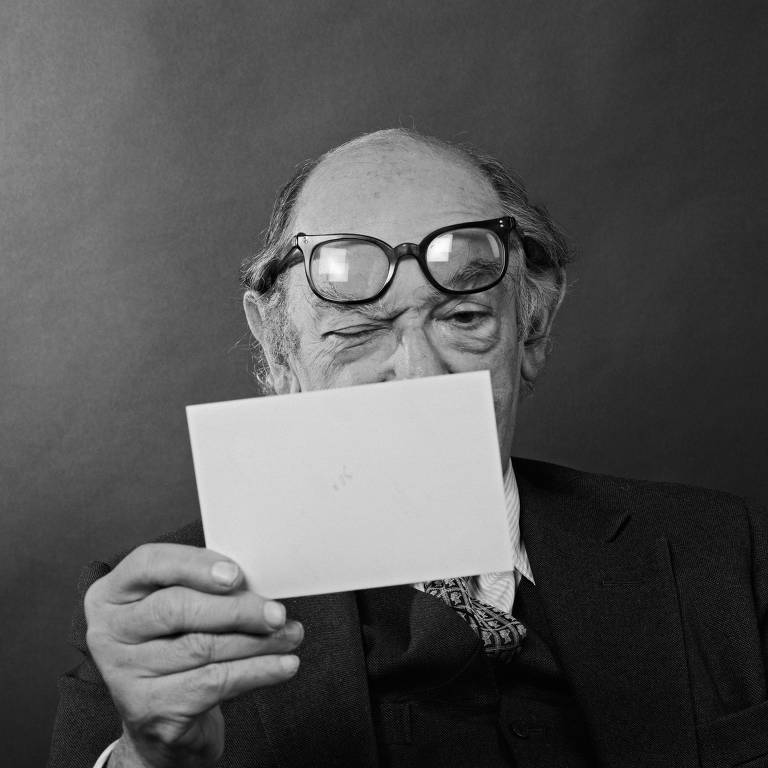
O populismo não é um conceito simples como vem aparecendo na verborragia que tal debate ensejou. Ele é reconhecidamente um conceito problemático por sua ambiguidade, imprecisão, vagueza, generalização, elasticidade, subjetividade etc. Para início de conversa, trata-se de um neologismo que visou descrever as iniciativas de “ida ao povo” por parte de opositores a regimes autocráticos que se sustentavam em sociedades fechadas ou pouco dinâmicas. A historiografia registra o nascimento do conceito na tradução para inglês (populism) do movimento narodnik na Rússia do final do século XIX. A ele se consagra a pré-história do conceito, no mesmo momento, aliás, que o termo seria utilizado para identificar o movimento político de pequenos e médios produtores rurais no interland norte-americano. Depois da Rússia, como escreveu José Aricó, a América Latina tornou-se a “grande pátria do populismo”.[1] Foi nela que o conceito fincou raízes e se generalizou, a ponto de ser utilizado por historiadores e cientistas sociais como a denominação de um período da sua história.
Em maio de 1967, numa conferência proferida em Londres, Isaiah Berlin chamou atenção para o fato de que o “complexo de Cinderela” rondava o conceito de populismo.[2] Mobilizando os componentes da fábula, Berlin afirmava que a essência do populismo, seu núcleo fundamental, não se encontrava na realidade, mas no comportamento intelectual de se buscar, por toda a parte, o chamado “populismo puro, verdadeiro, perfeito”, tal como o príncipe que, naquela estória, sapato em riste, vagueava errante em busca do pé da donzela que o encantara. Mesmo que sua ocorrência tivesse se dado em um único lugar, não importando sua vigência no tempo, o que se buscava pelo nome de populismo era, na verdade, a realização de um “ideal platônico”. Por ser assim, o populismo “realmente existente” seria sempre uma versão incompleta ou uma perversão. Apesar disso, o populismo continuou a ser, nas ciências sociais, no jornalismo ou na linguagem política, uma referência conceitual para caracterizar lideranças, movimentos ou regimes políticos, da mesma forma que, sem assumir-se como tal, correntes políticas diferenciadas continuariam a expressar a perspectiva de sua realização por meio de estratégias variadas de ação política.
O populismo é, portanto, um constructo e sua elaboração teórica resultou de um movimento reflexivo que visava explicar a inadaptação das camadas populares, advindas do campo, à vida urbana que se impunha de maneira irrefreável na América Latina desde a década de 1930. A teoria sociológica registrou uma conexão entre a atitude mental de reação à modernidade dessas camadas populares e os fenômenos de natureza pré-democráticas que derivavam da inexperiência política do conjunto da sociedade latino-americana na transição da sociedade tradicional para a sociedade moderna. Os líderes que tiveram o respaldo político dessas camadas populares e se tornaram os principais protagonistas dos processos de superação da forma política de dominação oligárquica foram chamados de populistas, ainda que nenhum deles tenha assumido tal identificação.
O CONTEXTO HISTÓRICO DO POPULISMO LATINO-AMERICANO
Correlato aos acontecimentos mundiais, o populismo emergiu, na América Latina, num cenário de crise do liberalismo e de ascensão de massas. É, portanto, um conceito construído para descrever e compreender um contexto de transição histórica, de crise e redefinição das relações entre Estado e sociedade. Enquanto governos ou regimes, o chamado populismo assumiu, em termos gerais, a perspectiva de construção de uma sociedade industrial e moderna, politicamente orientada pelo Estado, ao mesmo tempo em que normatizou a “questão social”, incorporando as massas ao mundo dos direitos. Superou o liberalismo das oligarquias por meio de uma “fuga para frente” cujo objetivo foi o de realizar transformações sem rupturas violentas, evitando o que havia ocorrido nos processos capitalistas e socialistas de industrialização retardatária. O que se qualifica de populismo latino-americano atuou, portanto, no sentido de promover a superação do atraso, sem revolução, garantindo, pela primeira vez, que o tema da cidadania fosse equacionado pela política nesta parte do Ocidente.

No essencial, o populismo latino-americano do século XX interditou a via de passagem “clássica” à modernidade, caracterizada pela integração autônoma das classes populares às estruturas políticas da democracia liberal de perfil europeu. Ao invés disso, conectou desenvolvimento econômico e espaços institucionalizados de integração político-social de massas, reservando ao Estado um papel central. Essa configuração foi compreendida pelas ciências sociais como a principal razão de a sociedade latino-americana expressar claros limites para vivenciar a modernidade. Um diagnóstico poderoso e de muitas implicações: mais do que um conceito, o populismo foi concebido e difundido como uma teoria explicativa a respeito dos descaminhos da modernidade latino-americana. Esta visão acabou produzindo uma cristalização cognitiva, fazendo com que a palavra populismo se generalizasse como representação de um passivo insuperável.
Desde o pós-guerra, no século passado, uma marca pejorativa acompanha o populismo. Ele seria o “outro” repugnante, uma manifestação aberrante e anormal, uma síndrome, um espectro ou mesmo uma recorrente “tentação” que acompanha os atores políticos latino-americanos como via para alcançar e se manter no poder. Desde o final do século XX, cristalizou-se a ideia de que as sociedades latino-americanas necessitariam de uma ruptura histórica antipopulista necessária para “implantar” ou mesmo fazer avançar o capitalismo. Numa abordagem mais ordinária, o terreno dessa aguardada “ruptura” estabeleceria recorrentemente a contraposição entre liberalismo e estatismo, independentemente de quais sejam as questões em tela no debate público.
O POPULISMO, ENTRE UM SÉCULO E OUTRO
Do final do século XX para as duas primeiras décadas do século XXI constata-se uma deriva do populismo que dilui o conceito ou a teoria explicativa que ele significou no passado, reduzindo-o apenas a um termo utilizado de maneira instrumental como identificador de uma política sempre qualificada como negativa. Assim, se instaura na opinião pública e entre os analistas da política contemporânea uma indiferenciação que se baseia quase que exclusivamente nos comportamentos políticos de líderes que são chamados, sem muito rigor, de populistas. Essa indiferenciação induz a que líderes políticos sejam caracterizados como populistas independentemente da identificação, semelhança ou mesmo proximidade entre eles. Assim, líderes políticos como Berlusconi, Lula, Chávez/Maduro, Trump, Beppe Grillo, Macron, Matteo Salvini ou Renzi, Orbán, Bolsonaro, Obama, todos eles, foram ou são, em alguns momentos ou por diferenciados comentadores, qualificados como populistas. Se o populismo do século XX foi acusado de uma polissemia insuperável, o populismo do novo milênio não fica atrás.

Independentemente de ser entendido como um fenômeno de direita ou esquerda, o que a maior parte dos analistas observa é que, nesse início de milênio, vive-se uma espécie de “revanche do populismo”, quer como resultado imprevisto da luta contra os regimes autoritários na América Latina quer como resultado de uma crise profunda não apenas das democracias consolidadas, na Europa, como também do welfare state, sua base de sustentação — os EUA de Trump se mostrou um caso particular, embora significativo. Outro elemento a ser considerado são os desajustes da globalização que acabaram por gerar uma reação nacionalista que assumiu, em muitos países, formas extremistas, quase todas elas caracterizadas como populistas. O populismo haveria ressurgido como uma força regressiva no político, com seus rastros de afronta aos direitos humanos, repressão a opositores, perseguição a juízes e ataques à imprensa e às instituições. Em países nos quais a ordem constitucional democrática é mais legitimada, a resistência da sociedade e das instituições políticas tem sido maior, contrapondo-se a esse tipo de movimento extremista que, em termos mais apropriados, não deveria ser qualificado como populismo.
De uma foram ou de outra, buscando isolar o populismo enquanto um fenômeno consonante com o nosso tempo, inúmeras interpretações têm sido formuladas procurando, invariavelmente, encetar o populismo na chamada “crise da democracia”.[3] E, nesse plano, a questão passa a ser pensada a partir da essencialidade da construção da estrutura de poder nas sociedades contemporâneas.
A interpretação mais virtuosa por sua densidade teórica é reconhecidamente a de Ernesto Laclau.[4] Entusiasmado com os chamados governos de esquerda que se espalharam por diversos países latino-americanos no início do milênio, Laclau não hesitou em construir uma potente analogia. Sem rodeios, afirmou: “há um fantasma que assombra a América Latina, esse fantasma é o populismo”. A paráfrase de Marx sugere claramente que Laclau pensava em reservar ao “populismo atual” um lugar semelhante ao que Marx imaginou para o comunismo na Europa dos idos de 1848. O cenário de crise da democracia ou de vigência de uma pós-democracia seria o terreno propício para isso.

Para Laclau, o populismo do século XXI expressaria uma identidade integral entre a instituição do “povo-sujeito” e a política, anulando a ideia de representação bem como a noção de “governo do povo”, entendida como uma contradição em termos. A razão populista e a razão política, como afirmou E. Laclau, seriam idênticas, o que desloca para o plano secundário a deliberação racional vigente nas democracias ocidentais. O termo populista, nesta leitura, seria aplicável a qualquer orientação ou movimento político “antissistema”, o que faz emergir a tese de que contra um “populismo de direita” caberia a construção de um “populismo de esquerda”. Supõe-se, nesse caso, que o populismo seja capaz de estabelecer a passagem para a construção de uma democracia direta e participativa, superior à democracia representativa, entendida como obsoleta e ineficiente. A identificação, à esquerda, com o bolivarianismo seria direta e imediata; à direita, o iliberalismo de Viktor Orbán obviamente não estaria distanciado daquele objetivo.
Em qualquer dos casos, a contraposição à modernidade é explícita porque se mostra avessa ao indivíduo em sua expressão autônoma, submetido a um desígnio abstrato advindo do “povo-Nação” ou a um regresso anacrônico à noção de “pátria”. Nenhum traço ou sinal de uma “modernidade alternativa”, entendida como democrática, progressista e emancipadora. Contraposta à modernidade a perspectiva analítica laclauliana poderia se confundir com algo que Félix Patzi, ex-ministro da educação da Bolívia, sintetizou magnificamente: o populismo seria então, justificadamente, “uma espécie de autoritarismo baseado no consenso”. Estaria aí seu maior equívoco e o seu insuperável limite.
Como afirmou Margaret Somers, “conceitos são palavras em seus contextos”,[5] o que talvez explique as razões para que, nos dias que correm, seja difícil compartilhar uma crítica ao populismo, tal a aceitação e a ligeireza com que ele é utilizado, sejam quais forem as intenções de seus vocalizadores. Mais produtivo seria se buscássemos construir um debate público em que pudéssemos identificar processos e atores políticos pelo que realmente são. Certamente oxigenaria o já infestado ambiente de degradação em que vivemos.
Notas:
[1] ARICÓ, José. La cola del diablo. Caracas: Nueva Sociedad, 1988.
[2] Citado em ALLOCK, J. B. “Populism, a brief biography”, Sociology, 1971, p. 385, apud MACKINNON, M. M.; PETRONE, M. A. (orgs.) Populismo y neopopulismo en América Latina. Buenos Aires: Eudeba, 1988, p. 11.
[3] PANIZZA, Francisco (compilador). El populismo como espejo de la democracia. Buenos Aires: Fonde de Cultura Económica, 2009.
[4] LACLAU, Ernesto. La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2005.
[5] SOMERS, Margaret. “Que hay de político o cultural en la cultura política y en la esfera pública?”, Zona Abierta, 77/78, 1996/97, p. 31-94.
(Esse texto é uma publicação conjunta e simultânea com a revista eletrônica Estado da Arte, vinculada ao jornal O Estado de São Paulo).
Gianluca Fiocco: Uma virada na Itália? O Governo Draghi e o que pode seguir
A Itália tem um novo governo, presidido por Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, uma figura de indiscutível prestígio internacional. Seu nome começou a circular enquanto se consumava a crise do segundo governo Conte, aberta pela decisão de Matteo Renzi de retirar seu movimento (Italia Viva) do Executivo por conta de desentendimentos surgidos em diversos assuntos. Em geral, Renzi lamentou a falta de uma estratégia forte e clara para superar a crise sanitária, social e econômica.
Giuseppe Conte compareceu ao Parlamento para defender o governo e manteve o voto de confiança, mas nos dias seguintes não conseguiu criar uma nova maioria estável. Nesse momento, o chefe de Estado jogou um papel decisivo e após verificar que as forças políticas no Parlamento não conseguiam dar vida a um novo acordo de governo, deu a tarefa a Draghi. Esta solução foi favorecida pelo facto de que quase ninguém queria eleições antecipadas em razão da difícil situação provocada pela Covid19. Percebia-se também a crescente demanda por unidade nacional e colaboração entre os vários partidos.
Draghi deu vida a um governo que é “técnico” e, ao mesmo tempo, “político”. Técnico porque ministérios importantes foram atribuídos a pessoas escolhidas por sua experiência no setor e se reportam diretamente ao Primeiro-Ministro; político porque alguns ministérios foram distribuídos entre diversas forças políticas, de direita e de esquerda, chamadas não só para apoiar o trabalho dos técnicos, mas também para dar uma contribuição direta à ação governamental, a partilhar escolhas e programas com forte peso e responsabilidade.
Draghi conseguiu o apoio de uma grande maioria no Parlamento. Apenas o partido de direita liderado por Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) permaneceu na oposição, mas garantiu que terá uma postura construtiva e, de vez em quando, estará disposto a examinar sem preconceitos as medidas enviadas à Câmara. Algumas pesquisas recentes indicam que esse posicionamento talvez possa recompensar o partido nas próximas eleições.
Com a chegada de Draghi ao Palazzo Chigi, a atual legislatura conhece o terceiro tipo de acordo político: depois de um governo Lega-5Estrelas e um governo de Partido Democrático-5Estrelas, agora os três partidos estão juntos no poder (também acompanhados por Forza Italia, partido de Silvio Berlusconi que mantém uma relação de amizade com Draghi). Todas as três forças estão pagando o preço de terem feito a opção de apoiar o novo governo e enfrentam tensões internas expressivas.
Para o PD foi uma decisão obrigatória dado o caráter pró-europeu do partido e sua luta para fazer da Itália uma protagonista da recuperação concebida em chave europeia. Deste ponto de vista, a figura de Draghi oferece a melhor garantia possível. O PD sofre uma certa perda de viço: no último ano e meio tentou com seus dirigentes realçar a imagem partidária de competência, boa governança e coesão social, obtendo alguns feedbacks positivos. O ministro da Economia, Roberto Gualtieri, cujas ideias influenciaram a ação governamental em pontos cruciais, assumiu um protagonismo particular.
A crise, no entanto, foi caracterizada por um deslocamento do eixo político para a direita e o PD não é mais o centro de equilíbrio como antes. Não conseguiu nem mesmo dar uma marca particular ao novo programa de governo: a proposta mais original e progressista, a de introduzir um Ministério para a transição ecológica (aceita por Draghi) foi apresentada pelo Movimento 5 Estrelas. Entretanto, este último também conheceu uma disputa interna muito forte da sua ala mais radical e “antissistema”. A essa altura, duas almas dificilmente compatíveis parecem se confrontar: uma “governista”, que se atribui um papel de controle e defesa de conquistas como a “renda cidadã”; e outra, ao contrário, que reivindica a plataforma original do movimento, em forte polêmica com as instituições europeias e marcada por uma condenação generalizada das demais forças políticas. A transformação do 5 Estrelas é indiscutível: nascidos como uma força que não queria se contaminar com as outras e pedia a refundação de todo o sistema, mas no caminho fez acordos primeiro com a direita, depois com a esquerda, e agora com ambos ao mesmo tempo. Muitos se perguntam o que será do movimento em sua capacidade de encarnar e representar uma Itália dividida entre a nostalgia do passado e perspectivas de renovação.
Quanto à Liga, sua adesão foi apresentada como um ponto de inflexão pró-europeista, mas na realidade já estava claro há algum tempo que o “soberanismo” de Matteo Salvini era diferente e muito mais moderado do que o dos “falcões” que se impuseram na Europa Oriental. Em todo o caso, existe efetivamente um certo dualismo entre a componente salviniana e a chamada “Liga dos administradores” (prefeitos, governadores, dirigentes municipais e regionais), esta última ávida por fazer o melhor uso dos recursos europeus do “Fundo de Recuperação” (Recovery Fund) e ter um papel nas decisões de como usá-los.
Esta é precisamente a questão crucial que enfrenta o novo governo: a Itália é um dos principais beneficiários desta extraordinária iniciativa europeia, criada para combater a crise gerada pela pandemia. O governo anterior tinha elaborado um plano nacional de utilização dos fundos europeus (também com projetos importantes), mas não lhe deu “alma”, uma caracterização em torno de objetivos-chave capazes de suscitar apoios e mobilização ativa.
Trata-se agora de saber se esses recursos irão servir somente para mitigar emergências ou também para dar a Itália um novo rumo de longo prazo, reformando seu modelo econômico e social para torná-lo mais adequado ao mundo globalizado em que vivemos. O país necessita de uma filosofia unificadora que oriente as ações governamentais, apoiada em ideias precisas sobre o futuro. Se o governo Draghi, como parece estar determinado a fazer, se mover nessa direção, poderá deixar uma marca que ficará além desta legislatura. Em outros momentos difíceis de sua jornada, o povo italiano mostrou uma capacidade de superação e uma vitalidade surpreendente. Esperemos que tais qualidades se confirmem uma vez mais.
Gianluca Fiocco é professor e pesquisador da Universidade Roma2, “Tor Vergata” (tradução Alberto Aggio).













