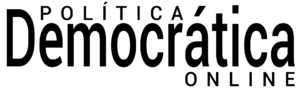O Oriente Médio, como espaço geográfico e conjunto temático, é um lugar de grande complexidade, difícil leitura e mudanças constantes. Há ali, no entanto, uma permanência, um problema em torno do qual todos os demais tendem a orbitar. Essa permanência é a Questão Palestina.
Não digo o conflito árabe-israelense e nem digo palestino-israelense. Digo “questão” e “palestina”, porque o problema central é o destino do povo palestino e de sua terra, um destino que se anunciava como tragédia, uma tragédia final, definitiva, que se seguiria àquelas do passado e do presente, já consumadas.
Depois da partição do território, decidida por uma “comunidade internacional” ainda inspirada por um espírito colonial; depois da instalação do Estado de Israel, depois da expulsão e da limpeza étnica; depois das derrotas militares e de mais expulsão; depois da frustrada aposta nas negociações e em seus mediadores, havia chegado o momento do golpe fatal: os Estados Unidos, sob Trump, rasgavam todos os véus de hipocrisia e davam tudo aos israelenses e nada aos palestinos. Isso era o “Acordo do Século” – ou, em tradução possível e talvez mais apropriada, o “Negócio do Século”.
Além de Jerusalém, do Golã – ainda que aqui quem saía perdendo era a Síria –, e de carta branca generalizada, Trump prometia também e começava a entregar a Israel a normalização de relações com alguns países árabes que não podiam dizer não aos Estados Unidos.
Enquanto isso, por conta inclusive de uma tragédia parcialmente auto-infligida , aquela da divisão interna, os palestinos pareciam paralisados e incapazes de oferecer respostas. O mais recente episódio que ilustrava essa divisão foi aquele das eleições gerais, tornadas impossíveis por Israel, que não admitia que ocorressem em Jerusalém, e que acabaram canceladas, para o alívio da Autoridade Palestina, que se via arriscando a exclusão do poder.
E eis que, de repente, nos primeiros dias de maio de 2021, os eventos se atropelam e anunciam um cenário totalmente novo. Primeiro, um fato quase banal, apesar de constituir um passo no caminho da limpeza étnica de Jerusalém: a tentativa de implementar a decisão de expulsão de algumas famílias palestinas de suas casas, seguida de protestos que continuam acontecendo. Em seguida, numa noite importante do mês de Ramadã, a tentativa de proibir os palestinos de chegarem à Mesquita de Al’Aqsa para rezar, seguida de protestos e violência dos ocupantes. As duas coisas talvez estivessem tocadas por uma vontade de Netanyahu de usar a confusão para adiantar sua agenda política.
Foi nesse momento que o chefe militar do Hamas lançou um ultimato: se a violência e, mais importante, os atentados contra a presença palestina em Jerusalém continuassem, a resistência – porque é importante lembrar que quem faz essa resistência são muitos grupos, ainda que o Hamas seja o grupo mais relevante – se mobilizaria e atacaria a cidade com seus foguetes. Como a violência não cessou, a promessa foi cumprida.
Havia coisas novas ali. A primeira delas era que a distância usual entre a bravata de lideranças árabes, inclusive palestinas, e o recurso a ação. A ameaça foi cumprida em seus termos mais precisos e, a partir daí, quando o confronto escalou, a resistência fazia questão de anunciar horários de seus ataques, alvos, número de foguetes. E tudo foi cumprido. Essa primeira novidade era prova de determinação, de credibilidade e, mais importante, de que Israel não poderia evitar que as ameaças fossem levadas a cabo.
A outra novidade que surgiu ao longo dos 12 dias de violência foi que os palestinos se levantaram em todos os lugares em revolta, na Cisjordânia ocupada e também em Israel, o que reafirmou a unidade da identidade palestina e de sua causa.
Também de modo inusual, em vários lugares, pelo mundo inteiro, inclusive no Ocidente, multidões foram às ruas protestar contra a opressão israelense. E agora já não parecia mais haver o medo de chamar as coisas pelos seus nomes: ocupação, apartheid, limpeza étnica, crimes de guerra. Até mesmo o que se pode chamar de mídia tradicional, normalmente alinhada com Israel, permitiu-se a pontual crítica.
A evolução talvez mais importante, no entanto, está no fato de que a faixa de Gaza agiu em defesa de Jerusalém, e não de Gaza ela mesma. A destruição que Gaza sofreu, as crianças que perdeu, as casas, os prédios, foram o sacrifício que a máquina de guerra israelense cobrou e foi pago em defesa de Jerusalém. Ao mesmo tempo que pagava esse preço, a resistência palestina mostrou um grande progresso, no seu treinamento, na sua logística, na sua definição de estratégias, na sua movimentação tática, nas suas armas e no alcance e precisão de seus foguetes.
Essas melhorias, em uma pequena faixa de terra bloqueada por todos os lados, são algo especialmente assustador para Israel. Considerando que elas decorrem em grande medida de mecanismos de cooperação, inclusive durante esse último confronto, com o Irã, com o Hezbollah libanês e com outros elementos do que se chama de Eixo da Resistência, o susto é maior ainda.
Se Israel não foi capaz de vencer esta batalha, o que será da batalha que virá, contra o Hezbollah, contra o Irã ou contra estes dois e mais alguns? É o que se perguntam os israelenses. Enquanto isso, deveriam também se perguntar se ainda não é tempo de reconhecer aos Palestinos o mínimo de direitos.
Saiba mais sobre o autor

Salem Nasser é professor de Direito Internacional na FGV Direito-SP
**Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de junho (32ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.
Fonte: