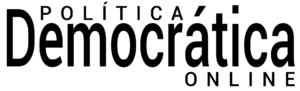O negacionismo científico, o reducionismo preconceituoso e ideológico nas relações diplomáticas internacionais e a obsessão eleitoral do presidente Bolsonaro politizaram por completo o processo de combate ao vírus e produção de vacinas no Brasil
Estamos em meados de janeiro de 2021, e o número de vítimas da Covid-19 já ultrapassou a marca dos 210 mil óbitos. Para falar com propriedade sobre a pandemia do coronavírus no Brasil, é preciso datar, pois, a cada dia, surgem novidades, muitas delas ruins.
Mas, felizmente, já temos duas vacinas aprovadas pela Anvisa para uso na população: a da Oxford/Astrazeneca e a CoronaVac. Ambas serão produzidas no Brasil por duas instituições científicas centenárias e respeitadas internacionalmente: a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan.
Nesse contexto, quais são os principais desafios que se apresentam?
O primeiro é dispor da matéria-prima na quantidade necessária para a produção de vacinas e o atendimento das necessidades da população, isso facilitará a redução de casos graves, a internação hospitalar, a mortalidade e, se possível, a transmissibilidade do vírus.
Aqui agigantam-se os riscos. O negacionismo científico, o reducionismo preconceituoso e ideológico nas relações diplomáticas internacionais e a obsessão eleitoral do Presidente Bolsonaro politizaram de tal modo o processo, que travaram as iniciativas de negociação, o que dificulta a aquisição dos insumos necessários à produção das vacinas.
A competição internacional por esses insumos farmacêuticos, em um mercado global em que são pouquíssimos os fornecedores, contribui ainda mais para aumentar a desigualdade no acesso a essa matéria-prima, relegando os países do hemisfério sul ao final da fila na distribuição dos recursos globais, como está sendo verificado. O mito da cooperação internacional está sendo desmistificado. Ocorre, na prática, uma competição desenfreada, com imenso volume de recursos públicos e privados aplicados no desenvolvimento dessas tecnologias pela indústria farmacêutica, seguindo o mesmo padrão desigual de comercialização, acesso e estabelecimento de preços, de outros medicamentos.
Apesar de o Brasil dispor de capacidade produtiva importante nessas duas instituições, ainda não dispomos de autossuficiência tecnológica que nos permita prescindir de buscar esses princípios ativos fora do Brasil. Temos duas vacinas testadas no país e aprovadas pela Anvisa, para uso emergencial, mas não dispomos ainda do número necessário de doses para poder desencadear campanha de vacinação em termos nacionais. Além disso, o plano nacional apresentado pelo Ministério da Saúde não detalha de modo suficiente os critérios para estabelecer a definição dos grupos prioritários a serem vacinados ao longo do tempo. Não se sabe até que ponto houve participação ativa das sociedades médicas e de especialistas em sua formulação, o que, ao longo das últimas décadas, sempre foi uma das marcas do PNI. Outro aspecto, já levantado pelo sanitarista Gonzalo Vecina, é que nosso plano foi copiado de países europeus e dos EUA, não levando em conta as características de desigualdade presentes em nossa sociedade, o que exigiria uma revisão dos grupos prioritários a serem vacinados.
Por outro lado, o Programa Nacional de Imunização (PNI) é mundialmente reconhecido como um dos melhores do mundo, e o SUS tem larga experiência em campanhas de vacinação em massa. Em 2010, por exemplo, em 3 meses, foram vacinadas 80 milhões de pessoas contra o H1N1. No entanto, neste momento, além da fragilidade técnica e gerencial da atual equipe instalada no Ministério da Saúde, o que coloca dúvidas sobre sua capacidade de coordenar e implementar uma campanha de vacinação, o próprio Ministério da Saúde se transformou na principal agência de disseminação de informações falsas e anticientíficas, defendendo tratamentos sem indicação médica, não reconhecidos, portanto, pela comunidade científica.
Assim, se o primeiro desafio era dispor da vacina, o segundo, é conseguir grande mobilização da sociedade para aderir a esse esforço nacional em defesa da vida. O que parece estar também em risco.
O SUS tem se mostrado resiliente, apesar da desastrosa estratégia conduzida pelo governo federal, mas é impossível escapar de desastres humanitários como o que está ocorrendo em Manaus, e que, infelizmente, pode se repetir em outros lugares, quando um processo de tamanha complexidade é conduzido de forma tão arrogante, primária, preconceituosa e incompetente.
Além de todas essas dificuldades conjunturais, há um grande equívoco do ponto de vista conceitual que impacta a estratégia de controle da doença a médio e longo prazos. Trata-se da evolução da história natural da doença no indivíduo e a evolução das epidemias na comunidade e na população. A retórica da guerra contra a Covid-19 talvez seja a mais danosa contribuição, ainda que involuntária, dada pelo discurso corrente, às atitudes negacionistas ou de desprezo pelos efeitos da pandemia para a saúde pública, para a sociedade e para as pessoas.
A metáfora da guerra, embora frequentemente utilizada pela medicina, oferece uma explicação simplista, de fácil compreensão, mas equivocada, pois não dá conta da complexidade envolvida no curso do processo saúde-doença.
Por definição, uma guerra busca a derrota do inimigo e, para tal, irá mobilizar grande quantidade de recursos que, em geral, levará a uma brutal desorganização econômica e social. E, pior do que tudo, pressupõe certo grau de efeitos colaterais aceitáveis em perda de vidas humanas.
A mutação é uma atividade constante do vírus na natureza. E o que leva esse vírus a alcançar toda a humanidade, sem proteção imunológica que barre sua disseminação, são mudanças não só em sua biologia, mas também nas condições ambientais propícias, o modo de vida das populações humanas e as condições econômicas e sociais. Ou seja, determinantes socioeconômicos e ambientais de saúde importam tanto quanto a biologia do vírus na disseminação de uma pandemia.
É claro que uma vez desencadeada uma pandemia, a sociedade deverá ser capaz de responder com a produção de vacinas, medicamentos, organização, infraestrutura e tudo o que estiver ao seu alcance para se desenvolver no plano de novos conhecimentos e tecnologias.
Mas também os governos e a sociedade devem responder com medidas abrangentes de contenção da disseminação da doença. No Brasil, a resistência a essas medidas de contenção, como o distanciamento social e a proteção pelo uso de máscaras, por exemplo, apoia-se na ideia do dano colateral aceitável, baseado numa interpretação equivocada na imunidade de rebanho.
Apesar da inédita alocação de recursos para a produção de vacinas que controlem a doença, continuaremos a contabilizar muitos casos, mortes e consequências ainda desconhecidas, se a epidemia não for controlada. E nada disso evita o risco de uma próxima pandemia, que será fruto desse mesmo desequilíbrio, se nada for feito.
A pandemia, por isso mesmo, é uma oportunidade de se perceber a desigualdade, inclusive no alcance das medidas propostas para prevenir, proteger e tratar das pessoas. As medidas de contenção, por exemplo, como a recomendação de permanência em casa, garantia de hábitos de higiene e o uso universal de máscaras, são incompatíveis com a situação de moradia e saneamento de uma imensa parte da população do Brasil, e de várias partes do mundo.
A pandemia desnudou de forma trágica as contradições do capitalismo contemporâneo, e as fragilidades dos sistemas de saúde em todo o mundo. A desigualdade na distribuição das vacinas, medicamentos e insumos tende a continuar. Já é hora de compreendermos que, sem um novo modelo de desenvolvimento centrado no fortalecimento da democracia, na busca da equidade e no fortalecimento dos sistemas de proteção social, não teremos futuro.
*Luiz Antonio Santini é médico, professor da UFF de Cirurgia e de Saúde Pública, ex-diretor do INCA e pesquisador associado da Fiocruz.
*José Gomes Temporão é médico sanitarista, membro da Academia Nacional de Medicina, ex-ministro da Saúde e pesquisador da Fiocruz.