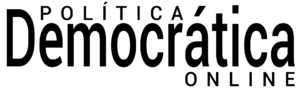Equipe da RPD e Mario dal Poz (convidado especial)
A médica pneumologista Margareth Dalcolmo está na linha de frente do combate à covid-19 no Brasil desde o início da pandemia de coronavírus, tornando-se uma das principais vozes de referência sobre o assunto. Pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ela é a entrevistada especial desta 41ª edição da Revista Política Democrática online (edição de março/2022).
Presidente eleita da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) para o período 2022-2023, Margareta Dalcomo tem sido considerada como porta-voz da ciência e da medicina baseada em evidências em todas as frentes do combate à Covid-19. Ela tem tido um papel fundamental para levar a informação à população brasileira sobre a doença e fazer frente às notícias falsas.
Margareth Dalcomo avalia que a pandemia teve atitudes e procedimentos diferentes em diferentes lugares do mundo. No caso do Brasil, especificamente, desde o início, o país não teve uma coordenação nacional homogênea e harmônica que unisse a comunidade acadêmica brasileira, os cientistas, pesquisadores, médicos, profissionais de saúde e a política.
Ao longo da luta contra a pandemia, a pesquisadora destaca o papel do Sistema Único de Saúde (SUS). “Um dos produtos positivos dessa tragédia que se abateu sobre nós, foi, primeiro, o reconhecimento óbvio de que a grande arma contra a pandemia é o SUS, como declarei lá trás, em 13 de março de 2020”, diz. Para ela, hoje, “até as elites mais avançadas do país reconhecem isso”, avalia. “Isso revela que o SUS mostrou a todo mundo que ele é universal, de que ele deve ser equânime, e que ele era a grande arma para fazer face à epidemia”, completa.
Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista de Margareth Dalcolmo à Revista Política Democrática online.
Revista Política Democrática Online (RPD): Antes de darmos início à entrevista, gostaríamos de manifestar em nome de toda a equipe da RPD e da Fundação Astrojildo Pereira (FAP), nosso mais sincero sentimento de pesar pelo passamento recente de seu marido, o professor Cândido Mendes. Era um homem de uma enorme estatura, forjada em uma trajetória de defesa das grandes causas, como a educação, os direitos humanos, a equidade social, a democracia; personagem de destaque na vida brasileira que nos fará muita falta. Receba, pois, doutora, juntamente com sua família, nossa sentida solidariedade pelo dor e saudades que se abrem nessas horas.
Margareth Dalcolmo (MD: Obrigada.
RPD: É até constrangedor pedir à senhora que fale da importância da vacinação na campanha contra a Covid-19, depois de centenas de suas declarações enfáticas a esse respeito, no curso dos últimos dois anos. Mas o movimento antivacina continua presente, agora com o agravante de condenar a vacinação das crianças. O que a senhora ainda pode nos dizer sobre essa questão.
MD: Reitero, em primeiro lugar, meus agradecimentos pelas palavras sobre o Cândido. Sem dúvida, ele fará muita falta ao Brasil e, claro, a mim, entre outras razões, pelo que me auxiliou daquele seu jeito especial nas campanhas em que me envolvi, de combate à pandemia.
Sabíamos, desde o início, que a grande arma contra a Covid-19, uma doença viral, zoonótica, que atravessou a barreira humana, vinda do mundo animal, propiciada por uma série de condições que não cabe aqui declinar, era a vacinação. Essa, evidentemente, é uma situação que pode se repetir a qualquer momento e que, provavelmente, não será a última epidemia de nossas vidas. Não teremos grandes tréguas da maneira como o homem tem pilhado e tratado mal o planeta.
Como se trata de uma doença viral, aguda, de transmissão respiratória, sabíamos, de saída, que a grande solução para essa natureza de doença seriam as vacinas. Sabíamos, também, que não haveria tratamento fácil para uma doença desta natureza, ao contrário das viroses de natureza crônica, como, por exemplo, a AIDS, que está entre nós há 40 anos, para a qual não há vacina até hoje. Para essas doenças crônicas, como a AIDS, a hepatite C, que também são virais, mas não são agudas, há tratamentos. É provável, portanto, que, hoje, será possível erradicar a hepatite C do mundo com os tratamentos disponíveis, desde que se garanta acesso igualitário para todos. Hoje, o acesso ainda é razoavelmente elitizado.
Tal como esperado, mais de 100 grupos de pesquisadores no mundo inteiro se dedicaram a buscar essa solução. Viraram dia e noite tentando resgatar modelos de vacinas que já haviam sido utilizados, ou plataformas, como chamamos, em doenças anteriores, como, por exemplo, dengue, no ebola, no Chikungunya, e que não haviam funcionado, como algumas vacinas de vetor viral, por exemplo, como é a própria plataforma da AstraZeneca/Oxford, que hoje está nacionalizada completamente pela Fiocruz, garantindo autonomia completa ao Brasil nesse sentido. Foi, sem dúvida, feito inédito, extraordinário, na história da medicina. Sem burlar etapa alguma, ética ou metodológica, pesquisadores lograram colocar – testadas e validadas e, sobretudo, regulamentadas pelas agências regulatórias – vacinas plausíveis e possíveis de protegerem nossa população. A despeito dos mais céticos, o impacto das vacinas foi inquestionável. Mesmo diante de novas variantes, as vacinas deram proteção, pelo menos em uma redução substancial do número de mortes e de casos graves pela doença. Os dados são tão, digamos, exuberantes, falam por si mesmos.
RPD: Os otimistas dizem que estamos em uma fase de domesticação da doença e que, em breve, teremos aprendido a conviver com ela. Já os pessimistas defendem que, enquanto a vacinação não chegar perto da universalidade, sempre correremos risco de que novas variantes surjam. É possível voltarmos a uma normalidade qualquer? E que normalidade seria essa? Quais os critérios sanitários, políticos e éticos nos permitiriam definir o que seria uma situação normal após uma pandemia como essa? Por exemplo, 700 óbitos diários podem ser considerados normais?
MD: Obrigada pela pergunta. Eu nunca me deixei contaminar pelo pessimismo, nem mesmo agora quando parece ser tão fácil, quando além de uma pandemia, vivemos uma situação bélica absolutamente inaceitável de qualquer ponto de vista. Mas eu diria que temos cicatrizes demais. Eu nunca usei a expressão novo normal.
O que é normal? Prefiro interpretar à luz da epidemiologia, à luz da clínica, do que são ou do que sejam as endemias, ou as epidemias. A covid-19, tendo alcançado esse grau de distribuição no mundo, gerou um fenômeno com a solução que já discutimos em relação às vacinas, que é outro fenômeno inaceitável, que é o que eu tenho chamado do apartheid vacinal. Para que considerássemos a doença controlada, seria necessário que tivéssemos, no mínimo, cerca de 60% das pessoas no planeta vacinadas. Mas a distribuição de vacinas pelo mundo é absolutamente iníqua. No Brasil, 72% da população já está imunizada com duas doses – ainda faltam alguns milhões que não compareceram para tomar a terceira dose, fenômeno comportamental que precisa ser analisado pelos antropólogos, sociólogos do comportamento, pois é inacreditável que isso continue a ocorrer. Mas em países como o Haiti, aqui ao nosso lado, a cobertura vacinal é baixíssima. Considerando que, na Alemanha, na França, o berço do Iluminismo, nos Estados Unidos, os estoques de vacinas se acumulam aos milhares, como se pode falar que 61% ou 62% da população já foram vacinados? Os números frios da distribuição de vacinas são inaceitáveis.
É lastimável que mecanismos criados para prever e solucionar esses problemas, como, por exemplo, o mecanismo Covax, das Nações Unidas, da própria OMS, não tenham sido acionados e continuam, portanto, ineficazes. Não se pode esquecer que o SARS-CoV-2 não vai desaparecer de nossas vidas, ele será um vírus endêmico entre nós, já está incorporado em uma coisa que chamamos clinicamente de painel viral. Trata-se de um procedimento a que submetemos um paciente quando é internado com suspeita de doença viral. Desse painel, já constam influenza, adenovírus, rinovírus, sincicial respiratório, H1N1, H3N2, e os SARS-CoV-2. Tudo isso já está integralizado no painel, de maneira que, daqui para frente, sempre será possível termos o que chamamos diagnóstico diferencial. O patógeno da Covid-19 não desaparecerá de nossas vidas, já vai integrar nosso painel viral.
A pergunta seguinte é se serão necessários reforços vacinais. A meu juízo, sim, todos precisaremos de uma terceira dose e de uma quarta dose de vacinação, independentemente da idade, de imunodepressão, será uma questão de adequar os prazos. O Brasil está em um caminho correto, já tendo começado a prover vacinas, a quarta dose, para as pessoas em determinada situação de prioridade, como idade, presença de doenças de imunodepressão, qualquer que seja ela. Então, isso está certo. Provavelmente, daqui a pouco, serão vacinados os profissionais de saúde, que estamos trabalhando diretamente com a doença, e depois, todo mundo deverá receber. A pergunta adicional é se será necessário vacinar-se contra a Covid-19 anualmente como se faz para a gripe.
Para mim, não. Não estou falando de fatos, falo de minha avaliação como médica, como pesquisadora, acho que não. Penso que teremos reforços e, muito provavelmente, a epidemia tende a se estiolar ao longo do tempo. É possível que ainda apareça uma ou outra variante com alta capacidade de disseminação, mas não deverá ser capaz de causar casos graves como nós temos visto com a variante ômicron e suas subvariantes, a BA.2, que hoje não é predominante, mas ela se dissemina com muita facilidade no mundo todo, inclusive, no Brasil.
Ainda temos um número de mortes muito alto. Quem está internado e quem está morrendo? São pessoas não vacinadas ou pessoas de mais idade, portadoras de uma condição que as fragilize muito e que, portanto, as expõe a uma determinada complicação clínica. Então, como vejo isso? Entrando no terceiro ano pandêmico, precisamos vacinar de maneira mais equânime o mundo todo. Não adianta completar 90% da população brasileira. Sabemos que estamos falando de uma doença de transmissão respiratória e, portanto, os cuidados ditos não farmacológicos são imprescindíveis. Considero uma temeridade, uma perda de tempo a discussão em curso no Rio de Janeiro sobre o uso de máscara. Já me recusei, inclusive, a dar entrevistas a esse respeito. Precisaremos usar máscara durante muito tempo ainda. Basta responder à seguinte pergunta: quem de vocês, hoje, ou daqui a um mês, embarca em um avião para um voo internacional, transoceânico, sem máscara, sabendo que, mesmo que os aviões tenham melhorado a condição de aeração e filtragem, estamos falando de uma doença altamente contagiosa e de transmissão respiratória? Não tem sentido, os cuidados não farmacológicos em ambiente fechado, como o uso de máscara, a meu juízo, deverão ser mantidos ainda no ano de 2022. Ao ar livre, é outra coisa, não tenho dúvida, pode-se ficar sem máscara
RPD: Está-se pensando em transferir às pessoas a responsabilidade pelo uso ou não de máscaras, quando a responsabilidade tem de ser das autoridades sanitárias por se tratar de uma questão de saúde pública. Essa inversão de responsabilidade praticamente atribui ao doente a opção de ficar doente. O que pensa sobre isso?
MD: Tenho dito e vou aqui reiterar: um dos produtos positivos dessa tragédia que se abateu sobre nós, foi, primeiro, o reconhecimento óbvio de que a grande arma contra a pandemia é o SUS, como declarei lá trás, em 13 de março de 2020. Hoje até as elites mais avançadas do país reconhecem isso. E cada vez que recebo uma foto de um empresário – com quem discuti a compra privada de vacina, em uma iniciativa espetacular conduzida pela Luiza Trajano – sendo vacinado com uma plaquinha de Viva o SUS!, me comove muito. Isso revela que o SUS mostrou a todo mundo que ele é universal, de que ele deve ser equânime, e que ele era a grande arma para fazer face à epidemia.
O segundo aspecto positivo foi que nós, pesquisadores, saímos de nossos casulos, quer dizer, de nossos laboratórios, de nossos pontos de pesquisa, nossos hospitais, e viemos a público e nos expusemos. Nunca houve participação tão maciça, permanente de vários médicos, cientistas com a população. Sinto um reconhecimento de muita gente nas ruas, em aeroportos, supermercados, retribuindo essa demonstração de confiança. Jamais recebi hostilidade. Parece que fizemos a coisa certa, nos desencastelamos dos nossos consultórios e nos expusemos ao público. Levamos muita pancada também, mas guardamos uma coerência e uma tranquilidade quanto ao que sabemos fazer, que é cuidar de pessoas, estudar, publicar, fazer estudos de boa qualidade e, sobretudo, não cair na simplificação dicotômica do certo ou errado, abrindo sempre espaço para certo relativismo quando couber.
Sobre a questão da responsabilidade na mão individual é tão absurda quanto a autorização de bailes de carnaval privados. Fui favorável ao cancelamento do Carnaval e paguei preço alto. Uma matéria em O Globo chegou a dizer que a decisão penalizou apenas os desfiles, que, como sabemos, ocorrerão em data posterior. É jogo de ilusões, as centenas de festas privadas com 400, mil pessoas, e todo mundo sem máscara, inundaram a cidade, sem a menor fiscalização. Resultado: todos estamos nos preparando, hospitais, rede pública, privada, nós, médicos, para os próximos dez dias. Haverá, sem dúvida, um boom de casos de infecção, pois ainda circula cepa altamente contagiosa.
O argumento de que “está todo mundo muito cansado” das restrições não é suficiente. Tem gente mais cansada do que os agentes de saúde na linha de frente do combate à pandemia? Não tem saída, está todo mundo cansado, mas isso não pode dispensar cuidados. Com um pouquinho mais de colaboração, paciência ou resiliência, nós chegaremos a imunizar 90% da população brasileira, encerrando de vez essa discussão nociva quanto à necessidade do uso de máscara. Ao ar livre, liberação geral; em ambientes fechados, máscara no rosto. Eu não recebo para uma reunião na minha casa pessoas que não se tenham vacinado com três doses e não possuam passaporte vacinal. É um comportamento que faz parte do processo civilizatório.
O problema mais relevante no momento é a vacinação de nossas crianças. Não é possível manter criança fora da escola. Eu já tive essa discussão com vários grupos de pais, e provoquei: “por acaso, você se perguntou se ia vacinar seu filho para sarampo?”. Crianças de seis meses recebem vacina penta valente, cinco vacinas de uma vez só na sua coxinha, e nenhum pai se pergunta se aquilo é muito, se é pouco para dar no seu bebê. A contaminação política dessa discussão é muito nociva, considero. Hoje, a cobertura vacinal de crianças é preocupantemente baixa. Estive em Pernambuco há poucos dias, justo quando Cândido faleceu. Mas ainda antes me reunir com o governador, o secretário de saúde, o ex-ministro Sérgio Rezende, e fiquei muito impressionada, porque eles tinham tomado as medidas sanitárias corretíssimas. Acontece que, apesar desse trabalho extraordinário, a cobertura vacinal de criança estava em 32%, vítima do movimento antivacina que levou o governo local a estocar vacinas. Ajudei como pude, fui ao “Bom Dia Pernambuco” e fiz meu discurso pró-vacina.
Este é o problema prioritário de saúde pública no Brasil, não é a discussão do uso ou não de máscara. As evidências atestam essa tese, ou será que alguém se sente seguro entrando sem máscara em um elevador onde alguém pode ter dado um espirro e espalhado no ar 200 milhões de partículas infectantes, replicantes, que ficam naquele ambiente?
RPD: O SUS não enfrenta problemas de prestígio ou reconhecimento. É uma instituição exemplar da sociedade brasileira. A pergunta é como está de recursos, humanos e financeiros? E a formação e o treinamento dos profissionais que se ocupam dos serviços prestados pelo SUS?
MD: Como disse, sabíamos que o SUS seria uma grande arma para combater a epidemia, mas também sabíamos o quão desvalido ele entrou nessa guerra. O SUS entrou, digamos, forte, no sentido do seu ideário, da sua universalidade, da sua oferta, da sua capilaridade, mas ele entrou combalido. Em algumas cidades, sobretudo, como no Rio de Janeiro, conhecíamos as deficiências do SUS, as clínicas da família desmanteladas desde o governo anterior. A situação era muito complicada e ficou mais grave. O reconhecimento da classe média quanto à qualidade dos serviços do SUS e, ao mesmo tempo, o empobrecimento da população que levou milhões de pessoas a deixar seus planos de saúde e recorrer à rede pública de saúde assolaram demandaram excessivamente o SUS. A começar, será necessário fazer-se investimento maciço em recursos humanos, para qualificar pessoal em condições de atuar nos 80% de resolubilidade que o SUS pode oferecer para doenças ou para assistência de modo geral, tanto no âmbito da assistência primária, quanto naqueles procedimentos de alta complexidade, de que a população não se dava conta pudessem ser oferecidos pelo SUS, como transplante, captação e transplante de órgãos, sem mencionar o fornecimento de medicamentos para doenças raras, de altíssimo custo.
Ouvi algumas vezes ao longo desses dois anos que era o seguro que cobriria a maioria das despesas médicas. Aprendi, porém, que não é seguro que vai pagar o transporte por avião de órgãos, nem fornecer os remédios sofisticados que haverão de evitar rejeição ao longo de toda a vida. Na verdade, as seguradoras não reembolsam remédios, ao contrário dos Estados Unidos. Paga-se uma fortuna de seguro de saúde, e outra fortuna para conseguir alguns medicamentos de uso prolongado.
RPD: É difícil entender como a politização da questão das vacinas possa ter alimentado atitudes negacionistas de parte de setores mais ilustrados da população, bem como de entidades médicas estaduais e federais. A que se pode atribuir esse fenômeno?
MD: Olha, eu mesma vivo sob essa perplexidade porque eu tive muitas surpresas, algumas decepções, inclusive, da origem dessas atitudes. Imaginei que pudesse ser um problema de comunicação, mas, no Brasil, franqueou-se o acesso aos meios de comunicação. Pode não haver filtros, mas o acesso está liberado, até mesmo em nome da liberdade de expressão se diz qualquer coisa. Confesso que, para mim, é um mistério. Gostaria de destrinchar essa questão com sociólogos do comportamento, antropólogos sociais, pessoas de fato qualificadas para explicar como esse fenômeno – irracional, de qualquer ponto de vista – se espalhou como um rastilho de pólvora.
Uma coisa é o comportamento lamentável de alguns dos nossos órgãos de representação, como o próprio Conselho Federal de Medicina (CFM), que a nós nos entristece enormemente. Outro foi a politização que contaminou órgãos como a Conitec, criado para regular a incorporação de procedimentos e medicamentos. É inaceitável. Como foi que isso aconteceu? Gostaria muito de saber responder de uma maneira precisa, como eu costumo responder, mas não sei. Tampouco conseguiria explicar como determinados grupos de médicos também se politizaram nesse discurso, alimentado por uma ideologia que levou as pessoas a parar de raciocinar, fazendo às vezes troça do que chamamos evidências científicas, como se evidências científicas fossem algo como um luxo, e não algo sobre o qual devemos basear qualquer decisão, mesmo em uma situação de epidemia.
Atos heroicos, ou voluntários, ou um voluntarismo de experimentação, como eu chamo, não tem mais sentido no mundo de hoje. Em um mundo em que você demonstra tudo aquilo, formula uma hipótese e vai buscar demonstrar se essa hipótese está certa ou errada. Não é muito importante ela estar certa ou errada, o importante é que você diga a verdade. Como Pasteur, ficou triste à beça quando foi lá mostrar seus experimentos, ficou zangado, mas não escondeu, não escamoteou, quer dizer, os resultados, ruins ou não, vieram à tona. Nós não fazemos pesquisa para dar certo, nós formulamos uma hipótese e procuramos demonstrá-la. Sabíamos desde o início que a solução para a virose de transmissão respiratória aguda seria a vacina, que era óbvio que o investimento tivesse de se concentrar na vacina. Questionar que as vacinas utilizadas teriam menos benefício do que efeito adverso é absolutamente irresponsável; mais ainda, dar ouvidos a esse discurso.
Muito pior é que médicos estivessem metidos nisso, defendendo algo chamado de tratamento precoce. Somente agora, após dois anos de pesquisa, estamos chegando no tratamento precoce de verdade, antivirais que poderão ser usados em casos confirmados, com sintoma até o quarto dia; os casos leves e moderados, com medicamento por via oral, cinco dias etc. O que se alegava antes era mero lixo, vale dizer cloroquina, nitazoxanida, invermectina. Em junho de 2020, fizemos um documento, à luz dos estudos de fase três publicados, subscrito por 11 pesquisadores, entre os quais me incluo, em junho de 2020 que não encontrava bases científicas para o esdrúxulo tratamento precoce.
É normal que o tempo gere informações e que a dinâmica da própria epidemia exija a revisão de certos conceitos. No caso das vacinas, os resultados dos estudos revelam que o número de efeito adverso é tão pequeno em relação aos benefícios que não cabe questionar a abertura de escolas e universidades. Não tem mais sentido, nada é mais prejudicial do que manter a criança fora da escola. Conversei com mães que ficaram em casa confinadas com criança fora da escola durante mais de um ano, com marido, tendo que fazer tudo dentro de casa, sem ajuda, e ainda tendo as crianças dentro de casa, muitas das quais tinham como única refeição a merenda da escola.
RPD: As experiências brasileiras de saúde pública que mais deram certo foram aquelas que tiveram ampla participação popular, de grupos, organizados ou não, da sociedade civil, como nos casos da HIV e AIDS, além, claro, de campanhas de redução do consumo do tabaco e da vacinação de poliomielite. Agora presenciamos todas essas manifestações não só contrárias à vacina, mas também a favor dessa bobagem do uso da invermectina, da cloroquina, que têm contribuído para estacionar a cobertura vacinal, por exemplo, em cidades como o Rio de Janeiro. Esse movimento pernicioso poderá impedir que a gente chegue ao nível de 90% de imunização? Ou ainda é possível remobilizar a população em defesa do sistema de saúde?
MD: Não há dúvida de que a enorme participação e adesão populares ajudaram nos acertos da política pública de saúde. Isso aconteceu mesmo quando a população em geral ainda não tinha conhecimento do que o SUS era capaz de fazer. Por exemplo, o que contribuiu para a expectativa de vida do brasileiro aumentasse de 54 anos para 76 anos em 40 anos? Foi o saneamento básico. Coisa nenhuma: 40% das escolas no Brasil não têm esgoto, nem saneamento básico. É um escândalo a questão do saneamento básico no Brasil. A resposta correta é a vacinação, a vacinação das crianças, que reduziu de maneira espetacular a mortalidade infantil, nas últimas décadas.
O brasileiro poderia não estar a par das proporções, taxas, etc, do êxito da política pública de saúde, mas via a quantidade de pessoas que envelheciam em suas famílias. Hoje, o Brasil é um país que envelhece, 11% da população têm mais de 60 anos, a despeito de todas as nossas iniquidades. Temos, portanto, de nos preparar para cuidar de uma população que envelhece no Brasil. Esse é um dos maiores desafios do SUS.
Na verdade, são vários os desafios. Milhares e milhares de brasileiros, que passaram pela Covid-19, têm sequelas da doença. Covid-19 é uma doença grave. Muitos dos que exibiram sintomas leves, sem necessidade de entubação ou transferência para o CTI, apresentam sequelas, e isso exige reabilitação, isso exige serviços de alta complexidade – públicos e privados – com diversas especialidades, para assistir esse universo de pessoas e ajudá-las a se reintegrar no mercado de trabalho. Estou falando de sequelas vasculares, pulmonares, motoras e até psiquiátricas. A doença pode afetar o comportamento e outros aspectos da condição humana que ainda não identificamos.
Por tudo isso, não pretendo parar de repetir: tal como o velho antibiótico que tínhamos de tomar três vezes ao dia, de oito em oito horas, hoje o compromisso é ser vacinado, para que possamos conter a transmissão dessa doença. Já estamos conseguindo diminuir a incidência de casos graves, de mortes. Não se pode, portanto, negar o óbvio, quer dizer, a tradição de adesão ao processo de vacinação. Basta verificar que, hoje, quem está exibindo sintomas graves da doença, quem está morrendo, são os não vacinados, este é um dado público. Conhecemos depoimentos dramáticos, como o de um pai que se interna e interna o filho, o filho morre, e ele dá uma declaração patética: “fui eu que convenci meu filho a não se vacinar, porque ele queria se vacinar. Ele tinha 32 anos, eu tenho 65. Ele morreu, e eu fiquei”. Por que a população não pega esse depoimento de uma família destroçada?
Os americanos têm chamado esse fenômeno de hesitação vacinal. O termo é até engraçado, mas esse comportamento pode matar.
Continuarei na luta cotidiana para convencer as pessoas de que vamos melhorar nossa condição de nos reintegrarmos a uma condição de uma vida cotidiana normal, como tínhamos antes, superando todas as sequelas – clínicas e sociais – da Covid-19 indelevelmente marcadas no Brasil.

Saiba mais sobre a entrevistada
Dra Margareth Dalcolmo MD, PhD é pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz). É doutora em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo (USP), com experiência na condução e participação de protocolos de pesquisa clínica e tratamento da tuberculose e outras micobacterioses. É membro de Comissões Científicas das Sociedades Brasileiras de Pneumologia e Tisiologia e de Infectologia, da REDE TB de Pesquisa em Tuberculose e membro do Steering Committee do Grupo denominado RESIST TB, da Boston Medical School. Integra também o Expert Group for Essential Medicines List da WHO e o Regional Advisory Committee do Banco Mundial para projetos de saúde na África Subsaariana em tuberculose e doenças respiratórias ocupacionais. Tem mais de 100 artigos científicos publicados nacional e internacionalmente. É docente da Pós-graduação da PUC-RJ, membro e ex-coordenadora da Câmara Técnica de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Cremerj. Investigadora principal dos ensaios clínicos SimplicTB da Global Alliance for Tb Research e BRACE Trail para vacina BCG para prevenção da Covid-19. Colunista semanal do jornal O Globo, em “Hora da Ciência”. Presidente Eleita para a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia para o biênio 2022-2024.
** Entrevista especial produzida para publicação na Revista Política Democrática Online de março/2022 (41ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.
*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.
Acesse todas as edições (Flip) da Revista Política Democrática online
Acesse todas as edições (PDF) da Revista Política Democrática online