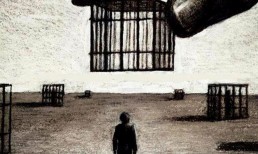Hamilton Garcia: A covid-19, os interesses e a política
Faz um mês estamos imersos em intensa discussão sobre a COVID-19, sob a ótica dos infectologistas e epidemiologistas, o que foi importantíssimo para aprendermos como lidar com a moléstia e sua propagação – não obstante as inevitáveis tolices, como a da ineficácia das máscaras para a proteção individual e coletiva. Aprendida a lição, cuja divulgação não pode cessar, é chegada a hora de abrirmos o leque da discussão sobre a pandemia, sobretudo em relação a seus efeitos de médio e longo-prazos.
Tornada pública em dezembro de 2019 pelas autoridades chinesas – depois de três semanas de abafamento por meio de prisões e censura[i] –, a epidemia está provocando, além de muitas mortes, um colapso nas economias, em escala mundial, cujos desdobramentos políticos ainda são incertos. O consenso é que sérias consequências sociais advirão do esforço de contenção da doença, embora se esteja longe de qualquer convergência programática de como lidar com o problema.
A crença ingênua de que a emergência faria cessar a disputa entre indivíduos e povos pela supremacia não resiste à simples observação da vida cotidiana. Ao contrário, o medo e as incertezas se constituem em ingredientes ainda mais picantes em meio aos dilemas e desafios políticos e econômicos que o mundo e o Brasil já vinham enfrentando, onde as fraturas entre sociedade e Estado apresentam cenários potencialmente explosivos de solução.
No caso brasileiro, o Governo Bolsonaro saiu em desvantagem ao menosprezar os sinais vindos do exterior e tentar minimizar os riscos e custos locais da epidemia – mesmo sendo observador privilegiado do erro dos governos europeus, enredados em querelas ideológicas sobre a globalização –, deixando seu Ministério sem rumo e o terreno aberto aos opositores acantonados nos Governos estaduais e no Congresso.
Já em fevereiro, a evolução da COVID-19 no Irã e na Itália chamavam atenção pelo crescimento rápido dos casos e mortes, e, embora o intercâmbio turístico entre Brasil e Itália fosse intenso, o Governo, por meio do Ministério da Saúde, se limitou a alterar a definição de casos suspeitos, incluindo pacientes provenientes destes países – no mesmo dia, o primeiro caso, importado da Itália, foi identificado em São Paulo[ii] –, deixando abertos portos e aeroportos sem qualquer alerta ou triagem sanitária, possibilitando a penetração livre do vírus no país.
A medida capital para frear o início da doença, em todos os países depois da China – e tempo, nesses casos, é vida, como se viu no bem sucedido caso alemão[iii] –, seria o confinamento temporário dos viajantes e/ou o fechamentos das fronteiras, o que, àquela altura, parecia inconcebível pelo perfil do público afetado (turistas e negociantes) e pelas políticas abusivas das empresas aéreas e hoteleiras, resistentes ao cancelamento/adiamento das viagens. A resistência também vinha dos devotos da globalização, que tachavam a medida de xenófoba e inócua, como fez o comentarista Demétrio Magnoli, na GloboNews, às vésperas do fechamento das fronteiras europeias, críticando os líderes da extrema-direita europeia nos seguintes termos: “o vírus não tem nação”.
As névoas ideológicas não cessariam, desde então, de prejudicar a discussão sobre o combate à pandemia e Bolsonaro não deixaria de se contrapor à torrente dominante (politicamente correta) com sua própria crença (politicamente incorreta), embora ambas, como dizia Marx&Engels[iv] há 174 anos, "de modo algum combatem o mundo real lutando contra a 'fraseologia' do mundo".
Os erros estratégicos do Governo e o desprezo do Presidente pela “gripezinha”, todavia, são apenas parte da explicação do problema. Em boa medida, ele e outros líderes mundiais se viram diante de poderosos interesses econômicos e de classe que os constrangeram no enfrentamento do problema ainda em fevereiro, quando os boletins epidemiológicos[v] já registravam sinais do poder de disseminação do vírus pelo mundo. China excetuada, dos 37 casos confirmados, no dia 04/02, em 11 países, sem óbitos, pulava-se para 216 casos confirmados, no dia 12/02, em 24 países, com um óbito, saltando-se para 1.200 casos confirmados, no dia 21/02, em 26 países, com oito óbitos.
Os interesses em questão giravam em torno das cadeias econômicas globalizadas, em particular o turismo que representa 10,4% do PIB mundial (US$8,8 trilhões) e emprega 319 milhões de pessoas, tendo os EUA a UE como principais destinos. No Brasil, embora menores, os números são igualmente significativos: 8,1% do PIB (US$152,5 bilhões) e 6,9 milhões de empregados[vi]. Tais interesses, contrários às medidas restritivas ao fluxo de viajantes, tiveram no Prefeito de Milão (Giuseppe Sala), do Partido Democrático, seu momento emblemático com sua malfadada campanha “Milão não para”, que chafurdou o Norte da Itália no caos hospitalar, para seus padrões.
O problema econômico seria uma explicação suficiente para o titubeio da maioria dos governos pelo mundo, mas deve-se acrescentar outra, não menos importante, de cunho ideológico e mesmo afetivo, que fez governos progressistas europeus, em guerra com a extrema-direita, verem o vírus como um estorvo às suas causas liberais, ao mesmo tempo que as classes altas faziam vista grossa às ameaças ao seu estilo de vida, baseado no consumo de luxo, da qual faz parte o turismo internacional. Neste quesito, a China se saiu bem melhor, não titubeando em fechar suas fronteiras assim que deixou de ser exportadora e se tornou importadora de casos.
Embaraçados por esses e outros constrangimentos, e com a proliferação da doença em meados de março, restou aos governantes correr atrás do prejuízo, inclusive no Brasil, impondo a quarentena horizontal como medida de emergência para por freio à avalanche prenunciada, sem planejamento ou medidas preparatórias para o fechamento de escolas, universidades, comércios, etc., tudo feito de supetão numa sexta-feira treze.
O problema pôde ser minorado, até aqui, por nossa condição de economia periférica, relativamente fechada, onde a população se distribui em vasto território por meio de precária rede de transporte, e cujas diferenças de classe produzem distanciamento social permanente sem a necessidade de decretos governamentais, para não falarmos na limitação da renda e das condições climáticas – a epidemia, aqui, teve início no verão –, fatores inicialmente inibidores do ritmo da proliferação viral, embora também potencializadores do tempo de sua duração.
O saldo final dos fatores, entre outros aqui não abordados (demográficos, comportamentais, políticos, etc.), aponta para um impacto da doença, até aqui, inferior aos padrões internacionais, em termos de mortes e hospitalizados.
Todavia, os mesmos fatores também indicam a probabilidade de um hiato entre as curvas, fazendo com que não só tenhamos curvas epidemiológicas mais socialmente segmentadas (classes altas, médias e baixas), como intervalos maiores entre elas, alongando a tensão temporal da crise e abrindo espaço para o esgotamento financeiro e psicológico dos setores mais vulneráveis, que entraram na quarentena em março quando só os mais ricos estavam sendo afetados, o que já impactou o isolamento/distanciamento social no momento em que ele é mais importante para os pobres.
Caso tal hipótese esteja correta, a quarentena precoce das classes populares, nas periferias urbanas e no interior, deverá entrar no rol dos erros estratégicos dos epidemiologistas, tanto pela ausência de modelos que levem em conta nossas especificidades, como pela subestimação de medidas cruciais como as barreiras sanitárias intermunicipais – que vêm se constituindo em freio importante à interiorização do vírus, onde foi implementada – e o próprio impacto da informação sobre os menos escolarizados.
Infelizmente, a vida é assim: aprendemos aos trancos e barrancos, muitas vezes a um custo acima do razoável se apenas a razão contasse – razão que, infelizmente, também foi infectada pelo vírus do sectarismo partidário. Mas, se pelo menos, ao final, tivermos aprendido a enfrentar a atual crise levando em conta nossos problemas concretos – em meio às inevitáveis narrativas ideológicas e inexoráveis rinhas político-corporativas –, ouvindo nossas inteligências autênticas, em diálogo com o mundo, então talvez tenhamos forjado a chave para o enfrentamento de toda nossa imensa gama de problemas que, no passado, nos esmeramos por esconder debaixo do tapete.
Notas
[i] Vide Crusoé, in. <https://crusoe.com.br/edicoes/101/a-verdade-abafada/>.
[ii] Portal PEBMED, In. <https://pebmed.com.br/coronavirus-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-a-nova-pandemia/>.
[iii] “A Alemanha reconheceu seu surto muito cedo. Duas ou três semanas antes do que alguns países vizinhos”, disse o virologista Christian Drosten; vide El Pais de 21/0320, Baixa letalidade do coronavírus na Alemanha: três hipóteses sobre o fenômeno; in. <https://brasil.elpais.com/brasil/2020/03/20/ciencia/1584729408_422864.html>, em 13/04/20.
[iv] A Ideologia Alemã – crítica da filosofia alemã mais recente nos seus representantes L.Feuerbach, B.Bauer e M.Stirner e do Socialismo Alemão nos seus diferentes profetas; Ed. Centauro/SP-2006, p.14.
[v] Do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para o Novo Coronavírus, vide Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Boletins 1-3, in. <https://www.saude.gov.br/boletins-epidemiologicos>, em 13/04/20.
[vi] Vide Folha de Londrina, in. <https://www.folhadelondrina.com.br/economia/turismo-movimenta-roda-da-economia-no-brasil-e-no-mundo-1028761.html>
Hamilton Garcia: Democracia, idiotia e facciosismo
Na medicina, a idiotia é descrita como "atraso mental e/ou intelectual caracterizados pela ausência de linguagem”. Por sua vez, a idiotice é comumente definida como o contrário da perspicácia e da inteligência. Entre ambas as definições existe um leque de arranjos e combinações à disposição da criatividade. É certo, porém, que a contínua revolução das comunicações – da impressa à falada – e da educação escolar foram desenvolvendo um novo idiota: não só apto à linguagem, como possuidor de certa inteligência.
O problema reside justamente no paradoxo: a linguagem e a comunicação encerram, desde seu nascedouro, o desafio do entendimento que, conforme evoluímos, vai se tornando cada vez mais difícil para todos, o que pode nos levar a sérios mal-entendidos. Assim, a idiotice, numa sociedade cada vez mais complexa, informada e democrática, onde todos são instados a se posicionar sobre tudo e todos em tempo real – o problema do tempo não deve ser subestimado –, é o fantasma que nos assombra.
No que tange à idiotia política, no caso brasileiro, as coisas ficam sensivelmente piores em meio ao baixo nível da educação formal, o mesmo acontecendo com a idiotice quanto ao mérito funcional da escolarização. Em ambos os casos, as péssimas instituições republicanas que nos governam e deseducam – sobretudo os partidos políticos – nos levam a um desarranjo ainda pior. Caberia ao partido político um papel de antídoto, pelo menos à idiotice, que entre nós é quase desconhecido, selecionando os quadros que irão constituir os vários níveis da elite política dirigente (legislativa e executiva) do Estado.
Fora os partidos de esquerda radical – que, mesmo assim, caíram na idiotice pelo dogma – ou moderada, todos os outros tem graus variados de anomia institucional onde pululam regras discricionárias em benefício de oligarquias (fechadas ou semifechadas) que não toleram o debate de ideias, ignoram o desenvolvimento pessoal e cultivam o desprezo pelo pensamento sistemático (filosófico ou científico); o que também afeta, de alguma maneira, a direita radical e seu (re)aparecimento tardio (olavismo e bolsonarismo) em ruptura com a tradição integralista (Plínio Salgado) e com a crítica ao espírito de clã (Oliveira Vianna) – tão cara ao positivismo militar.
Em tais condições, os quadros políticos são formados fora do sistema político (stricto sensu), o que afeta tanto sua quantidade quanto sua qualidade. Quanto ao primeiro aspecto, não porque sejam poucos os formados no campo associativo, mas porque são poucos aqueles que se dispõem a transitar para a esfera mais complexa e incerta do Estado (poder político). Quanto ao segundo, a formação associativa (corporativa ou particular-expandida) é insuficiente para habilitar o engajado à esfera da política (geral-superior).
No caso da esquerda, tal problema é contornado pelo fato de a esfera corporativa ser intensamente habitada pela partidária, de modo que o militante (sindical, estudantil ou social) já recebe treinamento partidário em paralelo ao seu próprio – como se pode notar no número de políticos provenientes do movimento estudantil, sindical e identitário.
Não é por outro motivo que liberais e conservadores vêm lançando mão de institutos próprios de formação de quadros políticos, alguns deles se posicionando em leque variado de partidos – como fazem os evangélicos. Neste segmento, situado à extrema-direita, o olavismo se coloca como movimento vocacionado para a formação de um bloco histórico de poder em combate aberto com o campo progressista, como outrora, em forma e direção radicalmente diversos, o catolicismo de esquerda (teologia da libertação) pretendeu, na época de ouro do petismo, sem êxito.
O olavismo, em especial, vem sendo associado à idiotice reinante no debate político do país, embora não se possa, quanto ao método, acusá-lo de pioneirismo: a histeria e, pior, a violência verbal – muitas vezes disfarçada de “performance” –, dois aspectos constitutivos da idiotice reinante, foram usadas e abusadas pelo campo progressista muito antes, na época em que "bolsonarismo" não passava de um xingamento assacado contra qualquer crítico do PT depois do Mensalão. A imensa avenida pavimentada pelos petistas – aberta em priscas eras pelos stalinistas – encontra-se hoje tomada por bolsomínions (e seus antípodas siameses) inspirados ou formados pelo “Professor Olavo".
A fonte histórica deste aprendizado da “política de massas”, de onde se origina a explosão participativa que veio a redimensionar o fenômeno em tela, foi o jacobinismo (francês) do séc. XVIII e o movimento operário (inglês) do XIX, otimistamente percebidos por Marx e Engels como rudeza do aprendizado. É dessa fonte, mais particularmente de Lênin, que Olavo de Carvalho pretende derivar seu método de ação, a partir de sua experiência no PCB dos anos 1970, onde conheceu tais autores.
Lênin, na Russia dos anos 1910, em meio a uma sociedade esmagadoramente camponesa, impactada pelo capitalismo europeu, entrou em rota de colisão com a ortodoxia marxista da II Internacional, de base urbana e sindical, passando a valorizar o protagonismo das massas camponesas exploradas, sob a liderança do operariado, inaugurando uma inédita aliança operário-camponesa-estudantil que derrubaria o regime liberal que sucedera o czarismo e abriria caminho para o socialismo (comunismo de guerra, 1918-1920).
O uso de métodos autoritários e heterodoxos, por parte dos leninistas, para impulsionar tal projeto revolucionário, rendeu à Lênin críticas, tanto à direita (K.Kautsky) como à esquerda (R.Luxemburgo) da social-democracia, em relação ao abandono da perspectiva democrática do movimento operário. Os desdobramentos da vitoriosa Revolução Bolchevique (1917) e sua consolidação pós-Lênin (stalinismo), não deixaram dúvidas quanto ao acerto de tais críticas.
Foi este aspecto da eficiência da técnica do atraso, como nos mostra Thaís Oyama[i], que fascinou Olavo de Carvalho e o fez sustentar seu método na guerra político-cultural contra a esquerda. Argumentando que os adversários ascenderam se valendo da manipulação e da desonestidade intelectual, concluía ele que seria justo que a direita recorresse aos mesmos métodos para derrotá-los.
Daí os ataques abaixo da linha da cintura e as investidas destinadas a desmoralizar os adversários preconizados por ele – que também caracterizaram o terror stalinista na URSS, tendo sido copiado e refinado pelo nacional-socialismo alemão: “Não puxem discussão de ideias”, dizia Carvalho em dezembro de 2018, “investigue alguma sacanagem do sujeito e destrua-o. Essa é a norma de Lênin: nós não discutimos para provar que o adversário está errado. Discutimos para destruí-lo socialmente, psicologicamente, economicamente”[ii].
A batalha cultural do professor de filosofia on-line vem gerando um número surpreendente de militantes fanatizados (idiotas), é verdade – embora não exclusivamente. Mas, isto não se deve ao método, tomado isoladamente. Hoje, como outrora, os riscos derivam do encontro desses métodos com sistemas de dominação em crise, fato que vem sendo sistematicamente negligenciado por setores democráticos do conservadorismo, liberalismo e socialismo, deixando o tema da crítica e das reformas (quase) exclusivamente aos cuidados dos adeptos do método-totalitário.
Persistir em, simplesmente, apontar o dedo contra os agentes idiotizantes ou os próprios idiotas, sem buscar cessar o fomento proporcionado pelo quadro geral onde a idiotia medra – vale dizer, no caso brasileiro, elites despreparadas, instituições (historicamente) carentes de legitimidade, baixa eficiência e altíssimo custo –, não deve nos levar a porto seguro.
Hamilton Garcia de Lima (Cientista Político, UENF/DR[iii])
São João da Barra, 09/03/20.
[i] Tormenta – o governo Bolsonaro: crises, intrigas e segredos, ed. Companhia das Lestras, sd, p.198.
[ii] Apud Oyama Idem, p.199.
[iii] Universidade Estadual do Norte-Fluminense/Darcy Ribeiro.
Hamilton Garcia: O Brasil não é para principiantes
Ao longo de nossa história tivemos muitos exemplos de como a tentativa de nos igualar a europeus e norteamericanos ou mesmo russos, cubanos e chineses, fazendo tábula rasa de nossas especificidades históricas – que não podem ser confundidas com singularidades, pois comuns a países da periferia capitalista –, foi politicamente desastrosa, além de teoricamente estéril. O problema é que o tempo e os modismos intelectuais acabam por diluir este singelo aprendizado, forçando-nos a voltar a velhos temas que se pensavam superados.
A dificuldade teórica básica para se entender o Brasil e todos os países de modernização hipertardia (Índia, China, etc.) – para não dizer a própria modernização capitalista –, para além dos antolhos ideológicos e dos interesses de sempre, deriva, como alertava Marx[i], da inclinação a "tomar o conceito de progresso na forma abstrata habitual”: "O ponto propriamente difíçil (…) é discutir (…) de que modo as relações de produção, como relações jurídicas, seguem um desenvolvimento desigual” – que Trotsky, observando a Rússia, adendaria, “e combinado". Seguindo a mesma trilha, Robert Boyer[ii], da escola regulacionista francesa, asseveraria que "não seria possível conceber uma economia pura, isto é, desprovida de toda e qualquer instituição, (…) de direito e de (…) política”, já que é "da interação entre a esfera econômica e (a) esfera jurídico-política que resultam os modos de regulação”.
A modernização, portanto, é um processo compósito que se desenvolve simultaneamente ao nível econômico, social e político, encontrando no Estado seu momento decisivo, de alavancagem ou contenção, à depender da direção dominante no Governo. Em nosso caso, até o séc. XIX, o governo esteve sob o comando da Dinastia de Bragança, cujo etos, como é sabido, é o do Estado patrimonialista lusitano, ramo pioneiro do colonialismo europeu (séc. XV-XVI) que se caracterizou pela capacidade pioneira de combinar a centralização política com o capital mercantil, possibilitando a Portugal – junto com a Espanha –, por bom tempo, a liderança na expansão comercial ocidental.
O patrimonialismo português se forma sob condições muito especiais, que não cabe discutir aqui, mas cujas características são análogas àquelas descritas por Trotsky[iii] em relação ao czarismo russo: um sistema que não foi fruto do “equilíbrio das classes economicamente dominantes (…) mas (…)(de) sua fraqueza(,) que tornou a autocracia burocrática (…) uma organização independente", representando uma forma intermediária entre o absolutismo (centro-oeste) europeu e o despotismo asiático – embora mais próximo do último para nosso autor.
O mesmo fenômeno foi percebido por Raimundo Faoro[iv], embora à partir de base teórica diversa (weberiana), o que o levou a caracterizar o sistema político patrimonial como estatólatra, onde o capitalismo assumiria a forma de um capitalismo politicamente dirigido, cujo aparato burocrático obtém a lealdade por meio da imantação de grupos politicamente escolhidos e o liberalismo não pode desempenhar qualquer papel positivo. Por isso, continua ele, no lugar da história que revolve seu passado, o que temos é um eterno “revival" em meio a certos "aggiornamentos".
Em tal sistema, prossegue Faoro, ”a racionalidade obedece (…) a valores” (éticos, religiosos e principalmente políticos), em contraste com a "dominação racional” própria do capitalismo (centro-oeste) europeu, onde prevaleceria "a ação social orientada por meios e fins”, propiciando, via mercado, o desenvolvimento do sistema jurídico igualitário e a perspectiva da liberdade individual, que se constituiriam, com a emergência operária, na antessala da democracia-liberal moderna.
Enquanto isso, no Brasil e em Portugal, a regulação da atividade econômico-social pelo Estado assumiria caráter tutelar e autoritário, relegando a sociedade civil a uma menoridade crônica na esperança de manter a sociedade política a salvo das incertezas e turbulências da modernidade. Portanto, fenômeno que vai muito além da mera reprodução de uma “herança cultural” avessa à separação das esferas pública e privada, com impactos nas instituições e na formação dos atores políticos[v], embora não se possa menosprezar tais efeitos.
É certo que a contenção da sociedade civil não é atributo exclusivo das formações patrimonialistas. Também os liberais, mundo afora, temerosos do avanço do movimento socialista, intentaram o mesmo[vi]. Ocorre, todavia, que as condições sob as quais operavam eram bem distintas, partindo de um Estado reformado à sua imagem e semelhança – assim como (em parte) a religião –, de modo que já no séc. XIX a classe operária – ao custo de enormes conflitos e sofrimentos[vii] – havia conquistado tanto o direito político, como iniciado a conquista dos direitos sociais, que mudariam a face do capitalismo lhe permitindo resistir ao assédio revolucionário dos socialistas, o que em nosso modelo (semirreformado) só foi possível por meio de ditaduras (1937 e 1964).
Em nosso modelo de regulação capitalista, no séc. XX – mais adequadamente chamado de neopatrimonialista[viii] –, a manutenção de posições de poder pelas velhas oligarquias – atuando como forças auxiliares nas fases bonapartistas – é fundamental, como nos ensina Ernest Mandel[ix], para entender a natureza e a mecânica das restrições ao ritmo e alcance do processo de incorporação da acumulação primitiva ao modo capitalista, principalmente por meio da exclusão do aldeão da economia monetária e do circuito de produção de mercadorias, que, no caso brasileiro, assumiu a forma do monopólio de fato da terra por uma classe que, embora declinante, era capaz de manter-se dominante através de um aparato cartorial de legalização do roubo de propriedades e de votos, também conhecido como sistema coronelista de inclusão política, no campo, e clientelismo, na cidade (vide Clientelismo, cargos e voto – como as oligarquias erodem a democracia). Fenômenos que, tampouco, podem ser reduzidos a "idealismo moralista” em sacrifício da "realidade empírica”, por qualquer ângulo que se olhe.
Este é o intrincado cenário de nossa transição à modernidade, onde não se pode falar nem de ausência, nem de plena realização do moderno, mas, como disse Mandel, da "permanente troca metabólica" do moderno com as formas tradicionais de acumulação, num processo direcionado à limitação da forma primitiva pelo capital, "numa unidade dialética” onde o moderno tende a absorver a produção do setor arcaico para se apropriar de seus fatores (Marx) e mercados.
O mesmo vale para a esfera política, embora em ritmo e caminhos próprios, como percebeu Gramsci[x] olhando para a transição italiana: “a questão nacional e a questão de classe” foram resolvidas por “um tipo intermediário" de poder, onde a burguesia obtinha o governo econômico-industrial e as velhas classes feudais parasitárias conservavam seu poder de casta no exército, na burocracia e na grande propriedade rural, tudo conspirando contra a extensão da hegemonia burguesa às amplas camadas sociais.
A resultante desta solução intermediária é igual em todos os lugares: atrofia e instabilidade econômico-política crônicas. Em contraste, seu antípoda histórico, o liberalismo inglês, traduzido no modelo competitivo de massas inaugurado pelo americanismo no século passado, é vitorioso em diversos aspectos, inclusive no que tange à democracia e ao trabalho, que alcançou, no capitalismo avançado do séc, XX, o pleno emprego e o bem-estar social.
A razão de tal trajetória vitoriosa não é outra que não o oposto da nossa: a formação de um Estado revolucionário, como ato político de ruptura e reinvenção institucional a partir do primado racionalizador da nova classe dirigente – como na Revolução Inglesa (1688) e Francesa (1789) –, rasgando os termos da dominação tradicional/colonial, no caso dos EUA, em dois atos, a Guerra da Independência (1776) e a Guerra Civil (contra os Confederados, 1865).
Enquanto isso, entre nós, como nos mostrou Florestan Fernandes[xi], o capitalismo se implantou por meio de uma revolução passiva contínua, que garantiu nossa incorporação ”ao espaço econômico, sócio-cultural e político da Europa (…) industrial” em meio à decadência do modo de produção escravista, cuja função colonial e pré-capitalista de acumulação originária (1808-1888) se esgotara, abrindo caminho – em meio à forte opressão político-social – para uma transformação sem mudanças, vale dizer, sem participação popular direta ou grandes concessões ao mundo do trabalho; o que só recentemente veio a acontecer.
Não é por outro motivo que, desde a República, conservadores, liberais, populistas e socialistas, por motivos diversos – e mesmo antagônicos –, buscam resolver a alteridade equiparando nossos problemas e desafios aos do vizinho do Norte, agarrando-se às simetrias produzidas por nosso capitalismo dependente avançado na ânsia de respostas fáceis e ascensão política. Tal esforço, como nos mostrou Paul Baran[xii] – criticando a ortodoxia econômica liberal –, concentrando-se sobre partes isoladas do sistema para extrair suas verdades simples e desconexas do todo histórico e de suas determinações concretas, quer para deslegitimar a propositura de uma política econômica nacional, quer para decretar, utópica e abstratamente – como se fazia antes do Manifesto de 1848 –, o fim do capitalismo, está fadado ao fracasso.
Hoje, mais do que nunca, o verdadeiro complexo de vira-latas, que nos aflige há séculos, é o do mimetismo dos modismos intelectuais vindos do centro, e a crença em modelos abstratos e ahistóricos de desenvolvimento, concatenados em narrativas de variadas colorações ideológicas, onde nossos problemas reais – a miséria, a semiestagnação, a ignorância e a corrupção institucionalizada – são escamoteados em prol de exortações vazias como a defesa da "política real e possível”, às vezes interpretada como adesão ao centrão, outras, na perspectiva fetichista do messianismo/jacobinismo setecentista, como "um avanço direto ao centro do poder”, que quase sempre resulta em derrotas acachapantes (1935, 1964 e 2016) ou à capitulação dissimulada à "lógica das oligarquias políticas”[xiii].
Melhor seria assumir o que somos e levar em conta as duras lições da história, como o fez Celso Furtado[xiv], e sua heterodoxia, deixada de lado na polarização dos anos 1960, que propunha o desenvolvimento tecnológico e humano do país em conexão com o influxo externo, fazendo nosso parque produtivo – devidamente incentivado por um Estado racionalizado (não-corrupto) – atender parte importante da demanda interna e externa de modo a propiciar a estabilização em escala da acumulação produtiva, o que nos possibilitaria internalizar a dinâmica econômica do país sem isolacionismo, regressismo ou crenças perniciosas no poder demiúrgico de tiranos imantados por intelectuais portadores de pretensiosas doutrinas redencionistas, cujos resultados históricos são por demais conhecidos.
[i] Vide, Para a Crítica da Economia Política, ed. Abril Cultural/SP, 1982, p. 20.
[ii] Vide Teoria da Regulação – os fundamentos, ed. Estação Liberdade/SP, 2009, p. 48.
[iii] Vide A Revolução de 1905, ed. Global/SP, sd., pp. 29-30.
[iv] Vide A Aventura Liberal Numa Ordem Patrimonialista; in. Revista da USP nº 17, vol.2, 1993, <http://www.usp.br/revistausp/17/02-faoro.pdf>, em 25/04/2011, p. 16-18.
[v] Vide Roberto Dutra, Brasil, Bolsonaro e tradição patrimonialista? São as contradições, estúpido!, in. <http://opinioes.folha1.com.br/2019/08/31/roberto-dutra-brasil-bolsonaro-e-tradicao-patrimonialista-sao-as-contradicoes-estupido/>.
[vi] Vide Domenico Losurdo, Contra História do Liberalismo, ed. Idéias&Letras/SP, 2006.
[vii] Vide Friedrich Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, ed. Global/SP, 1986.
[viii] Vide Simon Schwartzman, Bases do Autoritarismo Brasileiro; ed. Campus/RJ, 1982.
[ix] Vide O Capitalismo Tardio; ed. Abril Cultural/SP, 1982, pp. 37 e, abaixo, 29-32.
[x] Apud Vito Santoro, in. Liguori&Voza, Dicionário Gramsciano, ed. Boitempo/SP, 2017, p. 668.
[xi] Vide A Revolução Burguesa no Brasil – ensaio de interpretação sociológica; ed. Zahar/RJ, 1976, p. 7.
[xii] Vide A Economia Política do Desenvolvimento; ed. Abril Cultural/SP, 1984, p. 196.
[xiii] Vide nota 5.
[xiv] Vide Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, ed. Abril Cultural/SP, 1983, p. 146.
[xv] Universidade Estadual do Norte-Fluminense (Darcy Ribeiro).
Hamilton Garcia: costeando o alambrado - rumo à “normalidade"?
O clã político de Bolsonaro, como se sabe, tem origem no que se convencionou chamar de “baixo-clero” de alcance regional, não obstante as pautas corporativas nacionais (segurança e defesa) e o anticomunismo radical, que acabou por lhe facilitar o caminho ao poder em meio aos desatinos petistas.
Os vícios que acumularam os Bolsonaro são quase nada diante do modus operandi do "alto clero” no "presidencialismo de coalizão" – conceito genérico onde se enquadra nosso presidencialismo de cooptação –, que impera desde a redemocratização. Na ausência de um sistema efetivo de partidos, nossa experiência democrática estagnou na semirrepresentação e degenerou no patrimonialismo ampliado (democratizado), cujo ápice foi o “modo petista de governar". A reação, gostemos ou não, veio com o Capitão.
Bolsonaro, todavia, aferrado no terreno ético do familismo, tende a desidratar a imagem contestatória e destemida que o levou ao atual mandato. A alta política brasileira, eivada dos vícios de origem de nossa aristocracia agrária – o principal deles a indistinção entre público e privado –, tem, por meio do filhotismo, uma oportunidade de ouro para se conectar ao Presidente, cujo clã, em seus mandatos parlamentares, ao que parece, chafurdou nas ilegalidades de praxe dos legislativos locais e regionais. Ao usar seu Governo para blindar o clã, o Presidente excede a tradição, que teve em Sarney um patrono, circunscrevendo seu familismo explícito ao plano estadual.
Há que se considerar também que o atavismo oligárquico de Bolsonaro surge em meio a indícios de que o “Pacto pelo Brasil”, proposto pelo Governo em maio, pode ter sido apenas o biombo do Pacto pelo Poder – tão ansiada por alguns –, que levaria ao fim do palanquismo e a “volta da normalidade política”, unindo a banda patrimonialista do STF à do Parlamento em prol de “estancar a sangria" aberta pelo “tenentismo de toga” – que, justiça seja feita, nos livrou, com a punição ao Mensalão e ao Petrolão, de uma dominação criminosa à moda venezuelana.
No caso de Flávio, Bolsonaro compactua com um freio nas operações na qual surfou para chegar ao poder, em troca de um improvável abafamento dos malfeitos do filho na ALERJ. O golpe aplicado na Lava-Jato, e habilmente debitado na conta do Capitão, é justificado pelos donos do poder como fundamental para manter a “harmonia entre os poderes”, o "Estado democrático de direito" e as "garantias individuais”, mas, na verdade, visa apenas manter os privilégios estamentais da Corte republicana, vale dizer, do sistema de poder patrimonialista e sua comunidade de domínio[i], que nunca digeriu plenamente o liberalismo anglo-saxão, com seu Estado democrático e seu direito igualitário, preferindo sempre, ao longo de nossa história, o Estado oligárquico e o direito estamental.
A prática das trocas de informações entre órgãos de controle do Estado democrático, para o fim de sufocamento do crime de colarinho branco, sempre os repugnou e agora, tanto a alta magistratura, ainda não investigada em suas redes parentais de escritórios de advocacia – onde se suspeita, segundo a revista Crusoé, que circulem milhões de reais vinculados à processos julgados por pais, tios e maridos –, como o sistema financeiro, conivente com depósitos ilegais em seus cofres – cuja Justiça já levou à prisão um punhado de gerentes de grandes bancos, segundo a mesma revista –, como era de se esperar, ao entrarem na mira do MPF, desencadeiam a “resistência democrática” de fancaria que se vê.
Mas, ao contrário do que afirmou Toffoli, os cidadãos que, afinal, arcam com os custos de tal sistema e não se distraem com ideologias de boteco, anseiam pelo Estado democrático de direito verdadeiro, que Bolsonaro encampou com êxito depois das frustrações das expectativas de mudança com o PT, cuja degeneração – antecedida pela do MDB e do PSDB –, acoplada ao patrimonialismo, tornou o sistema insustentável por sua inclusão, num “ganho de escala” da ineficiência e da despoupança do Estado que esterilizaram as políticas de bem-estar social.
Já no caso de Eduardo, o esforço de aprovação no Senado de sua nomeação à embaixada nos EUA, terá, para além do oxigênio à velha política, o agravante de tensionar as FFAA na medida em que pode atrelar a política externa do país às diretivas norte-americanas, tendente ao envolvimento militar na Venezuela entre outros conflitos capitaneados pelos EUA na busca da manutenção de sua supremacia internacional, posta em cheque pela reaproximação geopolítica entre China e Rússia.
As FFAA brasileiras, como se sabe, concebem seu projeto de potência com base na dissuasão e na superação do subdesenvolvimento econômico-social, não no parti pris ideológico e na economia de guerra. É com base nisto que os militares mantêm seu apoio ao Governo, não obstante a declaração de guerra dos olavistas aos Generais da Reserva no Governo (Mourão, Cruz e Heleno), prontamente rechaçada pela maior liderança da caserna (Villas-Bôas) e pela cúpula militar, que vetou a promoção do Porta-Voz do Governo (Barros) ao Alto Comando do Exército.
Focados em sua missão, de viabilizar o sucesso dos projetos de desenvolvimento nas áreas sob seu comando – o que, naturalmente, é convergente com a perspectiva estratégica da corporação, com a valorização de seus quadros especializados e seu projeto de nação –, os militares buscam o centro político, desde a redemocratização, e não parecem abrir mão disso, como o indica a movimentação recente do Vice Mourão – rechaçada pelo clã como "golpista" –, vista pela caserna como garantia última de continuidade de seu projeto.
Voltando ao Presidente, é sabido que sua popularidade, em nosso sistema político, afeta diretamente a governabilidade, fazendo pender a balança do equilíbrio entre os poderes. No caso de Bolsonaro, o fato é mais acentuado em função do problema estrutural de seu mandato, baseado no ataque à velha política, que tem o condão de reunir toda a velhacaria contra si, ao mesmo tempo que ativa as naturais forças opositoras.
Embora se possa ter dúvidas acerca do significado da nova política pregada pelo Governo – não da velha, sobejamente conhecida –, o fato é que, com todas as suas contradições, dificuldades e incongruências, o Presidente, até aqui, foi capaz de cumprir a agenda, mantendo o Congresso e o STF sob pressão de modo a não só aprovar uma reforma da previdência de proporções significativas, como de promover a Operação Lava-Jato à política de Estado; estratégia posta em risco diante do inusitado pacto espúrio.
No caso de refluxo do poder mobilizatório-popular do Presidente, a mudança conjuntural ensaiada pela Câmara, no sentido do enfrentamento das grandes pautas nacionais – praticamente ignoradas pelo Legislativo nas últimas duas décadas –, pode refluir ou arrefecer, agravando a percepção social do déficit de representatividade do sistema e de seu sequestro pelas oligarquias de sempre.
O jogo de Maia, flertando à direita e à esquerda, na tentativa de construir um "novo centro político" capaz de ocupar o espaço deixado vago por PT, PSDB e o próprio Bolsonaro, depende, em grande medida, da disposição do Centrão de agir programaticamente – milagre até aqui possível graças, paradoxalmente, à mobilização bolsonarista. A “normalização" política de seu Governo pode pôr tudo a perder, a não ser que risco maior suceda, como no período Itamar, depois do impeachment de Collor, quando se temia o caos e a volta do protagonismo militar na política.
Talvez Bolsonaro, o mais improvável de todos os Presidentes desde Collor, não perceba, em meio às brumas do poder, mas o mesmo movimento que o catapultou ao poder pode agora dilapidá-lo ou defenestrá-lo, à depender do impacto de seu pacto sobre a opinião pública, sobejamente intolerante com estelionatos eleitorais.
Com Bolsonaro costeando o alambrado em proveito de seus interesses privados, e sem condições simbólicas e materiais de compensar o desalinho programático por via espúria (assistencialista) ou corporativa (desonerativa) – pois a crise impõe a solução radical pelo bem público –, as chances de fracasso político aumentam, a não ser que o crescimento econômico o acuda em meio ao descrédito público.
Hamilton Garcia de Lima (Cientista Político, UENF[ii])
São João da Barra, 11/08/19.
[i] Expressão usada por Raimundo Faoro para diferenciar a camada parasitária dominante no Brasil, da elite dirigente dos países liberais; vide Os Donos do Poder – formação do patronato político brasileiro (vol. I), ed. Publifolha, SP/2000, pp. 103-104.
[ii] Universidade Estadual do Norte-Fluminense (Darcy Ribeiro).
Hamilton Garcia: Crônica de uma “revolução" anunciada
Os cem primeiros dias do Governo Bolsonaro deixam clara sua estratégia de poder. Montado num ministério tecnocrático, complementado por pastas ideológicas e de costas para o fisiologismo político, ele oferece ao país reformas a serem votadas no parlamento sem a prévia constituição de uma base parlamentar. Faz sentido.
Na geleia geral dos partidos brasileiros, o PT governou com o Centrão, de centro-direita, para se perpetuar no poder com um ajambrado “social-desenvolvimentismo", e quando Temer assumiu o governo, sob os auspícios do mesmo grupo, a “ponte para o futuro”, de sentido radicalmente distinto, passou a ser seu Norte – logo se transformando numa “pinguela" no esforço prioritário de salvar o Presidente (e a si próprios) de uma investigação criminal. Fazendo tábula rasa de tudo isso, PSDB e PPS embarcaram nessa canoa na expectativa de convencer o eleitorado de que se tratava de uma "frente democrática para tirar o país do atoleiro”: resultado, o PSDB ficou fora do páreo, onde tinha lugar cativo desde 1994. Bolsonaro não teria destino melhor se resolvesse governar com eles – embora a alternativa seja uma pirambeira de pedras.
O fato é que as elites tradicionais (neopatrimoniais) dominam o Congresso, em especial a Câmara Federal, e nem os deputados liberais e bolsonaristas juntos podem com elas somadas à oposição. A oposição surfa nessa onda sem se importar com os efeitos sobre o sistema democrático, como é de praxe desde o PT. Seus setores mais consequentes chegam a apostar que a chicana parlamentar do Centrão, tomando como reféns a reforma da previdência e a Lei anticrime, são parte do “jogo democrático” e um freio ao autoritarismo bolsonarista. Sob a liderança de Rodrigo Maia, acreditam que se pode chegar a um ponto de equilíbrio que salvaguarde a Constituição. Bolsonaro agradece por mais este tiro n’água.
A aposta do Centrão e da oposição tem, a seu favor, a tradição: desde Collor, todos os Presidentes, vendo suas pautas ameaçadas, cederam às pressões. Bolsonaro, apoiado pela maioria da opinião pública, até aqui, reage pelas redes sociais reforçando seu compromisso eleitoral com a “refundação da República” – termo cunhado na campanha pelo Senador Álvaro Dias, mas encarnado pelo Capitão em sua oposição radical ao petismo. A resistência governamental procura se valer dos interesses sociais em jogo para confrontar a maioria parlamentar. Neste primeiro embate, deu certo: o mercado e o empresariado forçaram Maia à correção de rumo quanto à reforma da previdência.
De seu lado, não obstante a narrativa da imprensa de "acerto mútuo", Bolsonaro não piscou: recebeu os dirigentes partidários de seu campo, mas manteve a Lei Anticrime e não revogou as normas que impôs para ocupação de cargos públicos: ficha limpa, perfil condizente com o cargo e admissibilidade pelo dirigente do setor, sinalizando que este não é um "governo normal”, como crêem muitos analistas políticos, convictos de que ele é prisioneiro de uma narrativa que o impediria de governar.
Mesmo perdendo popularidade no intrincado processo de negociação com a elite parlamentar, Bolsonaro segue sustentando seu objetivo “revolucionário” – expressamente assumido nos bastidores da recente visita à Trump – de recompor a racionalidade burocrática perdida pelo Estado brasileiro desde o fim do regime militar, e, assim, reanimar a economia e o emprego.
Nesta fase “paz&amor”, o Capitão torce para que as patacoadas parlamentares e judiciárias não só superem as de sua gestão – o que não é pouco! –, como convença os recalcitrantes da frente liberal-conservadora que o elegeu – com suas convicções democrático-procedimentais à moda de Schumpeter[i] – que este dois poderes, tal como estão hoje divididos, não serão capazes de contribuir com o país naquilo que deles o povo exige: desprendimento para recolocar a nave na rota do desenvolvimento. Esta conclusão só pode amadurecer, no seio da própria coalizão governamental, na travessia deste rubicão parlamentar, por meio da tática das “aproximações sucessivas” – já mencionada pelo Gen. Hamilton Mourão como sua perspectiva de superação dos impasses numa institucionalidade claudicante.
Tal aposta, pressupõe, naturalmente, que a soberania legislativa e a arbitragem judiciária se esvaiam no espetáculo deprimente da pequenez política e do particularismo corporativista que o Centrão não cansa de dar – agora secundado pelos torquemadas do STF –, e que só tende a adensar o apoio popular à “refundação”, abrindo caminho para iniciativas plebiscitárias de Governo que podem, inclusive, culminar na própria reforma do sistema político, cujo déficit de representatividade foi desnudado em 2013 e continua à espera da solução que evite seu colapso total – o que, em parte, não acontece porque a atual legislação político-partidária que enfraquece o poder de arbitragem dos eleitores, é a mesma que empoderou as oligarquias capitalistas até aqui (vide, Reforma Política e Governo Representativo).
A eventual emasculação das reformas, assim, é mais provável que seja debitada, pelo povo e o próprio empresariado, na conta do sistema político esgotado, não de Bolsonaro, como esperam as oposições mirando suas caneladas. O único elemento capaz de embaraçar este cenário, parece ser a ofensiva olavista contra o generalato, que pode levar a seu exato oposto: enfraquecimento do Presidente em proveito do Vice, num processo tão desgastante quanto o de Dilma. Para que este cenário se estabeleça, todavia, seria necessário que capitalistas e militares, junto com boa parcela da opinião pública, se convençam que Bolsonaro e seus filhos são o verdadeiro empecilho às reformas.
Uma solução sem Bolsonaro, porém, teria também seus riscos, podendo precipitar o agravamento da crise econômica no curto-prazo e deixando o cenário bastante nebuloso, não só pela reação bolsonarista, mas, principalmente, pela combustão espontânea que o agravamento da estagnação econômica e seus possíveis efeitos inflacionários podem produzir sobre um tecido social já esgarçado pelas drogas, violência, desemprego e aumento da pobreza.
Neste caso, a solução da crise não se daria pela simples assunção constitucional do Vice, um General da linha dura, mas pela provável decretação do estado de exceção (defesa ou sítio) para conter eventuais distúrbios e ameaças, cuja extensão e profundidade tornaria impossível controlar seus desdobramentos, em meio à polarização política e à desmoralização institucional (Legislativo e Judiciário).
Ademais, diante de um parlamento burocratizado[ii], com alta insensibilidade social – vide Maia e seu desdém pela Lei anticrime, que não foi capaz de propor antes de Moro – e crônica disfuncionalidade institucional, plasmada na assimetria entre o poder de veto e sua (ir)responsabilidade governamental, não é possível cravar que as mesmas medidas já apresentadas seriam aprovadas pelo Congresso apenas porque o Presidente mudou.
A esta altura do jogo, em que a caixa de Pandora parlamentar se encontra escancarada – com o Centrão cogitando vetar até os mais simples decretos presidenciais pela singela motivação de afrontar o Governo, com o apoio de setores liberais temerosos das tendências autoritárias do bolsonarismo – e que o Judiciário é comandado por personagem que se sente acuado por simples matéria jornalística, parece não haver dúvidas que as instituições, com ou sem Bolsonaro, precisam ser reparadas, institucional e eticamente.
De um legislativo dominado pelo Centrão, só se pode esperar o agravamento da anarquia gerencial/orçamentária, com pautas-bomba sendo detonadas em série, à moda dos aumentos salariais ao alto funcionalismo e magistratura, das PECs onde os recursos públicos são investidos sem planejamento, ao sabor dos interesses locais imediatistas, de anistias amplas às infrações políticas, etc. De um STF que rasga a constituição para implantar a censura em proveito próprio, e faz cara de paisagem, a mesma coisa: só novos casuísmos na mesma direção.
Oxalá, tal barafunda seja revertida pela razão e a força das vontades populares expressas nas recentes eleições, caso contrário, a refundação da República trilhará, inexoravelmente, por caminhos tortuosos, onde, pelo menos num primeiro momento, a poliarquia[iii] pode não sair ganhando – o que não se constituiria numa exceção histórica.
Hamilton Garcia de Lima (Cientista Político, UENF[iv])
São João da Barra, 25/04/19.
[i] Vide Joseph Schumpeter, Capitalismo, Socialismo e Democracia; ed. Fundo de Cultura/RJ, 1961, passim.
[ii] Vide Max Weber, Parlamentarismo e Governo numa Alemanha Reconstruída, in. Max Weber – textos selecionados (Os Pensadores), ed. Abril Cultural/SP, 1985, passim.
[iii] Vide Robert Dahl, Poliarquia – participação e oposição; ed. USP/SP, sd, passim.
[iv] Universidade Estadual do Norte-Fluminense (Darcy Ribeiro).
Hamilton Garcia: A democracia na furna da onça
O risco à democracia num país é comumente atribuído ao comportamento dos agentes políticos e seu grau de comprometimento com suas práticas e instituições, e à resistência delas às crises. Por este prisma, os riscos podem ser bem menores do que realmente são, sobretudo quando não se tem em conta a natureza das crises que ela enfrenta.
Em nosso caso, as crises vividas desde 1988 (impeachments, megaesquemas de corrupção, etc.), foram todas contornadas, mas seu legado foi, até aqui, irrelevante em termos de modificações institucionais/culturais efetivas, capazes de evitar a repetição dos problemas.
De outro lado, tanto o extremismo petista, quanto o bolsonarista, foram tolhidos, até aqui, pelo resultado das urnas: no primeiro caso, por uma derrota que isolou a esquerda nas regiões periféricas do país, enquanto, no segundo, a vitória obrigou à formação de uma coalizão de governo com forças não extremistas.
Não obstante estes sinais positivos, o problema das interpretações funcionalistas, seja de viés voluntarista ou institucionalista, é que elas não costumam dar conta dos problemas estruturais de nossa dinâmica política, em especial aqueles que historicamente vinculam a modernização a uma ação política por cima, por meio de um Estado de compromisso que articula e seleciona interesses presentes na sociedade, quer do capital ou do trabalho, em benefício de elites neopatrimonialmente orientadas – cuja degradação evolutiva desembocou na "furna da onça”, paradigma cabralino (1995-2018) do uso da corrupção como instrumento de emulação da harmonia de poderes.
À partir desta perspectiva histórico-estrutural, podemos entender melhor como nossa República foi a expressão de um pacto de poder onde o "estamento burocrático” (Faoro) – quer sob a hegemonia agrarista (República Velha, 1889-1930), quer industrialista (República Nova em diante, 1930-1989) e financista (Nova República, 1990-2018[i]) – comprimia e arbitrava a disputa política em prol de seus interesses vitais, como elite político-burocrática, e de suas conexões com as classes fundamentais (dominantes e dominadas), de modo tal que nem as semirrupturas do Estado Novo e da Contrarrevolução de 1964 foram capazes de superá-la, em meio à conformação de novos blocos históricos, depois de esgotados os instrumentos de subordinação explicitamente autoritária da sociedade civil ao Estado.
Desnecessário dizer que tal presidencialismo de cooptação, de inspiração liberal, foi, desde sempre, responsável tanto pela manutenção do déficit crônico de democracia e estabilidade ao longo da República (vide, A democratização do Estado), como de racionalidade burocrática – à exceção dos períodos de semirrupturas mencionados –, visto seu compromisso figadal com os privilégios corporativos encerrados em sua própria constituição de classe e o modo como tendia, e tende, a traduzir o interesse como privilégio – o posto do imperativo funcional de qualquer sociedade moderna.
Por isso, ela foi e segue sendo fator de instabilidade política, não só por tirar proveito das distorções institucionais que dificultam a representação política (vide, Accountability e Reforma Política), mas porque administra seu domínio do Estado e, através dele, sobre a sociedade, por meio do uso abusivo de recursos públicos (orçamentários e institucionais) – seja pela corrupção, pelo desvio de função ou perversão das políticas públicas – que produzem falsos consensos ao custo do desperdício do crescimento econômico, obstaculizando o verdadeiro desenvolvimento.
Não foi por outro motivo que o modelo neopatrimonial de dominação entrou em crise seguidamente quando diante de crises recessivo-inflacionárias, levando à radicalizações políticas, como em 1930 e 1964, quando a capacidade estatal de amortecimento dos conflitos sociais, via cooptação, diminuiu drasticamente.
É precisamente isto que vivenciamos agora, com o colapso da direção social-patrimonial sobre o bloco histórico (vide, Os perigos que se avizinham e o antídoto e O Brasil que emerge das urnas), quando a brutal recessão do período petista (Dilma) se encontra com o esgotamento ético e fiscal do modelo de inclusão social-financista, com níveis inéditos de consciência política advindos da escolarização associada aos novos meios de mobilização/informação – que a direita soube utilizar de maneira eficiente à partir de 2015 (movimento pró-impeachment).
A resistência da ordem patrimonialista à mudança apontada pelas urnas, que se ensaia pela aliança do lulopetismo com o emedebismo-centrismo, já começou bem antes da posse do novo governo, na forma de medidas legislativas (“pautas-bomba"), como os aumentos salariais das corporações estatais – com apoio maciço dos tucanos – ao arrepio da situação financeira do Estado, e a volta da ameaça de indulto natalino aos corruptos, acrescida da proposta legislativa de abrandamento das penalidades judiciais.
Tais medidas mostram o potencial explosivo da relação entre um Presidente eleito por uma pauta de ruptura com tal modelo e a capacidade deste de reagir, inclusive se travestindo de oposição legítima, ameaçando bloquear o exercício do governo eleito caso este impeça a apropriação espúria do Estado federal por seus interesses particularistas.
O imbroglio, que pode ser evitado pelo isolamento, no novo Congresso, destes segmentos presentes na situação e na oposição, tende a se defrontar com uma situação inédita, extremamente desvantajosa para a tradição derrotada: a de ter que enfrentar um Presidente que dispõe não apenas de apoio parlamentar, mas, sobretudo, de uma sociedade civil renovada à direita, com potencial para expressar a vontade geral recém-saída das urnas, além de uma ligação inédita e orgânica com as forças militares – fortemente representadas no novo governo.
A possibilidade de embates radicais, verticais e horizontais, não podendo ser descartada, deve culminar em algum pacto de governabilidade que incluiria a reforma política em troca de espaços de poder. Todavia, não se pode desprezar a ocorrência de um impasse que force a reforma política por meio de referendo ou plebiscito – cuja convocação é privativa do Congresso e depende de maioria simples, presente mais da metade dos parlamentares – e, no interregno, abra caminho à governabilidade por meio de outras medidas excepcionais com o apoio das bancadas parlamentares, contra as lideranças da Câmara e do Senado, a partir da pressão social.
A desarticulação de um eventual bloqueio espúrio da bancada neopatrimonial, no Congresso, contra o Executivo, é decisivo não só para a solução democrática do governo recém-eleito, mas para o enfrentamento dos gargalos que impedem o desenvolvimento econômico-social e o próprio aperfeiçoamento do sistema representativo, sem a qual a reiterada vontade de respeito à Constituição corre o risco de virar letra-morta
Nenhuma constituição, em abstrato, pode garantir o bom resultado de um sistema democrático. Como alertava Max Weber[ii], ainda antes do fim da I Guerra (1914-1918), somente a articulação efetiva entre Estado e sociedade, por meio de partidos socialmente sustentáveis que disputem sua direção de modo a produzir consenso verdadeiro, por meio de interesses bem constituídos – derivação autêntica de organizações livres – e seus respectivos programas, com as mais diversas inspirações ideológicas – mas jamais reduzidos a anteparo de práticas fraudulentas e exclusivistas –, pode garantir a sustentação de governos legítimos, capazes de absorver os inevitáveis choques provenientes das contradições existentes nas sociedades modernas.o recém-eleito, mas para o enfrentamento dos gargalos que impedem o desenvolvimento econômico-social e o próprio aperfeiçoamento do sistema representativo, sem a qual a reiterada vontade de respeito à Constituição corre o risco de virar letra-morta.
Nosso caminho até lá poderá ser tortuoso, como atesta a eleição do Capitão, mas é preciso que seja efetivo em seu objetivo primordial, independentemente das conotações ideológicas em disputa – cujos corolários indesejáveis poderão ser purgados por um sistema efetivamente representativo.
Notas
[i] Que se inaugura politicamente com a volta dos civis ao poder (Tancredo-Sarney) em 1985, mas cuja expressão acabada é o Bloco Histórico liberal-financista inaugurado por Collor (1990-1992), e depois estabilizado por FHC (1995-2002) e alargado por LILS (2003-2016).
[ii] Vide, Parlamentarismo e Governo numa Alemanha Reconstruída (uma contribuição à crítica política do funcionalismo e da política partidária), in. Os Pensadores, ed. Nova Abril/SP, 1985, passim.
[iii] Universidade Estadual do Norte-Fluminense (Darcy Ribeiro).
Hamilton Garcia: O brasil que emerge das urnas
A vitória de Bolsonaro começou a se delinear em abril de 2017, quando, pela primeira vez, o candidato suplantou, por um ponto percentual apenas, seus competidores mais proeminentes na oposição ao desgastado PT, cujo candidato (LILS) ocupava a primeira colocação nas sondagens[i]. A partir daí, o candidato da direita se afirmaria, crescentemente, na primeira colocação, sem o petista preso em Curitiba ou concorrentes outsiders (J.Barbosa e L.Huck), enfrentando uma Marina Silva fragilizada por seu isolamento, um Ciro Gomes reestreante no protagonismo político e candidatos tucanos tisnados pelas escandalosas relações entre seu ex-candidato (Aécio Neves) e o megaempresário Joesley Batista – que o PSDB, apesar dos esforços de seu Presidente interino (Tasso Jereissati), tratou de minimizar.
Além do isolamento da Rede, do vácuo de alternativas e da desmoralização do PSDB, Bolsonaro também se beneficiou da rigidez fisiológica do centrão-MDB e ideológica da esquerda, que manteve-se atada ao partido (PT) que capitaneou os megaesquemas de corrupção desnudados, à exaustão, no Mensalão e no Petrolão. Mas, nem a tibieza oposicionista da centro-esquerda, nem a crise da velha política associada à canonização de LILS, podem explicar o desenlace eleitoral. Concorreu de maneira decisiva para tal, mesmo que a compreensão geral não seja muito clara a respeito, o esgotamento do bloco histórico responsável pela redemocratização do país (vide “Os perigos que se avizinham e o antídoto”).
É neste contexto crítico que deve ser visto o futuro governo e sua oposição. O bloco histórico em agonia, da inclusão consumista-financista, impõe duas tarefas básicas, de dificuldade assimétrica, ao novo governo: o fim do compromisso neopatrimonial, que marca a modernização conservadora brasileira e veio a se constituir em pilar central de variados arranjos políticos ao longo do séc. XX – com importantes inflexões no Estado Novo (1937-1945) e no período militar (1964-1984), sem maiores resultados por conta do infantilismo de esquerda que os antecedeu –, e a reindustrialização do país, cujo ápice foi o “milagre brasileiro” (1967-1979) – cujo retrocesso se deveu à incapacidade do regime de superar o caráter elitista de seu bloco histórico.
A indicação do Juiz Sérgio Moro para o (super)Ministério da Justiça coloca o novo governo em posição privilegiada para enfrentar tal desafio histórico, na busca da racionalização da máquina de Estado – objetivo acalentado desde o DASP (1938) e levado à cabo marginalmente, ao sabor das conveniências políticas, com os resultados conhecidos, na média: Estado grande, com baixa eficiência, perdulário e refém de corporações (privadas e públicas) que atrofiam seu desempenho enquanto parasitam seus recursos em benefício próprio.
A persistência do neopatrimonialismo, uma versão avançada e urbana do velho patrimonialismo mercantil lusitano[ii], se liga a uma modernidade cujos atores foram tragados pelo Estado ao longo de sua constituição – caso dos sindicatos de trabalhadores e patrões a partir de 1930[iii] –, quer pelas assimetrias institucionais dos primeiros (déficit de representatividade), quer pela vontade ativa do Estado de manter controle sobre a sociedade esmagando os que dele tentavam escapar. As desigualdades regionais, no imenso território, e a resiliência das antigas práticas coronelísticas – urbanização adentro, mesmo sem “coronéis” –, ajudaram na sobrevivência do modelo nos interstícios da Constituição de 1988.
O desmonte desta herança maldita, que desde a Primeira República (1889-1930) conecta a base eleitoral municipal ao governo central, por meio da “política de governadores” e suas casas legislativas, terá forte impacto sobre a eficiência e universalidade das políticas públicas, mas ainda assistirá a uma árdua resistência, dada sua capilaridade federativa, que exigirá, para ser suplantada, não da mera descentralização, mas dela acompanhada da instituição de núcleos qualificados de gestão, com a obrigatoriedade de contratação de pessoal técnico especializado para as funções administrativas regionais e municipais – algo que não se ouviu falar até o momento.
Seja como for, a ruptura, evitada por todas as coalizões governistas na Nova República, se eficazmente concluída, tem potencial para alçar Jair Bolsonaro ao rol dos estadistas nacionais, forçando o centro e a esquerda a repensar suas estratégias para não serem varridos para a margem da disputa política, como foi a direita no fim melancólico do regime militar (Governo Figueiredo, 1979-1985).
Mas, mesmo que obtenha sucesso na agenda de modernização do Estado, com impacto ao nível econômico mais básico, é certo que o novo governo não poderá prescindir do suporte econômico de setores estratégicos, capazes de sustentar a renda agregada, suportar o consumo (privado e público) e os investimentos (idem). Para isso, a indústria, setor por excelência da propulsão tecnológica e da economia de escala, capaz de sustentar amplas cadeias produtivas e estabilizar a modernização no longo-prazo – problema estrutural do Brasil ao longo do séc. XX, que foi posto em segundo plano desde a redemocratização em proveito da distribuição (consumo) –, terá que reassumir a centralidade perdida, na agenda econômica e política, desde a crise do modelo militar-autoritário.
As tensões que se prenunciam no âmbito da nova coalizão dirigente (do velho bloco histórico), portanto, vai muito além daquela que desafiará Sérgio Moro, na Justiça, em relação à máquina estatal e os três poderes, avançando decisivamente na disputa entre Paulo Guedes (liberais) e Onyx Lorenzoni/militares (desenvolvimentistas), que, embora também guarde relação com a pauta racionalizaste do Estado, não se esgota nela, desafiando a mediação do Presidente eleito com resultados imprevisíveis.
O certo é que a ameaça de tudo se desmanchar no ar, sob a crise do bloco histórico, poderá levar a um rearranjo de forças ainda mais forte do que o verificado nas urnas. Ao centro político, ao que tudo indica, caberá um papel de apoio crítico ao novo governo sob a égide do liberalismo (mercado e instituições), funcionando como um freio à radicalização (popular) da pauta antineopatrimonial no que ela implica em "refundação da república” – pretensão tida por alguns como "ataque dissimulado à democracia” –; o mesmo com relação à problemática do desenvolvimento retardatário, que encerraria em alguma forma de revalorização da regulação econômica – tida como antípoda ao mercado e à democracia.
Por tudo isso, o centro-democrático, que agrupa os fundadores do PSDB, o PPS e a Rede, entre outros, tende a um oposicionismo parlamentar e intelectual moderado, de escassa repercussão social, podendo oscilar, à esquerda e à direita, em pautas específicas.
Já à esquerda, a cisão representada por Ciro Gomes e sua pauta desenvolvimentista, explicitamente vocacionada para a construção de um novo bloco histórico centrado no trabalho e na indústria, necessitará, para ser bem sucedida, do esgotamento da pauta liberal-econômica do novo governo, sem alternativa consensual na agenda governativa vitoriosa. Ao mesmo tempo, precisará o pedetista suplantar o protagonismo petista, aferrado ao neocorporativismo de minorias e ao socialdesenvolvimentismo de compromisso (neopatrimonial) como estratégia de viabilização do "Estado popular”. Não será fácil, dada nossa tradição populista.
Todavia, o novo dinamismo político inaugurado pela novíssima frente radical de direita promete, além das incertezas, grandes oportunidades às forças políticas capazes de entender a natureza da crise e dispostas a interpelar, a seu modo, os desejos da maioria dos brasileiros.
Notas:
[i] Vide Gazeta do Povo, in. <https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/pesquisas-eleitorais/datafolha/pesquisa-datafolha-abril-2017/> em 3/11/18
[ii] Vide Raimundo Faoro, Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro (vol.2); ed. Publifolha/SP, 2000, cap. III.
[iii] Vide Armando Boito, O Sindicalismo de Estado no Brasil, ed. Unicamp/Campinas, 1991.
[iv] Universidade Estadual do Norte-Fluminense (Darcy Ribeiro).
Hamilton Garcia: Os perigos que se avizinham e o antídoto
Fala-se muito na campanha em fascismo e bolivarianismo, mas se o segundo expressa um objetivo explícito da política petista (vide “#EleNão! ou #ElesNão!”) – não obstante sua eludição tática por Haddad neste segundo turno –, o primeiro diz algo de potencial sobre o candidato mais bem cotado ou como ele pode vir a se tornar realidade a depender da marcha dos acontecimentos, se vitorioso for.
Olhando-se para a frente de direita que se formou em torno de Bolsonaro no rastro da crise do impeachment, vê-se um amálgama de convicções conservadoras cristãs e liberistas associadas ao antipetismo, ao par de um desenvolvimentismo lastreado no positivismo, ideologia basilar do Exército Brasileiro. Em condições normais de temperatura e pressão, não obstante o currículo e a vontade do Capitão, o novo governo teria, para ter sucesso, que se desenrolar dentro da normalidade democrática, e, para tal, contaria com grande respaldo social, popular e empresarial, e perspectiva de governabilidade no Congresso, não obstante a sombra neopatrimonialista da bancada do Centrão.
Ocorre, porém, que a falência do sistema político e a crise estrutural do modelo liberal-rentista de democratização, a par da elevada temperatura política bafejada pelo PT como tática de sobrevivência ao Petrolão, conspiram contra essa normalidade, junto com a falta de concatenação programática da frente bolsonarista e a perspectiva bolivariana da “resistência ao fascismo” – ambas podendo suscitar movimentos violentos na sociedade.^
Para tornar mais sombrio o quadro, enquanto na fase lulopetista foi possível “distribuir" os ganhos econômicos com a exuberância comercial do protagonismo chinês e da bolha ocidental – desperdiçando as chances de um “salto à frente”, em termos produtivos, com uma inclusão social pelo trabalho/aprendizado –, na fase bolsonarista o Brasil estará obrigado a enfrentar seus velhos e novos problemas e dificuldades, o que exigirá sacrifícios até aqui não admitidos pelos grupos dominantes – inclusive os aninhados nas altas esferas do Estado e nas corporações financeiras.
É certo, por outro lado, que algo se pode fazer na frente econômica com resultados positivos no curto-prazo para o governo – dois anos talvez –, seja simplificando os procedimentos normativos arrecadatórios, abrindo novas possibilidades de comércio com os países ricos, sustentando um câmbio de maiores possibilidades comerciais para a indústria e mesmo surfar na esperada onda da retomada econômica adiada pelo naufrágio precoce do Governo Temer. Ocorre que tal agenda, sem tocar nos problemas estruturais de longo-prazo da economia, pode propiciar apenas um fôlego, um novo vôo de galinha dentre tantos já vistos desde a recessão dos anos 1980.
No médio e longo-prazos, os gargalos estruturais tenderão a amplificar as fraturas existentes no seio da coalizão de direita, que, uma vez no governo, se transformará numa coalizão mais ampla, incluindo o liberalismo pragmático e mesmo o neopatrimonialismo, derrotado em sua dúplice aliança com o PSDB e o PT. Neste caso em especial, as perdas vitais dos segmentos neopatrimoniais, impostas pelos fatos, tenderá a afastá-los do governo na perspectiva de voltarem ao poder numa aliança com o lulopetismo que, para ser viável, teria que ser precedida de uma nova maquiagem moderadora dos “companheiros".
Bolsonaro se mantém à proa da disputa flertando com uma ruptura com o sistema – como ficou claro em seu último pronunciamento às manifestações verde-amarelo –, mas parece fadado, por suas alianças liberais e a correlação de forças no interior do aparato militar, a, por enquanto, inaugurar apenas uma ruptura com o mecanismo (neopatrimonial) – o que não é pouco, nem fácil! –, o que significaria, de fato, uma troca na direção do bloco histórico em crise, responsável pela transição democrática desde 1985, e cuja hegemonia é detida pelo capital financeiro, que conheceu, até aqui, dois formatos: o liberal-patrimonialista de Sarney&Collor e o social-patrimonialista de LILS, com um híbrido em Itamar&FHC.
A nova direção liberal-conservadora sobre o velho pacto democrático teria como objetivo pôr ordem no modelo, revertendo a bagunça deixada por Mantega&cia e, de quebra, despejando as oligarquias neopatrimoniais do poder, abrindo assim espaços para maior racionalização do Estado e ajudando a reverter as expectativas negativas sobre o país, recompondo o ambiente propício ao crescimento e à retomada do emprego.
Operar tal mudança, necessária mas não suficiente para nos recolocar na rota do desenvolvimento, além do custo político elevado, pode não surtir os efeitos esperados pela população, o que a levaria ao desencanto e consequente fortalecimento da oposição, o que poderia animar os bolsonaristas, apoiados no setor desenvolvimentista de sua coalizão, a uma tournant no sentido de um novo bloco histórico, o que exigiria um programa econômico voltado para a produção e não simplesmente para o consumo, deslocando o sistema financeiro global de seu papel atual de fiador principal de nossa estabilidade macroeconômica e política.
A hipotética viragem, a depender do contexto político em que ocorra e do álibi que o lulopetismo poderá lhe fornecer, no curto-prazo, provocaria forte inquietação nos mercados e, por consequência, abalaria a frente governativa de centro-direita, podendo levar, inclusive, à suspensão das garantias constitucionais (estado de sítio) ou até mesmo a medidas mais graves no caso da ausência de consenso no Estado de como lidar com a crise.
Paradoxalmente, a previsível resistência petista ao “fascismo" pode render bons frutos à nova política, quer em termos do isolamento das oposições na sociedade, quer do alinhamento defensivo do Estado contra a ameaça de caos que ela pode encerrar, abrindo espaços para uma uma reforma política conservadora, inclusive com mudanças constitucionais para restringir o pluralismo político e aumentar a estabilidade governamental (voto distrital puro).
No caso de não se conseguir produzir tal consenso no âmbito do Estado, o prolongamento do cenário caótico, em meio a conflitos de rua entre esquerda e direita, pode assistir ao aparecimento de milícias paramilitares em ambos os extremos, abrindo espaços para a emergência de um inédito movimento fascista no país – cujos braços armados, diga-se de passagem, já se encontram virtualmente constituídos, embora ainda não plenamente politizados.
Neste cenário sombrio (hipotético), tal como na eleição em curso, nos fará falta uma terceira via capaz de suplantar o petismo e impedir, de novo, a vitória da extrema-direita. O problema aqui é que a desorientação da centro-esquerda é ainda mais forte que as perdas parlamentares sofridas pelo PSDB, PPS e Rede, ao fim do primeiro turno das eleições, o que compromete seu protagonismo na oposição – qualquer que seja o resultado do segundo turno.
O antídoto ao perigo que se insinua está numa frente política capaz de enfrentar o virtual desafio do novo bloco histórico autoritário, de extrema-direita, colocando, à semelhança deste, o foco da inclusão na retomada da produção industrial como resposta ao esgotamento da fórmula financista, baseada em consumo e endividamento das famílias, ao mesmo tempo que procura restaurar a governabilidade e preservar a democracia por meio de uma reforma política que racionalize o sistema partidário (representação) por meio de um modelo eleitoral misto, com listas pré-ordenadas, e medidas punitivas efetivas aos partidos cujos representantes se envolvam em crimes tipificados contra o bem público.
Seja como for, é chegada a hora de se enfrentar a crise política e econômica que o oportunismo político e a incompetência intelectual,varreram, desde 1988, para debaixo do tapete.
Não está escrito nas estrelas que o bolsonarismo derivará em fascismo – isto não faz parte da nossa tradição republicana e para tal existem freios conhecidos, embora não infalíveis –, mas é certo que entre as variáveis propícias para tal está a natureza da oposição que se fará ao (provável) novo governo, e, nela, Ciro Gomes se constitui numa esperança de solução democrática. Torçamos para que ele se coloque à altura da tarefa, nesta fase delicada de nossa vida republicana.
Hamilton Garcia: Os candidatos e suas estratégias para a superação da crise política
A quinze dias do primeiro turno, faço uma pequena pausa nas reflexões acerca dos desvãos da esquerda ("A que herança renunciamos" e "A evolução da esquerda"), para discutir os projetos que se descortinam nas eleições presidenciais-congressuais que se aproximam visando superar o impasse aberto por um Congresso Nacional dominado por interesses corporativos que ameaçam a própria governabilidade do país.
A crise política que estamos vivenciando tem múltiplos aspectos e determinantes, mas nenhum deles associado ao protagonismo da extrema-direita ou dos militares – pelo menos até aqui. Na verdade, o fenômeno político do bolsonarismo-olavismo e a reemergência do militarismo, fazem parte dos corolários da crise, embora prometam, a partir de agora, ter um papel ativo no jogo armado pelo eleitor em 2019.
Tampouco a crise por vir deriva exclusivamente das características do presidenciável a ser ungido pelas urnas, como alguns analistas insistem em afirmar – geralmente por falta de empatia com algum candidato. Ela afetará a todos – não obstante assuma diferentes contornos e desdobramentos à depender do eleito – e isto por um motivo conhecido. O parlamento a ser eleito, de acordo com as normas conhecidas, num cenário político anômico (gestado nos 13 anos de desmandos do lulopetismo no poder), em presença de uma cultura política não reformada – pautada no favor –, tende a produzir o mesmo efeito político observado desde 2003: uma crescente autonomização do parlamento com base no protagonismo dos “trezentos picaretas”, no qual Lula se apoiou para surfar a onda chinesa das commodities e ressuscitar o mito do “pai dos pobres” – que o PT tanto penou, nos anos 1980-90, para sepultar.
A crise, da qual falo, não tem nada a ver com a refração natural de uma assembleia democrático-pluralista tendente a moderar as exacerbações plebiscitárias da eleição presidencial – como a literatura internacional prescreve nas democracias-liberais avançadas –, mas com um corpo de representantes desnaturados, baseados em partidos majoritariamente esvaziados de significado próprio, que substituem os laços orgânicos com a sociedade por laços mecânicos, por meio da corrupção ativa/passiva e do aparelhamento (debilitante) da máquina pública, tornando-se, assim, incapazes de representar e processar adequadamente as demandas eleitorais.
É sob tal superestrutura que a super-coligação de Alckimin não serve como antídoto para a crise de governança que vivemos, que tende a se desdobrar em ingovernabilidade em face do esgotamento do modelo parasitário (neopatrimonial) de governo. Ao contrário, a solução tucana – na difícil hipótese de chegar ao segundo turno – pode ser vista como mais propensa a agravar a crise dada, justamente, as características de sua coalizão eleitoral, cujos partidos, em sua grande maioria, se nutrem da manipulação irracional do gasto público.
Seu antípoda natural, Haddad – este com chances de chegar à próxima etapa –, atado à “Ideia”, se eleito, será prisioneiro dela sem a margem (desperdiçada) por Dilma, o que tende a colocá-lo no mesmo pântano de Alckimin, embora em termos bem menos orgânicos, dado que seu partido (PT) é de inserção ainda mais recente no sistema neopatrimonial de poder que o PSDB – o que eleva seu pedágio de aceitação, como se viu no Mensalão-Petrolão. Claro, ele poderá enfrentar o "golpismo" da sua "base aliada” com os poderes hipnóticos do Osho (1) petista, no ministério e na mobilização popular, mas, para tal, precisará da ajuda do STJ e do STF – o que pode não ser suficiente para evitar uma crise ainda mais grave.
A novidade em termos do enfrentamento do impasse anunciado está, na verdade, nos outros três candidatos competitivos, Bolsonaro, Ciro e Marina, que apresentam alternativas ainda não testadas para superar o escolho parlamentar do neopatrimonialismo.
Marina, em trajetória cadente mais uma vez, postula a construção de uma frente ampla de forças republicanas vocacionada para enfraquecer o poder do centrão, diminuindo os custos do governo e abrindo brechas para a autorreforma do Estado. Mas, seu ponto fraco foi a falta de protagonismo pré-eleitoral, desperdiçando as oportunidades abertas pelo cismo popular de 2013 para fincar os fundamentos de seu projeto frentista, deixando-se consumir na tarefa endógena de construção da REDE – aparentemente entendida por seu grupo como uma operação não-integrada à luta política geral.
Já Ciro, cerceado pelo mito que ajudou a cultivar, flerta com a ideia do novo bloco histórico dispondo-se a formar coalizões de classe (de caráter desenvolvimentista) articuladas a projetos políticos nacionais, mas, assim como Marina, não soube traduzir este propósito em ação efetiva pré-eleitoral no contexto acima apontado – o que também pode lhe custar caro na disputa pelo segundo turno.
Por fim, Bolsonaro, consolidado em primeiro lugar, exatamente por ter feito seu dever de casa pré-eleitoral, denunciando, desde 2003, a esquerda golpista (bolivariana), os devaneios identitários e a cumplicidade tucana, pretende enfrentar o centrão empunhando a espada de Dâmocles do intervencionismo militar. Ocorre, porém, que esta espada, pode ter dois gumes, como nos mostram os desencontros observados na própria campanha do Capitão depois do atentado por ele sofrido: pode tanto servir para domesticar a bancada fisiológica do congresso, como para podar seu próprio poder em proveito dos generais do Alto Comando Militar. Das candidaturas competitivas, é a dele que apresenta o maior grau de imprevisibilidade – vide o efeito ilusivo de Paulo Guedes sobre o “mercado" –, não obstante ser também aquela que melhor proveito pode tirar do poder dissuasório dos militares, se conseguir apaziguar sua própria retaguarda.
Até que ponto e em qual momento a ingovernabilidade sistêmica, contratada pela ausência de reforma político-eleitoral, vai se apresentar ao candidato vitorioso, não é possível determinar, mas é certo que o fará em algum momento – Ciro fala numa janela de seis meses de sincronismo parlamentar com o Presidente eleito –; naturalmente, a depender do grau de resistência que seu programa encontre na sociedade e no Estado.
O fato, contudo, é que o tempo político foi encurtado pela crise econômica e não há pela frente nada que se assemelhe à bolha econômica providencial do período Lula (2003-2008), muito pelo contrário, como nos mostra a disputa comercial entre EUA e China. Isto faz com que o próximo presidente tenha que jogar suas fichas no curto-prazo, como Ciro tem defendido, torcendo para que elas sejam capazes de neutralizar o poder de veto do parlamento para uma virada em direção a um novo patamar de desenvolvimento que sustente os gastos públicos racionais e os anseios de prosperidade da maioria da população pelo trabalho.
Notas
1 Mestre indiano que, nos anos 1960, desenvolveu, nos EUA, uma técnica de relacionamento com a espiritualidade sem que fosse necessário negar os hábitos e vícios do mundo material, como o sexo livre e o dinheiro; vide <www.nexojornal.com.br/expresso/2018/03/30/Quem-foi-Osho.-E-por-que-est%C3%A3o-fazendo-uma-s%C3%A9rie-sobre-sua-vida> em16/09/18.
2 Universidade Estadual do Norte-Fluminense (Darcy Ribeiro).
Hamilton Garcia: A que herança renunciamos? IV - A Miséria do social-desenvolvimentismo
Se, como vimos no artigo anterior, a tradição de esquerda implica em alguma forma de regulacionismo econômico, de modo a redirecionar as políticas públicas em prol das necessidades sociais – o que propicia a sustentabilidade do desenvolvimento (pleno emprego) em proveito também da estabilidade democrática e social –, é certo que não é qualquer improvisação política oportunista, feita em seu nome, que pode garantir tal resultado.
A fórmula lulopetista de superação do nacional-desenvolvimentismo – quer de viés furtadiano (CEPAL), quer nacional-democrático (PCB) –, que ficou conhecida como “social-desenvolvimentismo”, tinha como objetivo priorizar o desenvolvimento social (inclusão) em contraposição ao mero desenvolvimento econômico do passado – concentrador de renda e difusor de miséria urbana –, além de libertar as classes populares da tutela do "Estado burguês", historicamente conservador e "comprometido com o capitalismo".
Como se sabe, a tutela teve apenas uma mudança de titularidade, em prol de um novo personagem cuja fórmula política é velha conhecida: o caudilhismo benfeitor (populismo). A operação, fadada ao sucesso entre as camadas mais pobres, em função da persistência das desigualdades sociais e políticas, também encontra eco na intelectualidade, como outrora (Estado Novo), dada sua marginalização em face do poder, além de funcionar como poderoso anteparo para o sistema de dominação via concessões, no dizer de Pedro Bastos , de um "mercado interno ativado pelo aumento imediato do salário real acima da produtividade" e “gastos correntes e em infraestrutura de cunho mais social do que vinculados ao mercado externo” (produção de ponta), provocando, no médio-prazo, o desencontro, verificado no Governo Dilma, entre consumo aquecido e gastos públicos elevados, e o crescimento da renda e da riqueza associada à produção interna capaz de financiá-los.
A estratégia sedutora, misto de idealismo utópico-socialista com oportunismo neopopulista, fizeram a festa de amplos setores sociais – do bolsa-família ao bolsa-rentista, passando pelo bolsa-Miami – às expensas do desenvolvimento, possibilitando ao PT manter-se no poder por 13 anos ininterruptos sem ameaçar os alicerces da dominação neopatrimonial e, ao contrário, promovendo sua renovação e reempoderamento na esfera burocrática, parlamentar, empresarial e sindical.
O logro – reconhecido, mesmo que por um lapso, por Frei Beto –, edulcorado pelo "combate à pobreza”, impulsionou a mais ampla e legitimada aliança neopatrimonialista desde Sarney, de olho fixo no voto dos mais pobres, para cativá-los sem elevá-los a formas sustentáveis de autonomia, ao mesmo tempo em que comprou a aquiescência dos mais ricos (rentistas e associados), instituindo uma ordem consumista/concentracionista ampliada que se apresenta como importante obstáculo, por cima e por baixo, para a efetiva mudança política.
A alternativa à armadilha lulopetista não conta, como seria de se esperar dada a falta de tradição, com um caminho compartilhado – sequela da morte prematura da ANL em 1935 (a evolução da esquerda – II) e da fragmentação da frente democrática em 1979 (a evolução da esquerda – IV) –, nem tampouco com instituições partidárias adequadamente constituídas – dada as deformações conhecidas do sistema político-eleitoral –, o que torna o desafio atual bastante complexo. É certo, porém, que ela pode se impor, apesar da impotência e deformações existentes, dada a gravidade da situação criada pelo esgotamento do Estado neopatrimonial ampliado inaugurado em 1985 (Nova República).
Os pródomos desta saída já se vislumbram, fragmentariamente, nas dissidências partidárias do petismo (Marina Silva), do lulismo (Ciro Gomes) e do peessedebismo (Álvaro Dias); a primeira se destacando na propositura frentista, o segundo na explicitação de um programa econômico consistente e o terceiro realçando a necessidade de refundação ético-institucional do país.
Cada um deles acrescenta um tijolo fundamental para a construção de uma alternativa democrática para crise, mas terão que se coligar no futuro para dar competitividade a seus propósitos. O cimento desta coalizão em germe, todavia, está, como se sabe de longa data, na variável infraestrutural do programa, onde se assentam as classes sociais fundamentais em meio à multiplicidade de determinantes e grupos de variadas origens. É nele que se ancoram as diversas perspectivas do progresso social desde o alvorecer do capitalismo.
É por esta razão que o candidato do PDT (Ciro Gomes), não obstante suas graves ambiguidades políticas e de seu partido, vem se destacando como uma possibilidade vigorosa para virar a página do anacronismo político que dominou a esquerda até aqui, eludindo a necessidade urgente (há 16 anos!) das reformas para a retomada do progresso econômico-social do país.
A pregação de Ciro Gomes, em linha com o pensamento do Prof. Bresser-Pereira , converge para "a formação de uma coalizão de classes desenvolvimentista que associe empresários empreendedores, trabalhadores e a burocracia pública”, cujo principal desafio seria o de reverter a asfixia do setor público causada pelo descontrole dos gastos ordinários, das isenções tributárias, da predação rentista sobre a dívida pública e privada, da armadilha corporativista sobre o setor público e do parasitismo patrimonialista arraigado na federação – gerador de corrupção e de desvios de função –, que compõem o sistema dominante que desestabiliza o país desde a Segunda República (1930) e que o PT tratou de totemizar na figura de um líder condenado e preso pelos crimes correlatos ao atraso.
Notas
Social¬-desenvolvimentismo (carta ao Prof. Bresser), in. <www.bresserpereira.org.br/Works/Letters/10.Pedro-Z-Bastos-Social-des.pdf>, em 31/08/18.
Definida por Simon Schwartzman como "uma forma de dominação política gerada no processo de transição para a modernidade com o passivo de uma burocracia administrativa pesada e uma sociedade civil (….) fraca e pouco articulada”; Bases do Autoritarismo Brasileiro, ed. Publ!t/RJ, 2007, p.11.
Que criticou o amigo LILS, ainda no poder, por ter trocado "um projeto de nação por um projeto de poder"; vide Estadão, 09/03/2009, in. <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,para-frei-betto-bolsa-familia-e-projeto-de-poder,335703>, em 27/06/16.
Reflexões sobre o Novo Desenvolvimentismo e o Desenvolvimentismo Clássico, in. Revista de Economia Política, vol. 36, nº 2 (143), abril-junho, 2016, pp. 240-241.
Universidade Estadual do Norte-Fluminense (Darcy Ribeiro).
Hamilton Garcia: A que herança renunciamos? (Do socialismo científico ao socialismo mítico)
O título principal do artigo é uma referência ao texto do revolucionário socialista russo Vladimir Lênin escrito em 1897, onde ele, à semelhança de Marx e Engels n'A Ideologia Alemã (1846), procurava situar a luta socialista nos marcos do realismo empírico (socialismo científico) – ou seja, da modernidade fundada, a duras penas, nas révolutions citoyens dos séculos anteriores –, em oposição ao idealismo romântico (socialismo utópico) predominante na esquerda da época.
Se no trabalho de Marx&Engels1 o foco era o idealismo crítico da esquerda alemã, que acreditava ser possível combater "o mundo real lutando contra a 'fraseologia' do mundo’”, numa "luta filosófica contra as sombras da realidade” – de novo em voga no séc. XXI –, no de Lênin2 o alvo é a crítica populista ao capitalismo, que se transformara em repulsa ao desenvolvimento e apologia à comunidade rural originária russa.
Enquanto nossos autores alemães3 refutavam seus filósofos por não terem se lembrado "de procurar a conexão da filosofia alemã com a realidade alemã, a conexão de sua crítica com o seu próprio ambiente material", nosso russo4 condenava os populistas por ignorarem as mudanças causadas pelo capitalismo na realidade rural da Rússia, mantendo uma visão romântica do campo e, assim, fazendo "o jogo da estagnação e de toda a sorte de asiatismos” ao comparar "sempre a realidade do capitalismo com a ficção do regime pré-capitalista”, daí concluindo pela superioridade do segundo – o que hoje fazemos em benefício dos povos naturais e das populações vulneráveis.
O que animava a corrente realista da esquerda, desde o Manifesto Comunista (1848), era a ideia de que "(…) não é possível conseguir uma libertação real a não ser no mundo real e com meios reais; (…) não é possível abolir a escravatura sem a máquina a vapor e a mule-jenny (fiação automática), nem a servidão sem uma agricultura aperfeiçoada (…). A 'libertação' é um fato histórico, não um fato intelectual, e é efetuada por condições históricas, pelo nível da indústria, do comércio, da agricultura”5.
Deriva disso que a revolução socialista só poderia ser obra de uma sociedade evoluída, onde a divisão do trabalho estivesse suficientemente avançada, o acúmulo de riqueza e cultura elevado e a forma de existência há muito tenha deixado de ser local. Do contrário, diziam nossos alemães, "só a penúria se generaliza, e (…) a miséria recomeçará a luta pelo necessário e se cairá de novo na imundície anterior”6.
Foi precisamente a não observância desse limite real à mudança social (revolução), levando longe demais a ideia de "revolucionar o mundo existente”7, que levou o socialismo crítico8 ao colapso. Se, na Comuna de Paris (1871), Marx apoiara os trabalhadores por se tratar de um gesto extremo numa situação extrema – sabendo da impossibilidade de qualquer socialismo naquelas condições –, Lênin, ao provar a possibilidade (e necessidade) da revolução popular na Rússia (outubro de 1917) para garantir qualquer progresso democrático ao país, creu ser possível, por isso mesmo, estender o poder popular à esfera econômica sem maiores considerações acerca da capacidade da classe trabalhadora – já em pleno taylorismo – em gerir a moderna empresa, com as desastrosas consequências sabidas, entre elas: a guerra civil, o colapso da produção industrial e agrícola, e a consequente anomia social que levou à hipertrofia do Estado e à supressão das liberdades públicas.
Desde então, já sob o stalinismo – que foi a reação da nomenklatura soviética à tentativa de Lênin, com a NEP, de reverter a tragédia –, o racionalismo socialista foi posto a serviço da mais perversa das formas idealistas de todos os tempos: o marxismo-leninismo, ideologia do super-Leviatã despótico para a realização da utopia comunista, capaz de fazer tábula rasa de qualquer abordagem empírica honesta e, pior, usando, para tal, os maiores inimigos da utopia (Marx, Engels e Lênin), em nome dos quais – com o uso arbitrário e abusivo de seus textos, sacralizados – se constituiu a mais fantástica máquina de narrativas fraudulentas da história, à guisa de redenção revolucionária, representada pelo jornal Pravda (Verdade).
Iludem-se os que pensam que este cruel processo degenerativo do socialismo-científico, transmutado em socialismo-mítico, tenha se esgotado junto com seu mais célebre idealizador-protagonista (Stálin) ou sua mais iminente criatura (Estado-partido). Na verdade, seu ocaso inaugurou uma nova era de mistificações na esquerda, agora não mais sob a roupagem do comunismo, mas do humanitarismo, que, aditivado pelas interpelações pós-modernas de matiz norteamericana (identidades, lugares de fala, etc.), nos levam, sem mais mediações, da razão à emoção e, dependendo do contexto, à comoção, num agir comunicativo que não só prescinde da análise histórica rigorosa e da própria ciência natural, como exige seu abandono em nome de um novo puritanismo ético, de caráter laico-utópico, muito mais amplo e persuasivo do que o comunismo.
É impossível separar o homem de sua natureza histórica e de sua história natural – natureza esta que é a base de sua própria existência –, já haviam nos ensinado os alemães9, mas a "nova esquerda" não se contentou em suplantá-los – aniquilando, por tabela, o legado de Morgan e Darwin – , libertando também a própria ideia humanitária de qualquer determinação complexa para torná-la apanágio exclusivo de uma “vontade política” personificável.
Não é por outro motivo que complexas antinomias se transformaram em simples paradoxos na verve de lideranças prestidigitadoras, capazes de, em frases curtas e penetrantes ao nível do subconsciente, ressignificar a conexão entre economia e política de modo a possibilitar a mais ampla e discricionária liberdade da última sobre a primeira – maximizando o pecado original leninista.
"Se, ao final de meu mandato, cada brasileiro puder se alimentar três vezes ao dia, terei realizado a missão de minha vida”10, disse LILS, a maior liderança política da esquerda brasileira desde a redemocratização, ao tomar posse em 2002, sem maiores preocupações com o fato de que o capitalismo nativo havia sido capturado pela "doença holandesa" (rentismo) e que a realização de seu sonho – mais do que justo, inadiável – não seria sustentável sem reformas econômicas que visassem, mais que o consumo das famílias – perspectiva de curtíssimo-prazo dos liberistas –, os investimentos produtivos capazes de criar empregos e produtos, além de reformas políticas que pusessem fim ao domínio neopatrimonial sobre o Estado, que, junto com o setor financeiro, se constituem em verdadeiros “devoradores de mais-valia”11 ou, em outras palavras, parasitas dos excedentes que deveriam sustentar a economia pública e privada de todos.
1 A Ideologia Alemã – crítica da filosofia alemã mais recente nos seus representantes Feuerbach, Bruno Bauer e Max Stirner e do Socialismo Alemão nos seus diferentes profetas, ed. Centauro/SP, 2006, pp. 11-12, 15.
2 ¿A Que Herencia Renunciamos?, in. Obras Escogidas Vol.1, ed. Progreso/Moscú, 1979, passim.
3 Op. cit. p. 15.
4 Op. cit. pp. 96-97.
5 A Ideologia Alemã, p. 29, grifo meu.
6 id. p. 45, grifo meu.
7 Id. p. 31.
8 No lugar de “socialismo científico”, como preferia Bernstein, apud. Paulo Paim, in. Eduard Bernstein, Socialismo Evolucionário, ed. Zahar/RJ, p. 11.
9 Id., pp. 32-33.
10 Luís Inácio da SIlva, apud. Bernardino Furtado e Ronald Freitas, Cruzada Contra a Fome, in. <http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT432696-1659,00.html>, edição 233 de 04/11/02, em 20/07/18.
11 Gramsci, apud. Giuseppe Vacca, Modernidades Alternativas – o século XX de Antônio Gramsci, ed. FAP-Contraponto/DF-RJ, 2016, p.190.
12 Universidade Estadual do Norte-Fluminense (Darcy Ribeiro).
Hamilton Garcia: Por que somos assim? A evolução da esquerda IV - A Era Petista
Às vésperas de seu ocaso político, o PCB, ainda não atingido em sua espinha dorsal pela repressão e tentando reconquistar a liderança perdida na sociedade civil depois da dura derrota de 1964 – vide artigo anterior –, produziu um documento que, não obstante o linguajar anacrônico e os resquícios canônicos do marxismo-leninismo, apontou com precisão a direção da luta política a uma esquerda envolta nas brumas do mito revolucionário: “mobilizar, unir e organizar (…) (as) forças democráticas (…) contra o regime ditatorial (…) e a conquista das liberdades democráticas" .
Nesta resolução, a unidade democrática ainda não havia assumido a fórmula rígida do MDB: "As formas concretas que assumirá a unidade (…) serão ditadas pelo desenvolvimento da luta. Por ser uma reunião de forças heterogêneas, a frente (...) desenvolve-se simultaneamente com a luta entre os seus próprios componentes. (...) Os comunistas defenderão sempre, no seio da frente (...) a necessidade (...) de organizar (...) o povo (…)” .
Tampouco a frente tinha seu foco principal nas forças liberais – como aconteceria a partir de 1978: "A batalha antiditatorial exige um cuidado prioritário pela unidade das forças mais avançadas da frente única. Os comunistas obrigam-se, por isso, a dirigir sua atenção (...) para a aproximação com as diversas correntes que se incluem no movimento de esquerda (…)" .
O realismo político pecebista, envolto na bandeira já rota do bolchevismo, não foi suficiente para neutralizar a atração que o guevarismo exercia sobre os jovens militantes, o que os impeliu a usar as primeiras grandes manifestações sociais contra o regime, convocadas por eles – a mais famosa delas a Passeata dos Cem Mil, em julho de 1968 –, numa mobilização em prol não da constituição da frente democrática, mas da frente popular articulada à guerrilha urbano-rural; o que acabaria por reforçar a ditadura, limpando o terreno para a institucionalização do arbítrio, em dezembro (AI-5), e o esmagamento da oposição, que esboçava seus primeiros atos ampliados de resistência, não só com base nos intelectuais e nos estudantes, mas também com o apoio do operariado e da Igreja (católica).
Como já vimos, os comunistas, fortemente perseguidos, deixaram escapar a forma concreta com que a frente democrática se apresentaria à partir do ressurgimento dos movimentos sociais – estudantil (1977) e operário (1978). Mas, como em política não há vácuo, as forças progressistas aninhadas nos movimentos sociais, na imprensa alternativa (Opinião e Movimento) e no MDB-autêntico – inclusive as bases do PCB –, passaram a discutir a criação de um partido popular, que, todavia, esbarraria na pretensão das lideranças exiladas em reconstruir/legalizar seus próprios partidos.
O impasse intraoposicionista, que opunha lideranças internas e exiladas, só se resolveria após a segunda greve operária do ABCD (março de 1979), em favor das forças internas, quando a intervenção policial projetou Lula como liderança política nacional autônoma, sem vínculos com as forças tradicionais da esquerda (neostalinistas, castristas, maoístas e nacionalistas) e em rota de convergência com os teólogos da libertação – nova tendência assumida pelo catolicismo de esquerda depois da desagregação da Ação Popular (1962).
É daí que surge o Movimento Pró-Partido dos Trabalhadores (1979) que, sem conseguir atrair as velhas lideranças em vias de retornar do exílio (Prestes, Brizola e Arraes), é bem sucedido em atrair os resquícios da diáspora esquerdista – excetuando os stalinistas –, os ambientalistas, a juventude progressista e uma miríade de novos movimentos sociais oriundos da urbanização dos anos 1960-70.
O PT vem à tona operando uma série de rupturas necessárias à sobrevivência da esquerda radical no novo contexto. No plano da composição social, a classe trabalhadora deixa o segundo plano que ocupava no PCB, cujos quadros históricos eram de origem militar, e passa a ser a principal fonte política de impulsionamento da nova agremiação; não obstante a preponderância castrista na esfera organizava (máquina partidária) e dos intelectuais marxistas no âmbito da luta ideológica.
No plano da estrutura interna, o PT também inovaria assumindo um caráter federativo e pluralista, típico dos partidos socialistas ocidentais, em oposição ao centro único dos partidos comunistas. Isto fez com que os petistas, no curto e médio-prazo, tivessem dificuldades competitivas com os partidos centralistas que disputavam o controle dos movimentos sociais, mas tais dificuldades acabariam superadas pela capacidade da nova formação política em atrair militantes e simpatizantes em diversos segmentos sociais, e campos ideológicos – em particular entre os cristãos –, além de votos.
No plano ideológico, de novo, a inovação aproximou o PT do paradigma socialdemocrático – sem adesão efetiva ao campo –, onde predominava uma acepção ampla de classe trabalhadora e ideais socializantes vagos o suficiente para comportar uma ampla diversidade de crenças organizadas numa luta interna pactuada.
Todas estas inovações, porém, ocorreram à moda transformista, sem efetivo revisionismo político-ideológico e acalentando boa dose de utopismo, tornando o PT um feixe de forças sociais e ideologias contraditórias, amalgamadas pelo carisma de um líder pragmático que perseguia o poder externo (Estado) com base no controle do poder interno (aparato partidário) por meio de lideranças unicistas de viés totalitário, e amparado em discurso de fundo místico-libertador que aliava utopia e pragmatismo numa perspectiva classista singular, baseada no neocorporativismo identitário.
Tal combinação mostrou-se poderosa fórmula para se chegar ao poder, eclipsando e contornando o espinhoso debate acerca do papel da democracia política, e suas instituições, na construção de uma sociedade mais justa e menos desigual – para não falarmos das instituições econômicas necessárias para tornar sustentável tal propósito. Mas, ao mesmo tempo, se mostrou insuficiente para fundar uma nova tradição apta a renovar a política brasileira, construir um novo modelo de desenvolvimento (sustentável) e resistir aos perigos do carisma e do poder – inclusive à sedução do dinheiro.
A nova esquerda radical – de feições "ornitorrínticas" – atravessou o rubicão do poder, depois de treze anos à frente da União, mostrando toda sua incompetência política e programática, não só para manter a sustentabilidade econômica de seu projeto – afundando o país na maior recessão de sua história –, mas para reverter o lento e persistente esgarçamento dos valores e das instituições públicas/privadas parasitadas pelo etos neopatrimonial das elites dominantes desde a redemocratização; às quais, finalmente, se rendeu e se converteu, em cabal demonstração da esterilidade da fórmula radical convencional no Brasil democratizado.