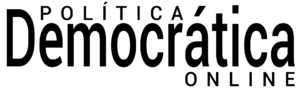Entrevista especial – Hussein Kalout
Qualquer que seja o governo a sair das próximas eleições em 2022 o trabalho necessário para recuperar a imagem do Brasil no exterior será hercúleo, avalia o cientista político e especialista em política internacional e Oriente Médio, Hussein Kalout, entrevistado especial desta 38ª edição da Revista Política Democrática online.
Em alguns tabuleiros do xadrez internacional, o país poderá recuperar seu prestígio de forma rápida, com uma mudança no discurso e com a apresentação de uma política externa minimamente crível, avalia Hussein. Em outros, não será possível. “O tempo e a eficiência da estratégia irão determinar se o Brasil será capaz de revigorar sua presença internacional”, acredita.
Secretário Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República no Governo Temer, entre os anos de 2016 e 2018, Hussein Kalout faz duras críticas à política externa brasileira atual, mesmo após a substituição de Ernesto Araújo pelo atual ministro do Exterior, Carlos França. “Nada mudou. O presidente é o mesmo, o governo é o mesmo, portanto, na minha avaliação, nada se alterou da passagem do Ernesto Araújo para o atual chanceler Carlos França”, avalia.
No atual governo, “o Brasil abriu mão de estar presente nos múltiplos tabuleiros”, critica Kalout. “No atual governo, perdemos totalmente o compasso em nossa própria região, o que gera custo ao criar um vácuo de poder. Esse vácuo de poder já está sendo preenchido por potências extraregionais. Pela própria China, pelos próprios Estados Unidos, até pela presença da Rússia na Venezuela”, avalia. “Portanto, nós ficamos à deriva e no nosso próprio entorno”, completa.
Na entrevista à Revista Política Democrática, Kalout faz um comparativo entre as recentes viagens ao exterior do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, prováveis adversários em um segundo turno das eleições 2022. “A Europa quer dialogar com o Brasil, mas não com um governo de perfil autocrático como o atual, cujo presidente possui compromisso dúbios com os ditames de estado de direito”, avalia. Ele também comenta o papel do Brasil nas questões climáticas tratadas na COP-26, bem como o papel do país na rivalidade China-EUA. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista:
Revista Política Democrática online (RPD) – A substituição do Ernesto Araújo pelo Carlos França implicou alguma mudança na política externa brasileira?
Hussein Kalout (HK) – A diplomacia é um método, não é uma substância. A substância é a política externa. No método, sim, houve uma transformação, digamos, de um formato menos tétrico de endereçar certas questões. Mas a política externa é a mesma, nada mudou, o presidente é o mesmo, o governo é o mesmo, portanto, na minha avaliação, nada se alterou da passagem do Ernesto Araújo para o atual chanceler. Na minha avaliação, mudou-se o estilo da abordagem; mantiveram-se, porém, as mesmas linhas da política externa.
“Apenas mudar o tom do discurso, sobre meio ambiente, direitos humanos, etc, no sistema multilateral não será suficiente. É preciso que as mudanças sejam concretas, reais e mensuráveis”
RPD: Tradicionalmente, o Brasil tem vivido de costas para seus vizinhos. Este sempre um tema de suas reflexões. Poderia comentar essa questão da relação do Brasil com a América do Sul?
HK: Para mim, um país com as dimensões do Brasil, com sua importância entre as dez maiores economias do mundo, não poderia jamais descuidar de seu entorno geográfico. Quem não é influente em seu entorno geográfico não consegue ser influente em lugar algum do mundo. Essa é uma premissa basilar de sobrevivência geopolítica. Se você não é um ator vital em sua própria região, em seu próprio compasso geoestratégico, você não terá peso gravitacional em outros tabuleiros internacionais. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto: o Brasil não sabe o que quer, não sabe como quer projetar seu poder, não sabe como quer liderar, não sabe se quer ser um indutor do desenvolvimento. No atual governo, perdemos totalmente o compasso em nossa própria região, o que gera custo ao criar um vácuo de poder. Esse vácuo de poder já está sendo preenchido por potências extraregionais. Pela própria China, pelos próprios Estados Unidos, até pela presença da Rússia na Venezuela. Portanto, nós ficamos à deriva e no nosso próprio entorno.
Pior: Historicamente sempre fez parte de nossa doutrina de política externa e dos cânones que regem nossa atuação evitar a construção de coalisões antibrasileiras. Por essa razão, as escolhas que o Brasil fazia para tratar de seus interesses nunca foram dimensionadas, na minha visão, sob a ótica direita e esquerda. Isso é uma falácia. Empiricamente é uma mentira. O Brasil sempre procurou, primeiro, guiar-se pelos seus interesses mais prementes, pela estabilidade democrática da região, no período pós democratização especialmente, e pela prosperidade. Somos proponentes do MERCOSUL. Proponentes do processo de integração. Procuramos tratar com governos de direita ou de esquerda; nunca fizemos a distinção: “seremos amigos apenas dos governos à esquerda na América do Sul e inimigo dos governos à direita”. No período pós-redemocratização, a política externa brasileira costumava atuar no sentido de estabilizar democraticamente a região, e evitar ingerências externas.

Foto: Pedro França/Agência Senado
Bolsonaro comete o grave erro de apenas dar atenção a governos à direita do espectro no contexto sul-americano. Ideologiza em toda a intensidade essa relação. Isso é grave; isso cria coalizões antibrasileiras, à medida que o país você deixa de ser o ponto de equilíbrio, de confluência de interesses de todos. Veja o antagonismo com a Venezuela, com a própria Argentina, com a Bolívia, até com os governos à direita no Uruguai e no Chile, que se distanciaram do governo Bolsonaro pela abordagem errática com a qual ele procura conduzir os interesses regionais do Brasil. O Brasil está à deriva na região como jamais esteve, e isso é extremamente perigoso.
RPD: A diplomacia brasileira tem perdido prestígio e credibilidade em foros internacionais, particularmente na área das mudanças climáticas. Contam que, em uma tarde na COP em Copenhagen, o início da sessão de trabalho foi retardada à espera da chegada do delegado brasileiro. De repente, o Brasil se torna basicamente ausente ou mentiroso nessas reuniões. Como avaliar isso?
HK: Essa descrição é irretocável. Qualquer adição minha estragaria este preâmbulo. Mas tentarei elaborar da seguinte forma. Ninguém cresce no isolamento. E o Brasil se impôs um auto isolamento no sistema multilateral. O multilateralismo sempre foi a raia em que nós melhor navegamos nossos interesses. Para países do tamanho do Brasil, com os problemas do Brasil, com as responsabilidades do Brasil, o sistema multilateral é o parlamento onde os mais vulneráveis, os menos fortes, se protegem dos mais fortes, onde conseguem impor as suas demandas, onde o direito internacional é minimamente respeitado. Nem sempre se consegue, mas é nesse plano que se cria uma relação minimamente baseada em regras.
Acho que o Brasil optou agora por querer estar isolado. Essa opção se traduziu de forma muito equivocada à luz de nossos interesses. No sistema multilateral, é verdade que são múltiplos os tabuleiros, e que cada tabuleiro funciona em uma velocidade diferente, com premissas e paradigmas distintos. O Brasil abriu mão de estar presente nos múltiplos tabuleiros. Portanto, quando o Brasil vai para a conferência do clima, não adianta fazer discurso, porque o discurso precisa minimamente combinar com a realidade. O discurso não pode ser totalmente discrepante da realidade. Quando se fala hoje de clima, fala-se também de ciência.
O desmatamento é monitorado por satélite. Não adianta enganar os outros. O discurso alega querer proteger o meio ambiente, estar preocupado com as mudanças climáticas, mas a realidade do terreno revela que o governo desmantelou o aparato fiscalizatório e regulatório que coíbe o desmatamento. Não se protege o meio ambiente sem fiscalização, sem regulação, é paradoxal. Além disso: se o governo tivesse feito um bom trabalho, tivesse uma política ambiental de fato condizente com a redução do desmatamento, teria anunciado os dados antes do início da cúpula para mostrar que ali houve uma correção nos rumos da política ambiental brasileira. Mas o governo escondeu os dados, sabia o desmatamento havia aumentado. Essa enorme assimetria entre o discurso e a realidade gera desconfiança no sistema multilateral, faz o país ser visto como mentiroso. Em uma reunião de complexa importância, como a COP de Glasgow, não dá mais para tentar esconder a sujeira debaixo do tapete.
“A ida do Bolsonaro ao Oriente Médio, na verdade, não fez parte de uma estratégia de política externa, porque ele não tem uma estratégia de política externa, seja no macro, seja no micro”
E mais: o Brasil participou dessa reunião com duas delegações. Uma delegação, que é do governo, esteve sub-representada. Nunca o país levou delegação tão minguada e sub-representada como dessa vez. Para mim, isso demonstra que o governo estava acuado. O Brasil, uma potência climática, detentor da maior floresta tropical do mundo, um dos baluartes dos acordos de Paris, deveria estar fazendo o quê? Deveria estar tendo uma atuação de liderança. O presidente brasileiro, simplesmente, sumiu da reunião de cúpula, não compareceu. Por conta de que outro compromisso? Mais importante do que o de Glasgow? Não era o caso, preferiu não ficar mais exposto internacionalmente.
A outra delegação, que poderíamos chamar de o good Brazil, era composta por representantes da sociedade civil, dos governos estaduais, de parlamentares de diversos partidos, da academia, do setor financeiro, do setor agrícola, do setor empresarial, todos unidos de maneira espontânea, sem orquestração de espécie alguma. E por quê? Porque tentavam mostrar “esse é o Brasil real, esqueçam aquele Brasil do desmate”. A sociedade internacional e grupos não-governamentais em Glasgow não queriam tratar com o governo brasileiro, olhavam para o futuro, para esse outro grupo que estava lá representando o Brasil de forma muito condigna. Creio mesmo que o governo brasileiro foi forçado a mudar de posição em vários aspectos em resposta à pressão exercida por aqueles grupos. Teve de caminhar um pouco mais para o centro, moderando algumas de suas posições. Sob esse ponto de vista, facilitou o Bolsonaro não estar presente, não ter interferido, ficar alheio ao processo negociador. Na verdade, uma bênção para quem estava lá tentando fazer um bom trabalho em nome do Estado brasileiro.
RPD: No plano da política externa do Brasil, que paralelo poderia ser feito entre a viagem do chefe do governo ao Oriente Médio e a do ex-presidente Lula à Europa?
HK: Começo pela viagem do presidente ao Oriente Médio. O Bolsonaro, hoje, só consegue desempenhar uma diplomacia presidencial onde pode ser recebido, não é onde quer ir. A diplomacia presidencial dele se limita a países sem predicados democráticos, ou a países com limitada importância internacional, ou a países que não ligam tanto para, digamos, as erráticas políticas de seu governo. Às vezes, a relação econômica e comercial acaba falando um pouco mais alto. A ida do Bolsonaro ao Oriente Médio, na verdade, não fez parte de uma estratégia de política externa, porque ele não tem uma estratégia de política externa, seja no macro, seja no micro. Considero que foi um movimento tático conjuntural, isto é, exercita-se uma diplomacia presidencial onde ele pode ser recebido. E, se nenhum líder quer vir ao Brasil, ele manda um avião da FAB buscar – como fez com o autocrata de Guiné-Bissau.
A viagem de Bolsonaro ao Oriente Médio, na minha avaliação, refletiu certo ativismo diplomático. Não integra uma política externa, não tem início, nem meio, nem fim. Esse ativismo diplomático, no fundo, está constrito à tentativa de diminuir o isolamento do Brasil. Só que o episódio não coloca o brasileiro em nenhum tabuleiro geopolítico relevante, na verdade. No dia que o Bolsonaro conseguir ser recebido por uma grande democracia europeia, ou na América do Norte, aí nós podemos, talvez, dizer que o Brasil está conseguindo recuperar o poder da narrativa, está conseguindo recuperar seu prestígio internacional. Portanto, a ida ao Oriente Médio, na minha opinião, não se pode comparar com a ida do Lula à Europa.
RPD: Foi uma rota de fuga de Glasgow?
HK: Sim, uma rota de fuga de Glasgow. E também um esforço de mostrar que não está tão isolado assim internacionalmente; afinal de contas, foi recebido no Catar, no Bahrein, embora não mais do que isso. E daí procura criar narrativas que não se sustentam muito tempo: “O Brasil vai receber dezenas de bilhões em investimentos”, foi o que ele disse quando foi à Arábia Saudita e, até o momento, não entrou um tostão sequer em investimento direto saudita no Brasil, fruto daquela missão. Repito: a visita do Bolsonaro ao Oriente Médio não passa de um movimento limitado com objetivos ultralimitados, com resultados limitados.

Já o périplo do Lula foi diferente, um tremendo contraste com o de Bolsonaro. Isso revela que a Europa quer dialogar com o Brasil, mas não com um governo de perfil autocrático como o atual, cujo presidente possui compromisso dúbios com os ditames de estado de direito. A visita do Lula ao parlamento europeu, à Espanha, à Alemanha e – o ponto mais alto, a meu juízo – à França significou que a Europa quer dialogar com uma nova liderança, com outros predicados e comprometida com temas muito caros à política europeia de forma geral, que são a democracia, os direitos humanos e o meio ambiente. É um contraste muito importante, isto é, a Europa não está fechada, as portas da Europa não estão fechadas para o Brasil; estão fechadas para o governo Bolsonaro e não para o Brasil, e não para a sociedade brasileira. Essa mensagem ficou clara na visita do Lula à Europa por meio dos líderes das potências européias.
Mas sempre haverá quem diga: “veja bem, o Lula só foi recebido por governos à esquerda”. Macron não é exatamente um líder de esquerda; ele é um líder de centro-direita em um partido de centro-direita, com um governo de centro-direita. E ele recebeu o presidente Lula, e o Lula teve, digamos assim, a percepção de que a relação do Brasil com a Europa também não se mensura a partir de direita e esquerda. O Lula sabia da importância do encontro dele com o presidente francês, razão pela qual ele colocou o componente ideológico de lado e buscou ir a um encontro que pudesse traduzir os interesses do Brasil a partir de 2023. É importante conseguir ler a política nas entrelinhas. Acho que o encontro também era conveniente para o presidente francês, que está disputando uma eleição com a extrema direita francesa e precisa, para derrotar a extrema direita, dos votos do campo mais a centro-esquerda do aspecto político francês. Tanto Lula como Macron terão de enfrentar a extrema direita em suas respectivas eleições.
Para mim, a lição que fica da ida do Lula à Europa é que, com o Lula, o Brasil fez política externa. E com o Bolsonaro, o Brasil fez um ativismo diplomático. Com o Lula, parece que o Brasil voltou aos grandes tabuleiros internacionais. Com o Bolsonaro, o Brasil não consegue se colocar nem em evidência e nem em relevância. E parece que o Brasil tem dois presidentes: o presidente constitucional, mas que não consegue ter legitimidade internacional, e o presidente que não tem o mandato constitucional, mas é quem tem legitimidade internacional. Essa que é a realidade, fazendo um paralelo entre a missão do Lula à Europa e a ida do Bolsonaro ao Oriente Médio.
“O tempo e a eficiência da estratégia irão determinar se o Brasil será capaz de revigorar sua presença internacional”
RPD: Sobre que parâmetros um novo governo, se vier, terá de pautar a política externa do país, para recuperar o que o Brasil já foi e projetar o que pretende ser?
HK: Qualquer que seja o governo, o trabalho será hercúleo. Isso é inexorável. Penso, no entanto, que existe a possibilidade, em alguns tabuleiros, como recuperar o prestígio do Brasil de forma rápida com uma mudança no discurso e com a apresentação de uma política externa minimamente crível. Em outros, não será possível. O tempo e a eficiência da estratégia irão determinar se o Brasil será capaz de revigorar sua presença internacional.
Recorro a dois exemplos muito simples: nosso peso econômico é muito assimétrico e desproporcional vis-à-vis nossos vizinhos. Podemos recuperar isso com um bom presidente, equilibrado e um olhar centrado na América do Sul, estruturado na paz e na integração. Pela necessidade de o Brasil de estar cuidando de seu entorno, de um lado, e, de outro, pela necessidade de o entorno ter um país das dimensões do Brasil como indutor do desenvolvimento, creio que capazes de estabilizar a relação com a Argentina, reequilibrar a relação com Chile, Uruguai, Bolívia, e adotar tom pragmático com a Venezuela. É possível fazer isso, em um curto espaço de tempo.
Já no sistema multilateral não creio ser tão fácil. Não existe vácuo de poder. A letargia é rapidamente preenchida por outrem. Apenas mudar o tom do discurso, sobre meio ambiente, direitos humanos, etc, no sistema multilateral não será suficiente. É preciso que as mudanças sejam concretas, reais e mensuráveis. Não adianta o Brasil ter outro presidente em 2023 e chegar na COP28 dos Emirados Árabes naquele ano – já que a próxima será em 2022 no Egito – e dizer que o meio ambiente é importante, que o Brasil vai acabar com a política de desmatamento ilegal, sem demonstrar que recuperou os ativos do aparato de fiscalização e de regulação. Se depois de dez meses de governo, o país for capaz de exibir dados concretos de redução no desmatamento, vai convencer. Como disse, o discurso vai ter que casar com a realidade do terreno.
“O Brasil não sabe o que quer, não sabe como quer projetar seu poder, não sabe como quer liderar, não sabe se quer ser um indutor do desenvolvimento. No atual governo, perdemos totalmente o compasso em nossa própria região”
RPD: E sobre a rivalidade China-EUA? Como o Brasil deve se comportar?
HK: O centro gravitacional das relações internacionais deslocou-se para a Ásia. A China não admite mais ser reconhecida como potência em ascensão, quer ser reconhecida, exige ser reconhecida, como superpotência. E os Estados Unidos já a reconheceram como tal, seja de forma direta ou indireta, seja a partir do comunicado conjunto sino-americano que surpreendeu os países em Glasgow, seja a partir do encontro bilateral realizado no Alasca entre o secretário de estado americano e o ministro do exterior chinês cara a cara definindo as regras do engajamento diplomático e geopolítico internacional entre os dois países. Temos, assim, de desenvolver uma diplomacia muito específica que aborde essa rivalidade; são, ao final de contas, nossos maiores parceiros comerciais. Com um, mantemos relação hemisférica de mais de século e com o outro, uma parceria privilegiada que abarca o BRICS e no New Development Bank (NDB).
Temos de traçar, portanto, um arcabouço estratégico muito bem delineado do que extrair dessa rivalidade e como se comportar no âmbito dela. Precisamos ter uma diplomacia específica para a Ásia, uma política externa específica, porque o Brasil não cresce elasticamente nem na América do Sul nem na Europa.
RPD: Por que a Ásia?
HK: Na Ásia, três vetores despontam como centrais e estão conectados à nossa plataforma de interesses no mundo. São eles: o vetor da chamada techno-economy, o correlação da tecnologia associada à economia. O vetor da bioeconomy e de sua interface financeiro-comercial. E, por fim, a modulação dos contornos da nova ordem internacional a partir da transformação geoeconômica do continente asiático e seu impacto sobre as nossas cadeias produtivas.
Quero sublinhar que, a cada período histórico, a ordem internacional passa por transformações. No âmbito dessa transformação, sempre há um ou dois temas que despontam como temas dominantes. E esses temas dominantes acabam delimitando, por assim dizer, o funcionamento dessa ordem. Explico: nos anos 70 e 80, o tema dominante foi o desarmamento, em torno do qual se mobilizaram as cúpulas multilaterais.
Nos anos 90, 2000, prevaleceu ascensão do regime de regulação do sistema de comércio internacional, por conta da transição do GATT para a criação da OMC. Em 2000 e 2010, a ordem internacional foi governada pela temática da segurança e do combate ao terrorismo, que receberam atenção prioritária dos Estados Unidos e dos países europeus. Na década 2020/2030, a ordem internacional possui como fios condutores a inovação tecnológica (5G, por exemplo) e as mudanças climáticas.
Precisamos ter clareza de como vamos nos comportar diante desses desafios. Na inovação tecnológica, nós já estamos atrasados, mas, por outro lado, no que diz respeito às mudanças climáticas, somos, incontornavelmente, um dos três atores mais potentes na matéria no planeta. Portanto, precisamos desenvolver uma política externa que seja capaz de ampliar a nossa competitividade e de preservar os nossos interesses.
RPD: Existe espaço para a democracia na governança internacional?
HK: É um assunto bem espinhoso esse. O processo de governança internacional sempre girou em torno dos interesses das grandes potências ou dos países mais influentes no sistema internacional. Uma governança internacional mais democrática ou menos democrática depende, antes de tudo, de onde repousa o interesse dos principais players. É muito importante não se iludir e olhar para as coisas com elevado grau de realismo.
O que posso dizer é que em tema como o das mudanças climáticas, por exemplo, vejo uma disposição e uma inclinação favorável para a cooperação por parte de todos os países. Nessa matéria, em específico, é possível dizer que o equilíbrio tem sido a pedra de troque para regular o processo negociador e isso, sem dúvida, facilita o processo de governança; dá a ele contorno mais democrático.
Já em assuntos mais afeitos à temas como o de defesa e da segurança internacional, daí existem outras variáveis que acabam se sobrepondo de forma até antecipada ao que se espera em matéria de governança. Nenhuma grande potência fará concessões em benefício de uma discussão mais democrática na governança internacional. Estamos falando aqui da preservação de poder e de influência. O cálculo, nesse sentido, é regido por outras considerações. Você viu, por exemplo, a emissão de um comunicado conjunto sino-americano no âmbito da COP-26 (o que foi importante). Porém, você não verá isso acontecendo em matéria de defesa e segurança quando o assunto tocar o poder dissuasório das duas superpotências.

Saiba mais sobre o entrevistado
Hussein Kalout é cientista político, professor de Relações Internacionais, conselheiro do Harvard International Relations Council e pesquisador da Universidade Harvard. Entre 2016 e 2018, foi secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, integrou o Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) e foi presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. É conselheiro internacional do CEBRI e coordenador do Núcleo América do Sul.