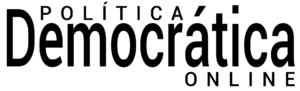O desastre do governo Bolsonaro se configura num bloqueio civilizatório, um retrocesso com sérias repercussões para toda a sociedade brasileira, avalia Alberto Aggio, entrevistado especial desta edição da Revista Política Democrática Online
Por Caetano Araujo, Viniicius Müller e Rogério Baptistini
Desde seu início, o Governo Bolsonaro se notabilizou por suas ações voltadas ao enfraquecimento da democracia brasileira e de olho na reeleição. Com a recente decisão do STF de restaurar os direitos políticos do ex-presidente Lula, o Brasil caminha para a eleição de 2022 num cenário difícil, de muita divisão, avalia Alberto Aggio, entrevistado especial desta edição da Revista Política Democrática Online.
A estratégia do presidente brasileiro sempre foi a do confronto, minimizando a epidemia do novo coronavírus, atacando governadores e prefeitos, a mídia e demitindo ministros da saúde, além de ter apoiado manifestações públicas que pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional, avalia Aggio. “Bolsonaro sempre praticou um jogo duplo, ambíguo, alternando um discurso tendente ao fascismo e um movimento político de composição e de ocupação das instituições”, completa.
Mestre e doutor em História pela Universidade de São Paulo (USP), Aggio é professor titular em História pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), com pós-doutorado nas universidades de Valência (Espanha) e Roma3 (Itália). Dedica-se à história política da América Latina Contemporânea, em especial à história política do Chile. Atualmente é diretor do Blog “Horizontes Democráticos” voltado para o debate da política contemporânea no Brasil no mundo. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista à Revista Política Democrática Online.
“Os cenários para 2022 são, de fato, obscuros. Bolsonaro é um flagelo, mas vem mantendo sua base eleitoral”
Revista Política Democrática Online (RPD): O governo Bolsonaro constitui ameaça real à democracia?
Alberto Aggio (AA): Acho que o Bolsonaro se configura como um governo, se não ameaçador à nossa democracia, pelo menos um governo que visou, desde o início, a um enfraquecimento dela; visou objetivamente confrontar suas principais instituições por meio de ações bastante agressivas do presidente e de seus apoiadores, que chamei de guerra de movimento. Essa guerra de movimento, essa agressividade às instituições democráticas, percorreu todo o primeiro ano de governo e, a partir da pandemia, já em 2020, com a necessidade de enfrentar a repercussão na opinião pública, Bolsonaro começa a mudar. Sua estratégia de movimento carecia de atores convencidos de que o projeto era – não apenas de ameaça – mas de derrubada da democracia da Carta de 88.
RPD: E quando ocorreu isso?
AA: Quando houve o bombardeio fake ao Supremo Tribunal Federal, estimulado por um discurso raivoso, um discurso de ódio, incapaz, no entanto, de transformar essa retórica em violência direta às instituições e a seus representantes. É importante ressaltar que, desde os primeiros meses do mandato, Bolsonaro declarou seu objetivo maior: a reeleição. Contudo, havia aí um paradoxo, o choque entre uma tática agressiva e a tentativa de cativar o eleitorado; objetivamente o golpe não necessitaria da reeleição. Sobretudo depois do início da pandemia, Bolsonaro deve ter concluído que a agressividade dessa guerra de movimento não era compatível com seu projeto eleitoral. Passou, então, a buscar acordos, no sentido de uma guerra posicional, ou seja, fazer política combinando ataque e defesa nas pautas que lhe interessavam. E isso caracterizou boa parte de 2020 e é isso que se vê em 2021.
RPD: Mas Bolsonaro mudou ou continua o mesmo?
AA: O fato é que Bolsonaro nunca se deixou domesticar. Sempre praticou um jogo duplo, ambíguo, alternando um discurso tendente ao fascismo e um movimento político de composição e de ocupação das instituições. Como parte dessa guerra de posições, cuidou, primeiro, em manter os militares dialogando com o Palácio do Planalto, evitando, assim, conspirações nos quartéis, e, segundo, não acionou uma linha miliciana que pudesse incluir as polícias militares dos Estados em confrontação direta com seus adversários. Vem cozinhando isso em fogo morno, que nunca apaga completamente.
RPD: De qualquer forma, permanece a ameaça
AA: Sim, permanece. Contudo, Bolsonaro demonstra não ser capaz de transformar essa ameaça em ação efetiva, numa palavra, num golpe. Acho que a situação é a seguinte: as sensações de ameaça às vezes crescem e, às vezes, são contidas em um terreno onde as disputas são localizadas, quase moleculares, com Bolsonaro tentando manter seu grupo de apoio, marcadamente antidemocrático, autoritário, que não crê na democracia como regime e tampouco como sociedade, como civilização. As sensações de ameaça variam, portanto, conforme a conjuntura e o movimento dos atores. É uma situação muito complexa, ambígua, paradoxal. Imagino que ele gostaria de ganhar cada vez mais posições institucionais com personagens puro sangue.
Mas, nem partido ele tem. Tem que negociar com uns e outros; é tudo pantanoso, difícil de compreender o alcance dessa estratégia. Mas, tudo isso é muito ruim para o país, especialmente num contexto de pandemia, de diminuição da atividade econômica. Não dá para imaginar o que vai a acontecer, sobretudo quando aumentam as ameaças à democracia, em meio a uma governança errática, de orientação ambígua, onde se muda a toda hora para tentar sanar erros cometidos e responder seja à opinião pública seja aos seus apoiadores. A intervenção na Petrobrás é prova disso, ocasião em que Bolsonaro decerto terá perdido muitos aliados, mesmo que tenha tentado depois apresentar os projetos de privatização dos Correios e da Eletrobrás, gestos mais preocupados com a mídia do que com uma ação política mais efetiva.
“Bolsonaro espelha melhor um regime autoritário a la Salazar ou Franco, do que a la Mussolini ou Hitler”
RPD: Embora já tenham sido explorados, indiretamente, os conceitos de guerra de movimento e guerra de posições, talvez coubesse ainda uma palavra adicional para melhor caracterizar os referidos conceitos.
AA: Usei os conceitos tendo em conta que Bolsonaro é um ator da guerra, ele vê a política como guerra, vê a política como a destruição de inimigos; pessoas, lideranças, instituições. Contudo, tecnicamente não se trata de uma ação militar, é uma ação política. E não importa se ele tem consciência ou sabe vocalizar isso. Pensando mais amplamente e convocando Gramsci que é o pai dessa conceituação, o conceito de guerra de posições identifica como se faz política contemporaneamente, especialmente depois da estabilização capitalista, depois da Revolução Russa de 1917, e mesmo depois da Crise de 1929 e da Segunda Guerra.
É como a política contemporânea tem se estabelecido, com os atores, especialmente os atores antagonísticos, buscando conquistar posições institucionais, culturais, sociais, etc. Alguns fracassam e desaparecem, como o comunismo; outros imaginam que ganharam tudo, como em um certo momento se supôs que a história tivesse acabado. Nas sociedades democráticas mais avançadas seria possível imaginar que essa guerra de posições poderia até mesmo se diluir e a metáfora perderia o sentido, com o seu desaparecimento no terreno da ação política. Possivelmente, a partir daí o debate pela hegemonia mudaria diluindo-se no corpo da sociedade; falaríamos então em “hegemonia civil”, hegemonia como um ato civilizatório. Acho que a democracia precisa estar muito mais avançada, ser muito melhor compreendida pelos cidadãos, para que se supere a metáfora da guerra na política.
RPD: Bom, mas como vincular Bolsonaro a essa discussão?
AA: Ao exacerbar a guerra de movimento, Bolsonaro mostrou que não foi capaz de finalizá-la, de vencer. Ele altera a tática, mas também não consegue sustentar-se: não tem partido, não tem intelectuais, não tem projeto, nem acredita no projeto do Paulo Guedes, não acredita nem mesmo no antigo projeto desenvolvimentista da ditadura militar, porque ele não é um homem do regime militar, ele é um homem da ala extremista do regime militar, que não venceu, que foi derrotada dentro do próprio regime pelo avanço do seu projeto de autorreforma. Em certo sentido, Bolsonaro é um ressentido porque é um homem solitário, sem projeto claro que possa apresentar “grande política”, e por isso começou seu mandato isolado politicamente, embora com voto e popularidade. Ele não é capaz de exercer uma liderança para além do seu narcisismo, para além do que ele mesmo é, expressão desse grupo de pessoas que o apoia. Isso não tem como se ampliar, a não ser na lógica da antipolítica, uma outra face do narcisismo que passou a predominar entre nós. Essas limitações comprometem sua capacidade de lidar com a guerra de posição. Com ele, o Brasil se distanciou enormemente da possibilidade de agregar maior qualidade a sua democracia. O desastre do governo Bolsonaro se configura num bloqueio civilizatório, um retrocesso com sérias repercussões para toda a sociedade.
“Não haverá futuro algum quando se diz que se quer voltar ao poder para resgatar o que se fez no passado”
RPD: Considerando a nomenclatura utilizada pela História, pode-se fazer analogias entre Bolsonaro e o fascismo do início do século 20, sem correr o risco de prejudicar a tática e a estratégia política dos democratas?
AA: Bolsonaro gostaria de ser efetivamente um fascista, de ser um líder fascista, mas ele fez a vida dentro do Estado, como militar e como parlamentar. O fascismo nasceu da sociedade, das agruras do pós-Primeira Guerra. No fundo, Bolsonaro é não só um mau soldado, como disse o General Geisel, mas é também um fascista incapaz. Fora essa ligação com os militares, sua vinculação com a religião é instrumental, a pauta de costumes reacionária, tradicionalista. Bolsonaro espelha melhor um regime autoritário a la Salazar ou Franco, do que a la Mussolini ou Hitler, esses, sim, carregaram um projeto ativo e moderno de mundialização, mas foram derrotados. Bolsonaro não tem nada disso. Não ultrapassa o tradicionalismo.
O fascismo do Bolsonaro é caricatural. Sua inclinação é muito mais tradicionalista, de uma sociedade fechada. Bolsonaro é o anti-Popper, é visceralmente contra a sociedade aberta, para usarmos aqui uma referência muito ao gosto do Vinícius Müller. Eu não insistiria muito nessa coisa de fascismo. Bolsonaro é um pragmático, mas por ser mentalmente restrito é alguém que não tem capacidade de ampliação pelo que ele representa. Em suma, não é efetivamente um líder. Pelos acordos políticos ele está conseguindo impedir o impeachment, pode conseguir a reeleição, se seus opositores errarem muito, e infelizmente sabemos que isso pode acontecer.
RPD: O modo como Bolsonaro faz política estaria reproduzindo em parte o que se fez na Nova República e, em caso afirmativo, poderia ele estar inaugurando uma nova fase na política brasileira, na condição do último presidente da Nova República?
AA: Se vencer em 2022, isso estará em questão. Mas se isso ocorrer, ele vai ter de fazer um governo diferente, não poderá ser “puro sangue”. Bolsonaro é a face mais deletéria, mais grave da política da Nova República. É um político que não valoriza os partidos nem a negociação política, um político que pensa que negociação é corrupção. Esse tema tem possibilitado a Bolsonaro alguns acordos desde o início do governo, mas depois da saída de Moro, a coisa se complicou. Ele tem que encontrar novos pares. E quais seriam eles? O Centrão terá dificuldades em se vincular a esse tema. Daí a regressão que estamos assistindo nessa matéria. Quais seriam as novas chaves do discurso de Bolsonaro? Não se sabe. Mas o fato é que ele prosperou num contexto em que perdemos a perspectiva de organização democrática e cosmopolita da Nação brasileira. E isso ocorreu a partir dos governos do PT, não do primeiro Lula, mas depois, com Dilma. Configurou-se, então, um cenário extraordinariamente paradoxal: um projeto de resgate do nacional desenvolvimentismo, e, na base, a valorização do consumo, que vem desde o primeiro Lula.
A mensagem era o individualismo no consumo e o mercado como o vetor capaz de reconfigurar a Nação; um “aggiornamento” capitalista, mas que não podia ser “puro sangue”. Isso de certa maneira contraditava o projeto nacional-desenvolvimentista que tinha por base o grande capital, os “campeões nacionais”, etc., uma espécie de visão coreana do desenvolvimento do capitalismo. Essa contradição desorganizou completamente o país, a economia, a sociedade. Bolsonaro se apresentou como aquele que era capaz de consertar essa desorganização, prometendo um capitalismo sans frase, que também não consegue impor – e hoje talvez nem queira. Nossa desorientação, portanto, não vem do impeachment, vem dessa contradição, é a política do petismo no último governo com Dilma que impossibilita que a sociedade, a Nação, se solde. Podemos lembrar muito bem os discursos dos petistas em busca de alguma unidade com o PSDB, por exemplo, no momento de crise aguda do governo Dilma. Temer ainda tentou algo, mas não conseguiu estabelecer um novo padrão. A vitória do Bolsonaro, por fim, abriu caminho para avançar a degradação.
RPD: O que efetivamente mudou na Nova República e que não se ajustou em tempo hábil?
AA: Vínhamos de um cenário em que se ultrapassava a democracia de partidos e se adentrava na democracia de audiência. A Nova República, de acordo entre diferentes, da Lei de Anistia, da Constituição de 1988, teria que se adequar. As instituições ficaram, mas o resto gradativamente sofre uma erosão. Na verdade, o Brasil passou por rupturas sem ruptura, que gerou desorganização e uma Nação à deriva. Bolsonaro venceu nesse quadro onde já havia degradação e isso não só se manteve como se aprofundou. Não se confia mais em ninguém. O jogo político piorou. Não é nem um jogo de grandes máfias, é um jogo da pequena política. E olha que o Brasil viveu “trasformismos positivos”, como identificou Luiz Werneck Vianna, como foi o período JK, que fizeram avançar a modernização. Hoje, com Bolsonaro, não se divisa nada. O que me parece terrível é que entramos em uma situação de guerra a partir de um terreno completamente desorganizado. E ele se desorganizou porque perdemos qualquer projeto de pensar o Brasil no mundo. O PT fracassou e depois dele não surgiu nenhum outro ator que pudesse recompor isso.
RPD: As projeções feitas para 22 ainda não esclareceram uma questão relevante. Desde 2014, 18, 16, o PT perde votos; na última eleição, Bolsonaro perdeu votos, mas não se sabe ainda para onde foram esses votos, quem os ganhou, os cenários continuam obscuros. Quais perspectivas de curto prazo existiria, então, para a formação e atuação de um centro democrático na disputa eleitoral de 2022?
AA: Os cenários são, de fato, obscuros. Bolsonaro é um flagelo, mas vem mantendo sua base eleitoral. Estudei o Chile e muitos se surpreendiam ao verificar que, no final da ditadura, a direita tinha bases sociais muito fortes, tendo um eleitorado que ultrapassava 40%. Do outro lado, Concertación, mesmo sem os comunistas, conseguia superar a direita e isso durou 20 anos. No caso do Brasil, é quase impossível acreditar que se possa formar algo parecido. Muito falam em “frente democrática”. Entendo que os obstáculos à construção da frente democrática são fortes. O primeiro é que os atores de maior projeção na esquerda ainda não estão convencidos disso. Muito pelo contrário, o PT discursa no sentido de resgatar o que foram os governos petistas.
“Bolsonaro não é capaz de exercer uma liderança para além do seu narcisismo, para além do que ele mesmo é, expressão desse grupo de pessoas que o apoia”
Fernando Haddad acabada de declarar que todos – exceto o PT e seus aliados mais próximos – são de direita e que a oposição tem de se unir no segundo turno. É um non sense. Fazendo política assim, o PT demonstra que é narcisista tanto quanto Bolsonaro. Não se pode fazer política democrática a partir de uma concepção narcisista, uma posição antipolítica. A segunda dificuldade vem do nosso sistema eleitoral de dois turnos. Isso anima mais a competição do que a composição. Não creio que se possa montar uma frente democrática no primeiro turno. Certamente haverá alianças. Anunciam-se três polos, mais uma ou outra candidatura desgarrada deles, todos se opondo a Bolsonaro, o polo governista.
O PT deverá ser um dos polos. Ciro Gomes vai concorrer, mas não tem força para se constituir num polo. O chamado “centro democrático” está dividido, até o momento, em muitos nomes e não se pode dizer que já tenha um projeto para o País. Na sociedade, como mostram as pesquisas, Sérgio Moro e Luciano Huck têm melhor presença. João Doria Jr, governador de São Paulo, é uma força, sobretudo por seu protagonismo na questão da vacina, um tema crucial. Cogita-se também o nome do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Nesse campo, os articuladores serão fundamentais. Até o momento, Rodrigo Maia, juntamente com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-deputado Roberto Freire, parecem dispostos a cumprir esse papel. Em suma, caminhamos para a eleição de 2022 num cenário difícil, de muita divisão, sem um projeto para o futuro. E não haverá futuro algum quando se diz que se quer voltar ao poder para resgatar o que se fez no passado.
O passado não deve ser esquecido, mas ele não é garantia de futuro. Por outro lado, a ideia de combater os extremos em si, não legitima nem sustentará candidatura alguma. Com as eleições municipais no retrovisor, recordemos que o PT perdeu uma quantidade significativa do seu eleitorado, mas venceu em lugares importantes do Nordeste e que Bolsonaro perdeu nas capitais, mas sua resiliência, como demonstram as pesquisas, ainda é forte. Tudo isso sublinha o quão importante é a conjugação de esforços na recuperação da política democrática, porque, de alguma maneira, todos estivemos envolvidos, ainda que em parte, no processo de permitiu a Bolsonaro chegar ao poder.
Post-scriptum
Em razão da decisão de 08 de março do Ministro Edson Fachin, do STF, que, no fundamental, garante elegibilidade de Lula (PT) na corrida presidencial de 2022, a relação de forças sofre alterações.
A musculatura do polo petista sai fortalecida não só em função da popularidade de Lula, mas também porque isso gera desestabilização em outras candidaturas por seu poder de atração. Antigos aliados serão desafiados, e o próprio Centrão, até agora em movimento inercial rumo à candidatura de Bolsonaro, deverá repensar seus futuros passos. O polo Bolsonaro também se revigora porque, em tese, pode recuperar a narrativa antissistema, criticando a decisão que favorece Lula.
É inevitável que Ciro Gomes mantenha sua beligerância tanto contra Lula e o PT, quanto contra o ex-juiz Sergio Moro. Envolvido diretamente, Moro será forçado a se pronunciar: ou contra-ataca, lançando-se definitivamente candidato ou se retira de uma vez da contenda eleitoral.
Por fim, o chamado “centro político”, cuja identidade primeira é se postar contra os “extremos”, está forçado a se definir pelo critério da popularidade, diante de duas potências de audiência. Se não tiver Moro, à primeira vista, aparentemente, só Huck teria esse atributo.