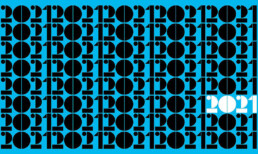Day: dezembro 28, 2020
Neca Setúbal: Brasil entra em 2021 com desafio urgente de diminuir desigualdades
Questões de raça e gênero, educação, saúde, meio ambiente e democracia são temas essenciais no país
Um dos principais desafios, entre os vários que o Brasil precisa enfrentar em 2021, são as suas desigualdades. Todos os dias elas impedem que a maior parte da nossa população, estimada hoje em mais de 211,7 milhões, tenha seus direitos assegurados e viva com dignidade e qualidade de vida.
Nossas desigualdades derivam em parte do racismo estrutural e da desigualdade de gênero, bem como da disparidade de renda e de acesso à educação e saúde de qualidade, que são temas que devem pautar o país com prioridade no próximo ano. Existe, por exemplo, uma interseccionalidade perversa entre raça e gênero que faz com que milhares de mulheres negras brasileiras fiquem à margem da sociedade, muitas delas líderes de família nas periferias urbanas, com pouca escolaridade, baixos salários e vivendo em situação vulnerável, vítimas de inúmeras violências. Para piorar, em 2020, a pandemia de coronavírus agravou ainda mais a dura realidade de quem já vive as desigualdades.
Primeiramente, todas essas urgências demandam que saíamos do discurso individual, da simples conscientização sobre o problema, e partamos para ações concretas no espaço público. Ou seja, é importante ser antirracista e antissexista num nível individual e desejar mais saúde e educação, mas isso só não basta. Dada a gravidade dos problemas, são necessárias ações —e ações no espaço comum—, sejam de cidadãos, governos de diferentes instâncias, empresas, organizações da sociedade, universidades, entre outros.
Neste ano, grandes corporações mostraram que é possível agir com intencionalidade para colocar negros e negras em cargos de chefia e o voto popular e democrático os elegeu para cadeiras em várias Câmaras Municipais. Mas é preciso mais: “É o momento de mover estruturas que foram criadas por pessoas brancas e de reestruturar o pacto social no qual vivemos. Para a mudança estrutural, é hora dos mais privilegiados cederem parte dos seus privilégios”, afirmou Thiago de Souza Amparo, professor da FGV Direito SP, no 11º Congresso GIFE, Fronteiras da Ação Coletiva, em novembro.
E, como nos alerta o filósofo camaronês Achille Mbembe, trata-se de “sair de si mesmo, tecer relações onde cada um é participante da sociedade e do universo”. Ou como convida o escritor moçambicano Mia Couto: “abrir as janelas para o mundo na chegada do novo para que fique impregnado de luzes, ruídos e sombras. É assim o nascer do tempo: apenas a vida nos defende do viver”. Significa, portanto, colocar-se na realidade e corresponsabilizar-se por ela, com ações para melhorá-la. Ou, como mostra a série de vídeos Enfrente, no canal do Youtube de mesmo nome, em que a Fundação Tide Setubal traz histórias de quem lidera transformações nas periferias, é preciso: “tecer a rede, furar a bolha, responsabilizar-se pelo outro. Criar ações para poder ser, em conjunto. A história é de cada um, o movimento é do todo”.
A área da Educação, brutalmente golpeada pela pandemia, segue como um desafio fundamental e estruturante no país. Em 2020, o coronavírus obrigou milhões de estudantes a terem aulas remotas, longe dos professores e colegas, e a enfrentarem a falta de internet, o que aumenta as desigualdades de aprendizado, uma vez que só uma parcela da população possui conexão adequada para acompanhar o ensino remoto. Não é possível falar de ensino híbrido para o próximo ano enquanto essa questão tecnológica não for uma pauta prioritária dos governos, ao lado das empresas de telecomunicações. Municípios pobres não conseguirão distribuir chips nem no curto prazo. Isso pode até ocorrer em grandes centros como São Paulo, mas não em localidades pequenas.
O distanciamento social e a irregularidade nos estudos devido à falta de internet são muito preocupantes porque podem elevar os já altos índices de evasão escolar, sobretudo no ensino fundamental 2 e no ensino médio e em regiões periféricas, o que afasta mais ainda o Brasil dos países membro da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) em qualidade da Educação. Por isso, são necessárias agora políticas específicas de reforço e de recuperação escolar e uma especial atenção no acolhimento a professores, crianças e jovens na volta à escola porque a saúde emocional é algo fundamental neste momento.
Diante desse cenário, todos os profissionais da educação, tais quais médicos e enfermeiros, devem ser considerados como de atividades essenciais e serem vacinados contra a covid-19, com prioridade, para que ocorra uma retomada segura e cuidadosa das aulas presenciais no início de 2021, com condições adequadas que não representem riscos à comunidade escolar.
Além disso, o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) expira em 2020 e o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), em 2021, quando acabam suas metas. São dois mecanismos fundamentais para a melhoria da educação, que podem diminuir desigualdades. Se o novo Fundeb, recém-aprovado, já foi reconfigurado num bom formato, em que municípios mais pobres vão poder receber recursos, mesmo estando em estados ricos, reduzindo-se assim desigualdades regionais, o novo Ideb, se quiser avançar e aprimorar a educação básica, não deve focar apenas nas desigualdades de forma geral, isto é, nos alunos abaixo do nível adequado, mas adicionar a questão racial.
Uma equação muito simples do professor Mauricio Ernica da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) ilustra de forma objetiva como os negros continuarão tendo a pior aprendizagem no país, se a questão racial for deixada de lado no Ideb. Supondo-se que, em determinada localidade, existam mil alunos no nível adequado, sendo que 500 são brancos e 500 são negros, e consegue-se melhorar a aprendizagem de 500 deles, colocando-os acima do adequado. Se 400 forem brancos e 100 negros, isso significa que a maioria dos negros ainda continua em um nível inferior. Ou seja, sem medir avanços por raça, o Ideb pode continuar a reproduzir nosso racismo por mais anos.
Em paralelo, a pauta do meio ambiente é também um desafio fundamental porque interliga o Brasil ao resto do planeta, tamanha a relevância das mudanças climáticas no globo. Ao mesmo tempo, é urgente proteger os povos indígenas e a rica biodiversidade da Amazônia e de outros biomas, como o Pantanal, vítima de inúmeros incêndios neste ano. Outra iniciativa necessária reside na mitigação dos efeitos do clima nas grandes cidades, que ocasionam enchentes e desastres, os quais atingem e prejudicam principalmente as populações mais vulneráveis, que vivem em condições insalubres, sem saneamento básico —um tema fundamental, dado que quase metade dos brasileiros ainda não possui esgotamento sanitário em pleno século 21.
Por trás de tudo isso, reside algo essencial a todos os avanços de que o Brasil precisa no próximo ano: a democracia. A pandemia mostrou o quanto as instituições democráticas foram importantes para garantir dignidade aos brasileiros mais desassistidos, como no caso da renda emergencial, proposta pelo Congresso Nacional —que, na verdade, poderia e deveria se tornar perene, uma “renda cidadã”, como já provam matematicamente muitos economistas. Por isso, mais do que nunca, em 2021, durante a recuperação dos terríveis efeitos da covid-19 na vida da população, os brasileiros precisam contar com o pleno funcionamento das instituições democráticas.
Ao mesmo tempo, a sociedade civil se conscientizou e se mobilizou durante este ano, de uma maneira poucas vezes vista, trazendo para si muita responsabilidade e demonstrando solidariedade, e no campo das instituições filantrópicas, como fundações e institutos, aumentaram significativamente as doações, inclusive de forma conjunta e colaborativa. Esse comportamento valoroso precisa ser de longo prazo, não só emergencial e pontual, para que ocorra um combate às desigualdades mais duradouro, estruturante e interligado às políticas públicas, mas sem a perda da autoria e do protagonismo da sociedade, que sempre deve cobrar os governantes. Organizações da sociedade podem realizar novas iniciativas junto com o governo, levando modelos, de pesquisas e de avaliação de projetos de grande escala, para subsidiar e aprimorar as políticas públicas, porém sem perderem seu lugar importante de crítica, pressão e advocacy.
Num Brasil contemporâneo perpassado por tantas polarizações, disputas maniqueístas de ideias e narrativas e saídas individuais, um desafio que se impõe é o da escuta ativa e do diálogo franco. Parece que tem sido cada vez mais difícil nos escutarmos uns aos outros, aprendermos com pontos de vista distintos dos nossos, sem fazermos generalizações e julgamentos, e chegarmos a novos consensos, o que de fato pode gerar mais avanços coletivos. Recentemente, fazendo releituras de Paulo Freire à luz do momento atual, revi como ele já propunha construirmos conhecimento a partir da experiência própria de vida de cada um e da experiência de outros — como os lavradores pernambucanos que ele atentamente escutava.
Isso me fez relembrar de como teóricos africanos e negros também valorizam a escuta e a oralidade e de como jovens pretos e pardos relatam o quanto aprenderam e aprendem em conversas memoráveis com suas avós e bisavós, que sobreviveram num Brasil excludente e racista, pois acredito que somos a soma de encontros que vamos criando ao longo da vida e, como afirma Cris Bartis, cocriadora do podcast Mamilos, existe uma “importância de deixar acontecerem rachaduras nas nossas certezas para que infiltrações possam entrar”. Assim, mais do que um desafio, nutro um forte desejo de que possamos dialogar mais em 2021 para forjarmos um Brasil mais inclusivo, justo, equitativo e democrático, onde todos, e não só uma minoria, tenham a oportunidade efetiva de se desenvolver e prosperar, voltando a ter esperanças no nosso país, tão potente e diverso.
Neca Setubal é doutora em psicologia da educação (PUC-SP), mestre em ciências políticas e socióloga (USP), educadora, presidente dos conselhos da Fundação Tide Setubal e do GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) e fundadora do Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária).
Marc Bassets: Futuro, ano zero
Depois de meses fora de órbita, em 2021 é hora de pôr os pés no chão. Empreenderemos a recuperação da crise sanitária e econômica? Lutaremos seriamente contra a mudança climática? Especialistas fazem suas apostas
Pode ser uma aterrissagem suave ou forçada. Depois de um 2020 de morte, doença, confinamento e recessão em que o mundo flutuou em uma estranha irrealidade, o ano de 2021 começa entre a promessa de vacinas que acabem com tudo isso e a angústia por novas ondas que nos devolvam à linha de largada. A humanidade está fora de órbita há um ano e se aproxima o momento de pôr os pés no chão.
“As coisas não voltarão a ser como antes. Começamos a ter consciência de que foi a civilização que criou e espalhou o vírus: os aviões e os carros, as concentrações multitudinárias e os estádios de futebol”, diz o neuropsiquiatra Boris Cyrulnik, uma das 10 pessoas consultadas ― todas especialistas em áreas que vão da história ao pensamento, da economia à geopolítica ― para preparar este artigo. “Se restabelecermos as mesmas condições de consumo e de transporte, em dois ou três anos haverá outro vírus e será preciso recomeçar.”
Nada está escrito. O ano de 2021 pode ser o momento de decisões ― sobre a organização das relações internacionais, sobre a economia, sobre o meio ambiente, sobre os valores democráticos ― que marquem as próximas décadas. Um ano zero.
“A história sempre está radicalmente aberta. Sempre pode ir por um lado ou por outro. A crença de que haverá um progresso simplesmente porque queremos que o bem vença é um erro”, diz a historiadora Anne Applebaum, autora de Twilight of Democracy (“Crepúsculo da democracia”), ensaio que narra em primeira pessoa o conflito no mundo ocidental entre liberais e autoritários. “Também é um erro acreditar que, inevitavelmente, fracassaremos. Não sou declinista, mas também não acho que tudo sairá bem sem fazer nada para conseguir isso.”
O historiador marxista Eric Hobsbawm falava de um século XX curto, entre 1914, ano do início da Primeira Guerra Mundial, e 1991, ano do fim da Guerra Fria, com o desaparecimento da URSS. E se também houvesse um século XXI curto? E se sua data inaugural não tivessem sido os atentados de 11 de setembro de 2001, ou a quebra do banco Lehman Brothers em setembro de 2008, e sim o surgimento do vírus SARS-CoV-2 na cidade chinesa de Wuhan no final de 2019? Ou, melhor, a esperada derrota do vírus em 2021 ou 2022, do mesmo modo que 1991 marcou a vitória do campo ocidental contra o bloco soviético?
“O momento em que se proclama que uma pandemia terminou é arbitrário”, avisa Laura Spinney, autora de Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How it Changed the World (”cavaleiro pálido: a gripe espanhola de 1918 e como ela mudou o mundo), livro de referência sobre a mal denominada gripe espanhola, que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas entre 1918 e 1920. “Suponho que isso ocorrerá quando os Governos, de maneira escalonada pelo mundo, levantarem as restrições, quando as pessoas tiverem um certificado atestando que estão vacinadas e sentirem confiança para retomar sua vida anterior.”
Spinney assinala que a diferença entre a pandemia de agora e a gripe de 1918 é a existência de uma vacina. “Até alguns dias atrás, enfrentávamos a pandemia da mesma forma que isso foi feito ao longo da história, com as velhas técnicas de distanciamento social: afastar-nos uns dos outros, fechar espaços públicos, impedir encontros em massa, usar máscaras. Lutávamos com armas antigas e agora lutamos com a arma mais moderna possível.”
A dúvida é o que ocorrerá depois da vitória, se esta chegar. “Imaginemos que no verão [boreal, inverno no Hemisfério Sul] as vacinas permitam acabar com o distanciamento social. Passaremos uma boa parte do resto do ano nos acostumando a viver no novo mundo, que não será igual ao antigo”, diz George Friedman, presidente da Geopolitical Futures, empresa especializada em previsões geopolíticas. “A questão é superar com sucesso a transição de uma realidade, uma economia e uma sociedade baseadas na covid-19 para algo mais estável”.
Friedman, que vive no Texas, acredita que a situação atual é insustentável, e não só por razões econômicas. Cita como exemplo seu neto de quatro anos e a possibilidade de que, se as vacinas não funcionarem, ele não vá à escola em um futuro próximo. “Você vai à escola para quê? Para aprender? Não. Para brigar. Para discutir. Para se entender com outras crianças”, diz. O perigo é que a excepcionalidade de 2020 acabe se prolongando, algo que ele descarta. “Teríamos uma geração deformada. Isto não é a realidade”, diz. É preciso aterrissar, e quanto antes, melhor.
O filósofo Bruno Latour, autor de um ensaio titulado precisamente Où Atterrir? (“Onde aterrissar?”), argumenta, ao contrário de Friedman, que a pandemia significou um banho de realidade, uma tomada de consciência sobre nossos limites e nossa dependência da natureza, do clima até os micróbios. “Vivemos uma mudança cosmológica ou cosmográfica que tem a mesma importância que as grandes mudanças do século XVI. Naquela época foi descoberto o infinito do mundo. Agora passamos de um mundo que acreditávamos ser global e universal para um mundo relocalizado, no qual é preciso prestar atenção a cada gesto, a cada sopro que damos”, afirma. Ao pensar no que 2021 nos reserva, Latour fala da mudança climática ― a “mutação ecológica”, diz ―, “tão próxima que sabemos que passaremos de uma crise a outra, de um confinamento a outro”. Com a diferença de que o futuro confinamento não será em casa, mas em uma terra convulsionada.
“Espero que 2021 seja o ano da volta à normalidade, mas a uma normalidade com consciência coletiva renovada, que permita avançar em matéria ambiental”, diz a economista Mar Reguant, professora da Northwestern University em Illinois e codiretora do grupo de trabalho sobre a mudança climática na comissão de especialistas encarregada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, de preparar a economia para o pós-covid-19. “Na frente pessimista, será um ano de novos desastres ecológicos e humanos nos quais a mudança climática ficará evidente com mais força”, prevê Reguant. Mas ela também deseja que o fundo de recuperação europeu, aprovado em julho, “dedique-se a transformar um modelo econômico e energético obsoleto”; que o futuro presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cumpra suas promessas de combate à mudança climática, e que as empresas petrolíferas “entendam que não terão lugar em um futuro próximo se não se reinventarem”.
Outra crise potencial é a da desigualdade. Durante 2020, os trabalhadores com menor renda empobreceram, devido aos fechamentos forçados pelos confinamentos em setores como os de restaurantes e turismo e à redução dos salários. As pessoas com maior renda, por sua vez, gastaram menos e economizaram mais. “Há uma lacuna que já existe e não vai desaparecer quando a vacina chegar e as restrições forem levantadas”, diz o economista Marc Morgan, membro do Laboratório Mundial da Desigualdade, do qual Thomas Piketty é um dos diretores. “O papel dos gastos governamentais será muito importante para voltar a criar empregos depois da chegada da vacina.”
“O que considero absolutamente urgente é que, com a crise do coronavírus ― mas não só, também com a crise climática e a crise alimentar, que sempre é esquecida, e a grande instabilidade econômica ―, sejam modificadas nossas instituições internacionais e nossas atitudes, e segurança global seja colocada à frente de nossas preocupações”, enfatiza Bertrand Badie, professor emérito do Instituto de Ciências Políticas em Paris. “A segurança global é a que afeta toda a humanidade e não só uma nação ou outra. É isso que faz com que o vírus seja mais ameaçador do que os tanques russos para a Europa.”
Badie, no entanto, acrescenta: “O que pode ocorrer é justamente o contrário: que a crise, em vez de levar a um fortalecimento da governança global, favoreça uma tensão neonacionalista no mundo todo. A eleição de novembro nos Estados Unidos mostrou uma incrível resistência do nacionalismo. O fato de 74 milhões de pessoas terem votado em Donald Trump é a prova de que o neonacionalismo já é um componente fundamental dos comportamentos políticos no mundo atual”.
“Em alguns lugares, a pandemia fortaleceu os autoritários”, assinala Anne Applebaum. “Quando as pessoas sentem medo, estão dispostas a aceitar coisas às quais, em tempos normais, fariam objeções. Não estou falando da coisa superficial dos confinamentos: todo mundo entende para que servem”, acrescenta. “Ao mesmo tempo, a pandemia foi uma prova do valor da ciência e da cooperação internacional. Finalmente sairemos desta, graças às vacinas. E de onde vêm as vacinas? São criadas por consórcios internacionais, pela cooperação germano-americana, por fábricas na Bélgica que exportam para toda a Europa. Todas as soluções para o problema envolvem cooperação internacional, cooperação científica e cooperação comercial. Deveria ser uma lição para os nacionalistas.”
Um risco em relação às vacinas são as teorias da conspiração que proliferaram durante a pandemia e atribuem aos imunizantes todos os tipos de males. Não é incomum que uma pandemia ― na qual o medo do desconhecido se soma à falta de harmonia de governantes que adotam medidas confusas e contraditórias ― seja um terreno fértil para teorias absurdas, algumas com fedor antissemita, que veem um complô para a instalação de um Governo mundial.
“A retórica antivacinas ganhou muita força. Como a palavra oficial ― da imprensa, da política, do mundo médico ― está desacreditada, muitas pessoas não vão querer ser vacinadas”, diz a historiadora Marie Peltier, autora de Obsession: Dans les Coulisses du Récit Complotiste (“obsessão: nos bastidores da narrativa conspiracionista”). “O conspiracionismo e seu impacto na realidade foram subestimados. Para acabar com uma pandemia, é necessária uma vacinação em massa. O problema não será só político, mas também sanitário.”
Sem as vacinas, não será possível reduzir o distanciamento físico nem retomar completamente as atividades. Em seu livro Les Capitalismes à l’Épreuve de la Pandémie (“os capitalismos postos à prova pela pandemia”), o veterano economista Robert Boyer alerta que quanto mais as medidas profiláticas forem prolongadas, mais difícil será restaurar a economia: “Apesar das ajudas em massa, as falências reduzirão a capacidade de produção e de emprego, empobrecerão os mais desfavorecidos, e os jovens dificilmente se integrarão à vida ativa, correm o risco de se ver penalizados de forma duradoura, sem esquecer que a queda dos investimentos hipoteca o crescimento futuro”.
“A tarefa prioritária dos Governos é restaurar até dezembro 2021 a confiança de ficar frente a frente”, diz Boyer por telefone. “A segurança sanitária é uma precondição para o reinício do crescimento. E isso ocorrerá depois de acontecimentos que podem ser dramáticos: mortalidade, incerteza, protestos pela liberdade”, acrescenta. “Uma terceira onda teria efeitos devastadores para a credibilidade dos governantes.”
Não sabemos o que encontraremos no desembarque. Em um dos cenários possíveis, deixaremos lentamente para trás a pandemia, que já matou mais de 1,7 milhão de pessoas e infectou 78 milhões. A economia voltará a andar depois da pior recessão em décadas. As democracias, depois que muitas delas administraram pessimamente a covid-19, resistirão aos ataques das forças autoritárias. Depois de recuar para as fronteiras nacionais quando o vírus ameaçou com mais força, as grandes potências e os grandes blocos econômicos buscarão novas formas de cooperação ― uma globalização com rosto humano ― e, escaldados pelo impacto que um fenômeno natural pode ter no planeta, redobrarão as medidas contra a mudança climática. A derrota de Trump nas eleições americanas de novembro anuncia o início do fim do nacionalismo populista, de sua retórica incendiária e suas teorias da conspiração.
É um cenário possível, mas não o único. No caso oposto, as campanhas de vacinação serão tão caóticas como foram a distribuição de máscaras no início da pandemia e, depois, a organização dos sistemas de rastreamento e teste. Quando os Governos suspenderem as ajudas milionárias para os trabalhadores e os setores mais afetados pela crise, as empresas quebrarão, o desemprego aumentará e as desigualdades dispararão. A volta das fronteiras para frear a expansão do vírus se tornará permanente. Os demagogos saberão aproveitar o descontentamento e darão as respostas que as democracias, transformadas em símbolo de mau governo e polarização, não terão conseguido oferecer. A resposta da China à pandemia estabelecerá as tecnocracias ditatoriais como modelo de eficácia.
Aterrissagem forçada? Ou suave? O ano de 2021 dificilmente reproduzirá ao pé da letra um dos dois cenários mencionados; é mais provável que se mova em uma zona cinzenta na qual nenhuma das duas tendências prevaleça.
Boris Cyrulnik, filho de judeus assassinados nos campos de extermínio nazistas, estuda há décadas o conceito de resiliência, a capacidade de superar a adversidade. É possível, diz ele, que a saída da pandemia signifique uma volta ao business as usual, como se nada tivesse mudado. Ou que nas ruínas da devastação sanitária e econômica surja um salvador, um ditador que agite os ressentimentos. Isso ocorreu em outras épocas de medo e caos. Mas há outra saída, diz o neuropsiquiatra e autor, entre outros, de La Nuit, j’Écrirai des Soleils (“à noite, escreverei sóis”).
“O sprint, a corrida constante, provoca estresse”, diz Cyrulnik. “É preciso redescobrir o prazer da lentidão, porque a lentidão protege, oferece o prazer de viver em paz.”
Marcelo Godoy: Documento de general expõe mapa da cloroquina e a 'cadeia de comando' para produzi-la
Em resposta ao TCU, comandante da 1.ª Região Militar detalhou quem foi responsável pelos pedidos e ordens para que o laboratório do Exército produzisse milhões de comprimidos
Caro leitor,
Enquanto Jair Bolsonaro exige até certificado de reservista para aprovar vacinas, coube ao general André Luiz Silveira, comandante da 1.ª Região Militar, no Rio, a tarefa de explicar por que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército (LQFEx) produziu mais de 2 milhões de comprimidos de cloroquina para combater a covid-19 se, desde março, o tratamento era contestado pela comunidade científica. O militar teve de justificar ao Tribunal de Contas União (TCU) também por que o insumo farmacêutico ativo - cloroquina difosfato - foi comprado na Índia por um preço em dólar 77% superior ao adquirido em 2019 pelo laboratório.
Após o estudo Solidarity, feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com 11 mil pacientes em 32 países e 400 hospitais, mostrar a inutilidade da cloroquina contra o vírus Sars-Cov 2, não há mais quem defenda a droga para tratar os doentes - exceto Jair Bolsonaro e os bolsonaristas. O general fez sua reposta em 31 de julho - antes da publicação do estudo da OMS. E usou a lei 13.979 e na MP 926/2020, que afrouxaram os critérios para as compras públicas na área da Saúde durante a pandemia, para se justificar.
A argumentação do general se baseou no fato de que cumpriu a legislação para a compra e afirmou que a variação do preço do produto se justificava pelo aumento do preço da mercadoria no mercado internacional. A história mostra ser comum o aparecimento de espertalhões diante do pânico da peste. O medo das epidemias e das doenças incuráveis é combustível para mercadores de esperanças. Há quem venda a cura da aids. Há quem ofereça remédio contra a covid-19. O presidente não queria que a economia parasse, que o desemprego aumentasse e sua reeleição fosse para o vinagre. Exigiu coragem dos maricas e divulgou a cloroquina.
Mas a lei só dispensa a licitação e reduz suas exigências para a "aquisição de insumos necessários ao combate á covid-19". Eis aqui o problema: é a cloroquina necessária para combater a covid-19? Se não serve, se havia dúvida razoável durante os atos do governo, a legalidade dos procedimentos de compra pode ser questionada? Essa é a lógica que estava por trás da apuração do TCU. Algo semelhante à aquisição de respiradores médicos inadequados para os pacientes com covid-19.
O general contou no ofício ao TCU - documento revelado pelo jornalista Luiz Fernando Toledo, no site Fiquem Sabendo - que o preço de US$ 230 por quilo do insumo farmacêutico era o valor de mercado do produto, incluindo o frete da Índia - onde é produzido - para o Brasil. No ano passado, o mesmo quilo valia US$ 130. Ao justificar a compra, o general foi além. Apontou toda a cadeia hierárquica responsável pela LQFEx ter produzido o medicamento, que tem validade de dois anos.
Diz que o governo mobilizou o Itamaraty - embaixada em Nova Deli - que informou que a empresa indiana Alcon Biosciences Pvt Ltd poderia fornecer 3 mil quilos ao Brasil. O general se queixou das notícias da imprensa e disse que LQFEx é uma repartição séria, que integra o Complexo Industrial da Saúde (CIS) com outros 20 laboratórios públicos. Ele produz medicamentos para doenças negligenciadas, como tuberculose e hansenpiase, que a indústria farmacêutica não tem interesse em fazer. E lamentou: "Infelizmente não há cicatrização social do dano causado pela desinformação provocada".
Em seguida, o general citou portarias dos Ministério da Saúde e da Defesa e a mensagem 116/2020, do Centro de Coordenação de Logística e Mobilização (CCML) do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), que pôs sob coordenação do EMCFA a cadeia produtiva e a distribuição de medicamentos para covid-19. Até aí, nada de mal. É o que ocorre em qualquer plano de mobilização. A polêmica começa com a nota informativa nº 5/2020 do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF), do Ministério da Saúde, que regulamentou o uso da cloroquina em casos graves.
A nota traz como justificativa para a medida quatro trabalhos. Dois deles são de pesquisadores de Marseille (França), do grupo do médico Didier Raoult, o homem que 'inventou' o uso da cloroquina contra a covid-19. Ele assina um dos trabalhos. Os outros dois são sobre os efeitos da droga em pacientes cardíacos e um que desaconselhava seu uso contra a covid-19. Este é da pesquisadora Rachel Riera, do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, do Hospital Sírio-Libanês (NTAS-HSL) e foi publicado no dia 20 de março, sete dias antes da nota do ministério.
Sobram, portanto, os trabalhos dos franceses. A atuação de Raoult e seus estudos sobre a covid-19 foram bombardeados pela comunidade científica francesa. O que era contestação aos métodos no início, virou há duas semanas em acusação de charlatanismo, com direito a processo no Conselho Francês de Medicina contra Raoult, conforme mostrou o jornal Le Monde. Foi com base em trabalhos de equipes ligadas a Raoult que o ministério liberou o uso da cloroquina para ser distribuída à rede SUS.
O general revelou em seguida o mapa da cloroquina. Contou que, sob a coordenação da Saúde e da Defesa, distribuiu-se 1 milhão de comprimidos de 150 mg em razão de pedidos feitos nos dias 13 e 28 de abril. São Paulo recebeu 316 mil. Em 2.º no ranking da cloroquina estava o Amazonas, com 160 mil comprimidos. Na época, Manaus enterrava os mortos em covas coletivas. O Rio ganhou 100 mil. Seis Estados ocuparam a última posição, com 5 mil comprimidos (Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Sergipe e Tocantins). Entre os militares, quem mais recebeu a droga foi a Marinha. O Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio, ficou com 16,8 mil comprimidos, número superior ao entregue a 11 Estados. Já o Hospital Central do Exército, também no Rio, ganhou 9,6 mil. E o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, 6,5 mil.
Em 20 de maio, o Ministério da Saúde expandiu o uso da cloroquina para casos leves. A medida foi feita por meio de nota informativa da secretaria executiva da pasta, ocupada pelo coronel Antônio Élcio Franco Filho, um dia antes. A nota lista mais de 40 trabalhos para justificar por que a cloroquina devia ser utilizada contra a covid-19. Mais uma vez estão ali quatro trabalhos do francês Raoult. Nenhum dos outros artigos atestava a eficácia do fármaco, exceto um feito por médicos militares espanhóis.
Em 7 de julho, o LQFEx mandou outra remessa de 1,024 milhão de comprimidos para os Estados. Desta vez, só 12 receberam a droga - o campeão foi o Rio Grande do Sul, com 323 mil comprimidos. São Paulo, Rio e Amazonas não constam da lista. Onze capitais foram agraciadas com o remédio. Vitoria (54 mil), Porto Velho (40 mil) e Maceió (30 mil) lideraram a lista. Para o general, não se podia exigir outra conduta do LQFEx diante das demandas e da convocação da Defesa. Para justificar a decisão de fabricar cloroquina, ele alegou não haver tratamento consagrado contra a covid-19 ou consenso na comunidade médica a respeito de seu uso.
Não é bem assim. Desde maio a cloroquina foi excluída pela OMS das opções de tratamento da doença, assim como pelos médicos que observam a ciência. Em junho, foi a vez da FDA americana revogar a licença para seu uso emergencial contra o coronavírus. Todos a consideram ineficaz, como a farinha dos placebos. E seu principal advogado - o francês Didier Raoult - se vê agora às voltas com as acusações de seus pares. Se há médicos que a recomendam no Brasil, é porque há bolsonaristas entre os médicos.
Por fim, o general afirmou que não poderia ser exigida outra conduta do LQFEx, alegando que a produção de cloroquina, "por seu baixíssimo custo", equivalia "a produzir esperança a milhões decorações aflitos com o avanço e os impactos da doença no Brasil e no mundo". O general resumiu o discurso do governo: produzir esperança para si e para os seus em vez de ciência. Ainda que isso signifique atrasar a vacinação - esta sim uma opção eficaz contra a covid-19. Bolsonaro diz não estar nem aí para o fato de uma dezena de países começarem a vacinar nesta semana. E é defendido por militares ouvidos pela coluna sob o argumento que ele está certo em exigir que as vacinas sejam seguras. Ninguém questiona por que os outros páises foram eficientes onde o Brasil fracassou.
Se o bolsonarismo não fosse esse estado de espírito que acredita em qualquer coisa que escuta, talvez tivessem razão os militares críticos ao governo que enxergam apenas cinismo nos colegas do partido militar interessados em se manter no poder. O homem que se diz preocupado com a segurança da vacina gastou milhões com uma "esperança" inútil, a cloroquina. Diante da ação do presidente, o ofício do general André Luiz Silveira mostra o mapa da droga e parte de sua cadeia de comando. É um desses documentos que a Justiça e a História deviam guardar. A primeira para indagar os chefes do general. A segunda para contar às gerações futuras como a pandemia chegou a 190 mil mortos no Brasil.
Demétrio Magnoli: Que vontade de nascer americano
Pela direita, mas também pela esquerda, a linguagem política brasileira mimetiza os temas, os argumentos e até os escândalos teatralizados da ‘guerra cultural’ que consome os EUA
‘Disseram que eu voltei americanizada, que não suporto mais o breque do pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuíca’. A Carmen Miranda “americanizada” de 1940, baiana caricatural da Broadway, não é nada perto do Brasil de 2020. Pela direita, mas também pela esquerda, a linguagem política brasileira mimetiza os temas, os argumentos e até os escândalos teatralizados da “guerra cultural” que consome os EUA.
O culto bolsonarista é uma religião de contrabando. Nos EUA, a ala reacionária do Partido Republicano definiu-se pela tríade “God, guns, gays”. Por aqui, uma extrema-direita sem tradição macaqueia a missa americana, organizando-se ao redor de bispos de negócios, difundindo a homofobia e erguendo a bandeira do “armamento do povo”. No rastro do plágio, o Partido Militar — isto é, os generais do Planalto, rendidos a um capitão arruaceiro — rasga as cartilhas antigas que ensinavam as lições da ordem, do planejamento, da hierarquia e da autoridade.
A direita voltou americanizada: não suporta mais a geometria do progresso de Benjamin Constant ou o sonho integrador de Cândido Rondon. Seus arautos marcham à sombra das bandeiras entrelaçadas dos EUA e de Israel, recitam os versos do America First e, hipnotizados por um guru místico, anunciam a batalha final contra os demônios gêmeos do “globalismo” e do “comunismo”. Eles inscreveram na pedra o ideal de um Brasil isolado, o “pária orgulhoso” de Ernesto Araújo, um missionário da Internacional Cristã, essa relíquia achada entre os destroços da Santa Aliança.
“Drill, baby, drill!” Sob a égide do negacionismo climático, a direita brasileira traduz o lema dos fanáticos perfuradores de poços americanos tocando fogo nas florestas da Amazônia e no Pantanal. O bolsonarismo fala uma língua estranha que pensa ser inglês.
“Nós dois lemos a Bíblia dia e noite, mas tu lês negro onde eu leio branco” (William Blake). A esquerda engajou-se no contrabando antes ainda da direita. Das universidades americanas, em contêineres lacrados, trouxe as políticas identitárias, a teoria racial crítica, a crença fundamental de que nosso gênero e a cor de nossa pele determinam implacavelmente nossas existências, ideias, conceitos e preconceitos.
Queima o que adoraste, adora o que queimaste. A esquerda reinventada, falsa baiana, renunciou às oposições tradicionais e instaurou novos contrapontos, que são essenciais e, portanto, imutáveis. No lugar de povo/elite ou proletariado/burguesia, entronizou as dicotomias mulher versus homem, homo versus hetero, preto versus branco. Daí, desistiu do horizonte da igualdade, substituindo-o pela reiteração perene da diferença. Escola pública de qualidade? Não: cotas raciais. Reforma das polícias? Não: reservas de gênero e raça no Congresso.
A esquerda brasileira já foi anarquista, modernista, cosmopolita, comunista, tropicalista e sindicalista — mas, em cada uma de suas encarnações, conservou-se fiel à convicção de que existe uma nação única, cozida no forno do passado. Não mais. #MeToo, #BlackLivesMatter: nossa esquerda vive a história dos outros e já nem sabe mais falar português.
É um duplo divórcio da realidade brasileira. A extrema-direita enxerga, em meio a brumas, uma nação sem leis ou instituições, habitada por colonos armados e pregadores puritanos agarrados a cruzes: os EUA imaginários do faroeste. A esquerda, por sua vez, confunde seu país com um outro: os EUA das Leis Jim Crow, da segregação legalizada, do censo que classifica as pessoas em categorias raciais estanques.
Nas franjas, a imitação rompe os últimos diques. Surge, pela primeira vez, um movimento antivacinal no Brasil. Mais realistas que o rei — e em contraste com o próprio Trump, herói maior —, seus militantes copiam o individualismo anárquico dos libertários da extrema-direita americana. Simetricamente, pela esquerda, o “colorismo” ultrarracialista exige a troca de “negros” por “pretos”, e os mensageiros radicais das políticas identitárias adicionam letrinhas misteriosas à sigla LGBT para instituir “lugares de fala” cada vez mais exclusivistas.
Viva Carmen Miranda. Feliz 2021.
Cacá Diegues: O futuro vem aí
Faz parte dessa esperança sabermos que nem todos nos farão de trouxas e que a Fiocruz se recusou a dar, na distribuição das vacinas, a prioridade pedida pelo STF
Por falar em Natal, alguma coisa está mudando em nossos corações. O ano de 2020, por tudo o que aconteceu, talvez tenha sido o pior ano de nossas vidas. Mortes e separações, perda de emprego e falta de dinheiro, os amigos que não temos mais porque sucumbiram à Covid ou porque nunca mais abraçamos por causa da porra do vírus, a solidão provocada pelo temor do contágio. Tanta coisa nos aconteceu e nenhuma delas nos fez mais felizes.
Até a política, que sempre cultivamos como fofoca, nos faltou. É difícil fofocar, rir ou xingar no meio de outros papos, quando o cara disfarça a incompetência e o narcisismo por trás de uma afirmação machista, como a da “gripezinha” ou a do “país de maricas”. Ou quando ele, em plena discussão das vacinas, às vésperas de nossa redenção, da garantia ou da esperança de nossa sobrevivência, jura que não vai se vacinar e ponto final. Prefere inaugurar, com pompa e circunstância, na presença de ministros e funcionários, uma exibição exibicionista das vestes que ele e Michelle usaram na posse, como se isso tivesse alguma importância para nós ou para a História. Quem votou nele porque era um impávido colosso, um homem simples e modesto, igual a qualquer um de nós, deve estar uma fera.
Numa hora dessa, nada disso tem mais importância. O que importa é a nossa esperança, o que a gente acredita que vai passar, vai melhorar embora não saibamos direito como. Como nossa Fernanda Montenegro diante do mar e do sol que nasce generoso do outro lado da praia.
Faz parte dessa esperança sabermos que nem todos nos farão de trouxas e que a Fiocruz se recusou a dar, na distribuição das vacinas, a prioridade pedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme disse Stuart Mill (que não era de esquerda, nem de direita), em meados do século XIX: o direito de um cessa quando perturba o direito dos outros. Eles que entrem na fila, como todo brasileiro terá que fazer ao longo desses primeiros meses de 2021. Um ano para o qual devemos sorrir com afeto, pois esse é o nosso futuro e é preciso confiar nele.
Quando terminar a pandemia, perceberemos com toda clareza as mudanças em nosso comportamento, as transformações culturais provocadas por ela no ser humano de cada canto do planeta. É cedo para falar dessas mudanças culturais, podemos tentar adivinhá-las, mas ainda não sabemos nem como termina a pandemia.
No Brasil, a tragédia mais grave neste momento é a do desmatamento cultural, o empenho em destruir nas expressões culturais do país tudo aquilo que representamos de fato e que representa nosso comportamento e nossa existência, o que na verdade somos. Para nós, os brasileiros foram sempre os outros, nos acostumamos a nos referir a eles na terceira pessoa, nunca os tratando como “nós”. Ainda assim, o Brasil é a nossa obsessão, vivemos inventando teorias para tentar explicá-lo. Somos o único país do mundo luso-afro-ameríndio e devíamos estar aproveitando essa novidade tão original e rara.
A pandemia nos ensinou algumas lições que havíamos esquecido. Como, por exemplo, viver na solidão como fomos gerados e viemos ao mundo, nosso compulsório destino. Por mais que contemos com a arte e a ciência dos outros, somos nós que fazemos nossas escolhas e tomamos nossas próprias decisões. Somos nós os responsáveis pelo nosso destino, mesmo que não tomemos conhecimento dele. Mas podemos contar com a força e o consolo do outro, a solidariedade de quem nos ama, e tomara que sejam muitos os que nos amam. Se além disso estivermos atentos ao inesperado, ao acaso responsável por quase tudo que acontece, temos uma grande chance de nos sairmos bem na vida. Pois é assim que se dá fora de nós, no mundo físico, mesmo que às vezes demore a acontecer.
Em 2021, não deixaremos que nada nos leve a alegria de viver, nossa esperança nas coisas da vida e do mundo. Tentaremos ser mais justos e mais amorosos, como sempre foi o mestre pensador sacrificado na cruz. Mesmo os que não acreditam em seu caráter divino, não poderão negar que o que ele pensou e disse mudou a humanidade nesses últimos dois mil e vinte anos. E continua mudando, mesmo que muitos tentem, em nome dele e em vão, praticar erros, equívocos e maldades. Inúteis alterações perversas de tudo o que ele dizia a respeito de nós, de tudo o que ele dizia esperar de nós.
Vamos nos preparar para o futuro — ele começa no ano que vem, daqui a uma semana.
Sergio Lamucci: Os custos da falta de um plano para a vacinação
Um planejamento minimamente adequado conseguiria poupar muitas vidas, além de contribuir para a retomada da economia
Enquanto os EUA e vários países da Europa, da América Latina e do Oriente Médio já iniciaram a vacinação contra a covid-19, o Brasil fica para trás, sem um plano claro e definido para a imunização. Por aqui, o presidente Jair Bolsonaro se empenha numa campanha de desinformação contra a vacina. Diz que não vai se vacinar, lança dúvidas sobre a Coronavac, desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan e pela chinesa Sinovac, e afirma não ter pressa em iniciar a vacinação, num país em que já morreram mais de 191 mil pessoas pela doença. Além da tragédia da perda de muitas vidas, a demora tende a prejudicar a retomada da economia, que já vai enfrentar outros ventos contrários em 2021.
A vacinação em massa é o caminho mais eficaz para deter a doença. Diante disso, a estratégia óbvia de grande parte dos países foi planejar com antecedência a aquisição de vacinas para imunizar uma parcela expressiva de sua população, começando o processo o mais rápido possível. Não foi o que fez o governo Bolsonaro. No sábado, o presidente disse que não se sentia pressionado pelo fato de outros países já terem iniciado a vacinação, afirmando não dar “bola para isso”. Em 19 de dezembro, havia dito que “a pressa pela vacina não se justifica”, no mesmo dia em que vaticinou que a “pandemia estava chegando ao fim”. Ontem, porém, afirmou ter “pressa em obter uma vacina, segura, eficaz e com qualidade, fabricada por laboratórios devidamente certificados”, mas que a questão da responsabilidade por reações adversas é “um tema de grande impacto e que precisa ser muito bem esclarecido”.
A coleção de disparates de Bolsonaro a respeito do tema é ampla. Alguns dos mais graves são as seguidas declarações de que não pretende se vacinar, as críticas à imunização obrigatória e as ironias sobre a Coronavac. O presidente, que assinou uma medida provisória (MP) destinando R$ 20 bilhões para a compra da vacina, contribui ativamente para a campanha de desinformação sobre o assunto, que corre solta nas redes sociais e em grupos de WhatsApp.
Pesquisa feita pelo Datafolha neste mês mostra que 22% dos entrevistados não pretendem se vacinar contra a covid-19, percentual que era de 9% em agosto. Um terço dos ouvidos pelo instituto que afirmam confiar sempre em Bolsonaro diz que não vai tomar o imunizante. Além disso, metade dos entrevistados informa que não tomará uma vacina da China. Se uma parcela expressiva da população resiste a se vacinar, é mais difícil evitar a disseminação da doença.
O atraso na vacinação deverá ter consequências negativas para a economia. O maior otimismo em relação à atividade econômica global em 2021, especialmente no segundo semestre, se deve à expectativa de que uma parte expressiva da população em muitos países será imunizada. Se o Brasil ficar para trás nessa corrida, a retomada por aqui vai enfrentar um obstáculo importante.
Na visão dos analistas, o recrudescimento da covid-19 é um dos fatores que podem atrapalhar a recuperação da economia em 2021, num cenário em que as incertezas em relação às contas públicas e o fim do auxílio emergencial tendem a afetar o ritmo de expansão da atividade.
O Itaú Unibanco, por exemplo, estima que a economia brasileira deverá crescer no segundo trimestre 0,2% em relação ao trimestre anterior, feito o ajuste sazonal, considerando uma média diária de 400 óbitos pela covid-19 no fim desse período. No entanto, se a média de mortes por dia no fim do primeiro trimestre ficar em 600, pode haver uma retração do PIB de 1,2% nos três primeiros meses do ano, calcula o banco.
Segundo o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita, o que se observou é que “a mortalidade afeta a atividade diretamente, porque as pessoas passam a circular menos e usar menos serviços que implicam aglomeração, mesmo antes de qualquer restrição por parte das autoridades”. Além disso, “elas passam a poupar mais também, pelo efeito precaucional”, diz Mesquita. A média de mortes nos últimos sete dias ficou em 625, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa.
Ainda que não se esperem restrições à mobilidade tão fortes como as adotadas no começo da pandemia, em março e abril, esse movimento deverá ter um impacto negativo sobre a economia brasileira.
Em relatório, o Itaú Unibanco nota que continua a haver “um aumento acelerado na curva de novos casos um pouco mais lento na curva de novas mortes”, com base em números disponíveis até 22 de dezembro. “A utilização de capacidade hospitalar no país segue aumentando. O Estado de São Paulo anunciou a adoção da ‘fase vermelha’ durante os feriados de fim de ano, buscando reduzir o contágio em encontros sociais. É provável que outras regiões do país tomem decisões similares”, afirma o banco.
Se o número de casos e mortes continuar a crescer ou se mantiver em níveis elevados, os segmentos de serviços que exigem maior interação social vão sofrer. É o caso dos setores de alojamento e alimentação, que incluem turismo, bares e restaurantes, e dos serviços prestados a famílias. São segmentos que empregam muita mão de obra.
Com o fim do auxílio emergencial, a recuperação do mercado de trabalho é fundamental para a economia não sofrer um baque muito forte. Desse modo, promover uma vacinação rápida e ampla é a melhor resposta também do ponto de vista econômico. Bolsonaro, porém, continua a tratar a pandemia com descaso. No caso das vacinas, também politizou ao máximo a discussão, por causa de sua disputa política com o governador João Doria (PSDB).
Em São Paulo, o plano do governo paulista é começar a vacinação em 25 de janeiro, mas o adiamento da divulgação do índice de eficácia da Coronavac, que teria ocorrido a pedido da Sinovac, levantou dúvidas a respeito da viabilidade do cronograma. Em entrevista à TV Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que até o fim de janeiro haverá “vacinas iniciais, algumas em caráter emergencial, e a vacinação em massa, já com registro, a partir de fevereiro”.
Como se vê, o Brasil começará a vacinação atrasado em relação a outros países, e não está claro qual fatia da população será atendida ao longo de 2021. Um planejamento minimamente adequado conseguiria poupar muitas vidas, além de contribuir para a retomada da economia.
Bruno Carazza: Nossas vidas nunca mais serão as mesmas
Em breve superaremos a gripe espanhola em número de mortes
14 de março de 2020. Nesse dia eu tive um pressentimento de que nossas vidas nunca mais seriam as mesmas.
É claro que, como a maior parte dos brasileiros, eu vinha acompanhando as notícias sobre o novo coronavírus. A doença havia chegado há algumas semanas por aqui, e o número de casos confirmados pelo Ministério da Saúde vinha subindo dia a dia - mas ainda eram apenas 362, sem nenhuma morte até então.
Àquela altura a covid-19 já avançava com força na Europa, a ponto de a Organização Mundial de Saúde ter declarado no dia 11 de março que se tratava de uma pandemia. Com quatro “circuit breakers”, a bolsa naquela semana caiu 15,6%, na pior semana desde a crise de 2008, e mesmo assim eu não me abalava.
A ficha caiu quando ouvi uma entrevista de Donald G. McNeil Jr., repórter de ciência do “The New York Times” que já havia feito coberturas sobre epidemias nos quatro cantos do mundo. Ao participar do podcast “The Daily”, o jornalista revelou que, pelo o que havia apurado junto a diversos cientistas, o novo coronavírus poderia ser tão letal quanto a gripe espanhola de 1918.
“Se nada for feito, todos nós perderemos pelo menos uma pessoa próxima por covid-19”, foi a frase que ficou na minha memória.
Naquele mesmo dia 14 de março em que ouvi o episódio com o jornalista do “NYT” compareci à festa de aniversário de um grande amigo - e aquela foi a última vez que fui a um bar. Lá, recebi uma mensagem por WhatsApp informando que a faculdade em que trabalho havia suspendido as aulas preventivamente. Daí pra frente minha vida nunca mais foi a mesma.
Num depoimento dado em 1977, no longínquo ano em que nasci, o artista plástico Abraham Palatnik parecia profetizar o que vivemos em 2020. “O ser humano representa um grande investimento em estudo e aprendizagem ao longo de dezenas de anos. Desprezar esta vantagem seria uma degradação da própria natureza do homem e um desperdício de suas potencialidades.”
O desdém pela ciência, expresso inúmeras vezes pelo presidente da República, cobrou seu preço. “Cenas de terror e tensão, fuga na terra, ira no céu”, cantavam ainda no início da carreira os Titãs, tendo entre eles o punk Ciro Pessoa. “Tomaram tudo o que tínhamos”, clamava o líder Aritana Yawalapati, um dos últimos falantes do idioma tradicional do seu povo, no Alto Xingu.
“Nós estamos órfãos de um projeto nacional. (...) Nós fomos achando que é possível tocar o futuro sem discutir o futuro”, criticou certa vez o ex-reitor da UFRJ e ex-presidente do BNDES Carlos Lessa.
Como o limpador de vidraças do conto “Um discurso sobre o método”, de Sérgio Sant’Anna, estamos suspensos no tempo, sem orientações claras sobre novas medidas de distanciamento social ou ações rápidas para a obtenção de vacinas. “Ele era um homem que vivia nas imediações do presente, pois o passado não lhe trazia nenhuma recordação agradável, em especial, e o futuro era melhor não prevê-lo, de tão previsível”.
Muitos sucumbiram diante da indefinição. Alguns de modo resignado, como na canção de Paulinho do Roupa Nova: “E a hora vai chegar; já não sei como evitar. Eu não vou mais fugir, é tempo de encarar”.
“Daqui dou o viver já por vivido”, sentenciou a poetisa Olga Savary na sua Sextilha Camoniana.
“Pela fresta, é possível ver o céu azul. Acho que atravessei esta porta”. Algodão-doce para você, inesquecível Daniel Azulay.
“Passei o bastão pra vocês, agora sigam e sejam felizes”, disse a atriz Nicette Bruno a seus filhos, mas o conselho serve a cada um de nós.
“Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente”, nos ensinou Aldir Blanc num hino de outros tempos, mais atual do que nunca. “A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar”.
Enquanto escrevo esta coluna, o Brasil registra 190.795 mortes oficiais por covid-19. De acordo com a última pesquisa Datafolha, 8 em cada 10 brasileiros pegou ou conhece alguém próximo que foi contaminado pelo novo coronavírus.
Estudiosos estimam que as duas grandes ondas de gripe espanhola que atingiram o Brasil entre 1918 e 1919 mataram em torno de 35.000 pessoas. Segundo o IBGE, nesta mesma época o Brasil possuía em torno de 30 milhões de habitantes. Grosso modo, pouco mais de 0,1% dos brasileiros sucumbiram à doença.
Um século depois, o país possui pouco mais de 210 milhões. A continuar o ritmo atual de evolução, em breve a covid-19 terá matado o mesmo tanto que a gripe espanhola, em termos proporcionais.
O descaso com a saúde pública no atual governo jogou por terra todo o avanço de higiene, tecnologia e políticas públicas de um século.
As retrospectivas do ano de 2020, a serem veiculadas nos próximos dias, vão precisar de tempo e espaço extra para retratar tantas perdas inestimáveis - inclusive as dez personalidades que eu mencionei expressamente acima.
No meu caso, a profecia do repórter do “The New York Times” se cumpriu na noite do dia 25 de outubro. Sebastião Fernandes Pereira era um grande amigo da minha família, com o qual convivi desde os meus 10 anos de idade.
De riso fácil e conversa atenciosa, deixou órfãos milhares de pessoas que recorriam a ele para buscar conforto e conselho para suas dores da alma.
Tiãozinho virou estatística da covid, mas a falta que ele deixou não tem medida. Por meio dele homenageio as vítimas da doença que marcou este ano, seus familiares e amigos.
Até 2021.
*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”.
Celso Rocha de Barros: Em ano trágico, livros sobre política foram ótimos
Ano teve competidores nacionais excelentes; lista não tem estrangeiros
Minha lista anual nunca incluiu reedições de clássicos, mas a coletânea “Por um Feminismo Afro-latino-americano”, que reúne textos da historiadora e filósofa negra Lélia Gonzalez editados por Flávia Rios e Márcia Lima, tem que ser citada porque grande parte do público ainda não sabe que a autora é clássica.
“Raça e Eleições no Brasil”, de Luiz Augusto Campos e Carlos Machado, é um trabalho muito inteligente de ciência política sobre as dificuldades de inserção dos negros no sistema eleitoral brasileiro, um tema cada vez mais quente.
“Mãe Pátria”, de Paula Ramón, é um belo relato, em tom pessoal, sobre a tragédia venezuelana recente. Não é antiesquerdismo, é só uma história real que a esquerda deveria levar a sério.
“A Bailarina da Morte”, de Lilia Schwarcz e Heloisa Starling, fala da pandemia de gripe espanhola do início do século 20 e sugere semelhanças assustadoras com a tragédia brasileira atual. Tive a impressão, entretanto, que mesmo as autoridades incompetentes da República Velha teriam comprado vacina para os brasileiros, se ela existisse na época.
Por algum motivo inexplicável, desde 2018 cresceu o interesse dos autores brasileiros pela história do Integralismo, a versão brasileira do fascismo nos anos 30. “Fascismo à Brasileira”, de Pedro Doria, conta a história do movimento com foco na trajetória de seu fundador, Plínio Salgado. “O Fascismo em Camisas Verdes”, de Leandro Pereira Gonçalves e Odilon Caldeira Neto, se destaca pela história da apropriação do legado dos integralistas até o dia de hoje.
“A República das Milícias”, de Bruno Paes Manso, é o estudo mais amplo e detalhado já publicado sobre essa forma de domínio territorial criminoso e suas ramificações políticas.
Mudando completamente de assunto, “O Brasil Dobrou à Direita”, de Jairo Nicolau, analisa detalhadamente dados sobre a eleição presidencial de 2018.
“A Máquina do Ódio”, de Patrícia Campos Mello, é o primeiro grande registro histórico da ofensiva autoritária pós-2018, lá onde ela já está avançada: na guerra à imprensa livre, realizada por campanhas de ódio e tentativas de estrangulamento financeiro.
“Ponto-final”, de Marcos Nobre, é uma análise do Bolsonarismo na pandemia, escrita “à quente”, no meio do ano. O argumento sobreviveu bem aos meses seguintes.
“As Políticas da Política”, organizado por Marta Arretche, Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria, reúne estudos que comparam políticas públicas dos governos tucanos e petistas. O livro gerou bons debates e, em 2020, deu saudade de dois momentos em que o Brasil teve governo.
“The Volatility Curse” (“A Maldição da Volatilidade”), de Daniela Campello e Cesar Zucco, mostrou como os resultados eleitorais brasileiros são correlacionados com os ciclos e choques da economia internacional e como isso pode prejudicar a capacidade dos eleitores avaliarem bem os governantes.
Em um ano de competidores nacionais excelentes, a ponto de não haver nenhum estrangeiro na lista, o melhor livro de política foi “A Organização”, de Malu Gaspar, que conta a história política da empreiteira Odebrecht. Um estudo de caso detalhado e, às vezes, chocante, sobre economia política brasileira, corrupção e os desafios da reforma de nossa democracia.
*Celso Rocha de Barros, é doutor em sociologia pela Universidade de Oxford (Inglaterra)
Marco Antonio Villa: Bolsonaro é a maior ameaça à democracia
Às Forças Armadas, o presidente fomenta a indisciplina dos oficiais com a intenção de ter apoio para uma aventura golpista
Jair Bolsonaro encerra politicamente o terrível ano de 2020 da mesma forma como iniciou. Conspirando diuturnamente contra o Estado Democrático de Direito. Se a prisão, em junho, de Fabrício Queiroz, interrompeu a marcha golpista, nos últimos dias de dezembro, Bolsonaro voltou à carga. Atacou a imprensa, ameaçou jornalistas, desqualificou a importância da informação livre e responsável, caluniou ministros do STF — como na sua live do dia 17, quando afirmou que o ex-ministro Celso de Mello é defensor da poligamia —, caluniou o deputado Rodrigo Maia imputando a ele uma suposta ação contra o décimo-terceiro pagamento do Bolsa-Família — acabou sendo desmentido não só pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, como também pelo ministro da Economia Paulo Guedes.
As agressões sistemáticas às instituições geralmente ocorreram em atos públicos — excetuando as lives, obviamente — onde encontrou plateias amestradas, inclusive em próprios da União, especialmente das Forças Armadas. Há uma clara estratégia de, ao mesmo tempo em que solapa os princípios da Constituição de 1988, buscar sempre um lócus adequado de onde pronuncia seus vitupérios. A escolha recai geralmente nas cerimônias das Forças Armadas. Lá fomenta a indisciplina dos oficiais e busca aparentar que detém apoio para uma aventura golpista. Já com os policiais militares insinua que podem se transformar em milícias auxiliares do seu projeto autoritário. Um exemplo: o violento ataque à imprensa e às instituições na cerimônia de formatura de soldados da PM fluminense, em 18 de dezembro.
Diferentemente dos atos antidemocráticos que promoveu no primeiro semestre — e que estão sendo investigados no STF —, desta vez há um agravante: não há como esconder o avanço da Covid-19, seus efeitos — mais de sete milhões de infectados e 190 mil óbitos —, a irresponsável conspiração contra a vacinação, isto em um cenário que aponta um rápido avanço da pandemia. Tudo caminha para uma confluência de crises: a institucional, a sanitária e a econômica. É uma tragédia anunciada. Bolsonaro necessita, para sobreviver politicamente e esconder o desastre do seu governo, confrontar e ameaçar as instituições, apontando até, no limite, para um golpe. A pandemia tende a ficar incontrolável no primeiro trimestre do próximo ano. E a economia caminha para uma recuperação tímida, muito abaixo do que seria necessário frente ao tombo de 2020. É o cenário perfeito para a explosão de uma crise social. Quem viver verá.
Ricardo Noblat: Tenebrosas transações pavimentam a eleição na Câmara
A Nova Política a pleno vapor
Quem diria que no governo do ex-capitão Jair Bolsonaro a Operação Lava Jato seria largada ao Deus dará, ao sol e à chuva para se desidratar. Largada, não: a palavra certa é esvaziada, nos seus estertores, a um passo de sucumbir.
Afinal, Bolsonaro pegou carona nos feitos da Lava Jato para se eleger presidente da República. Prometeu mundos e fundos para atrair a companhia do ex-juiz Sérgio Moro. E bradou que com ele no poder, o combate à corrupção jamais teria fim.
Há muitas formas de corromper, e nem todas tipificam crimes previstos no Código Penal Brasileiro. Exemplo? O loteamento de cargos no governo em troca de aprovação de matérias do seu interesse no Congresso. O é dando que se recebe.
É natural que partidos identificados com as ideias do governo dele possam participar. Presidente algum governa sozinho. Até ditadores precisam de ajuda para governar. Outra coisa é distribuir cargos no varejo para alcançar determinados fins.
No momento, é o que ocorre com a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Bolsonaro carece ali de votos para eleger Arthur Lyra (PP-AL), seu candidato à sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ). Fazer então o quê? Acenar com cargos.
Não está em discussão à vista de todos medidas para atenuar os mais graves problemas do país. Esperar que se discutisse algo ambicioso, um projeto de país pós-pandemia – por que não? -, seria exigir demais dos medíocres personagens em cena.
Tudo se resume a: o presidente da Câmara é quem manda na pauta. É ele quem define o que será votado, como e quando. Pode ser pressionado a pôr em votação o que não quer, mas tem meios e modos para tentar impor sua vontade.
É um cargo-chave para quem governa. Daí porque os presidentes da República procuram manter uma relação amistosa com quem preside a Câmara. Se for um aliado, tanto melhor. Bolsonaro quer um presidente da Câmara servil.
E para isso está disposto a pagar qualquer preço. Liberar o pagamento de emendas parlamentares ao Orçamento da União? Moleza. De resto, é obrigatório. Só que a liberação sairá mais rápida se o autor ou autores da emenda votarem em Lira.
Dir-se-á que os presidentes que antecederam Bolsonaro agiram assim. Mas nenhum deles submeteu-se ao voto popular garantindo que faria o contrário – Bolsonaro submeteu-se. A Velha Política daria vez à Nova, não lembra? Já esqueceu?
É conveniente esquecer como Bolsonaro o fez, como fizeram os generais que o cercam e que sempre mantiveram distância das figurinhas do Congresso encrencadas com a Justiça, mas dispostas a se encrencarem mais se o prêmio compensar.
Há um lote de centenas de cargos a serem repartidos com quem se disponha a apoiar Lira, por sinal um político que responde a processos, assim como boa parte dos seus pares. Cargos para chamar de seus e para facilitar futuras negociatas.
Outra vez, ao povo cabe assistir, bestificado, tenebrosas transações.
Carlos Pereira: Subserviência do Legislativo?
Alinhamento entre os chefes do Executivo e do Legislativo não se traduz em autocracia
Tem existido uma crescente preocupação com a possibilidade de vitória de Arthur Lira (PP), candidato apoiado pelo Presidente Jair Bolsonaro, na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Esse desassossego não é totalmente destituído de razão, pois o alinhamento político entre chefes do Executivo e do Legislativo sempre traz o risco de subserviência do poder Legislativo ao já extremamente poderoso Executivo no Brasil.
Alguns, inclusive, enxergam que esta suposta subordinação do Legislativo ao Executivo traria perigos reais para a própria democracia brasileira. Essa preocupação ficou explícita no discurso de lançamento do deputado Baleia Rossi (MDB) como candidato de oposição ao governo Bolsonaro à presidência da Câmara. A narrativa construída buscou inspiração no “pai” da democracia brasileira e da “Constituição cidadã”, Ulysses Guimarães, repetindo o mote: “temos ódio e nojo da ditadura”.
O cientista político Scott Morgenstern, Professor da Universidade de Pittsburgh, propõe uma tipologia para entender quando legislativos seriam proativos, situação na qual seria a força preponderante no processo de formulação e de aprovação das leis, ou reativos, quando o Legislativo raramente inicia uma legislação, atuando fundamentalmente em negociações ao reagir a iniciativas legislativas preponderantemente do Executivo.
Para Morgenstern, os legislativos na América Latina são de três perfis; 1) subserviente: não oferece qualquer veto ou resistência ao Executivo, inclusive aos seus potenciais desvios; 2) cooperativo: frequentemente concordando com projetos presidenciais, mas geralmente exigindo compromissos ou recompensas em troca do consentimento; e 3) recalcitrante: bloqueia a maioria das iniciativas do Executivo se posicionando como adversário do presidente.
O alinhamento político entre os chefes do Executivo e do Legislativo não é condição suficiente para definir o perfil de atuação do Legislativo. Outros aspectos como sua profissionalização, padrão de carreira dos parlamentares e a proximidade de interesses entre o Executivo e o legislativo exercem papel decisivo no perfil e no padrão de atuação do Congresso vis-à-vis o Executivo.
Legislativos que apresentam pouca profissionalização e baixo índice de reeleição tendem a ser subservientes. Por outro lado, quanto maior a motivação dos legisladores em permanecer no Legislativo e maiores os incentivos à sua profissionalização, mais proativo e influente será o Legislativo. Quando o governo não desfruta de maioria no Congresso, legislativos podem apresentar um padrão cooperativo com o Executivo ou mesmo migrar para o perfil recalcitrante com os interesses do Executivo em caso de polarização entre governo e oposição.
O alinhamento político entre os poderes legislativo e executivo tem sido a regra e não a exceção no Brasil. Todos os presidentes da República que minimamente entenderam o funcionamento do presidencialismo multipartidário, fossem eles de esquerda, de centro ou de direita, atuaram ativamente para que a presidência das casas legislativas fosse ocupada por parlamentares do seu partido, ou, pelo menos, de partidos da coalizão. Portanto, não tem necessariamente nada de antidemocrático em o presidente buscar a congruência de interesses entre o Executivo e o Legislativo.
É precipitado concluir que o Legislativo seria uma “vítima indefesa” dos poderes do presidente, pois, na medida em que esses poderes foram delegados pelos próprios legisladores, podem ser por eles também retirados. Um bom exemplo foi a restrição imposta pelos legisladores em 2001 à reedição indefinida de Medidas Provisórias, que aconteceu quando, pasmem, o presidente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves (PSDB), era do mesmo partido do Presidente FHC. Ou seja, a despeito de um alinhamento político com o Executivo, o Congresso não se furtou em restringir os poderes do presidente.
*Cientista Político e professor titular da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV Ebape)
Fernando Gabeira: Olhar para a frente, sem raiva
O que dirá se avançamos ou não em 2021 é a coexistência de duas variáveis: o aumento no número de pessoas vacinadas e decréscimo nas contaminações
Andei levando pancadas na rede. São os mesmos de sempre como dizia o personagem de “Esperando Godot”.
Durante muitos anos, quase que solitariamente apontei os erros que poderiam nos conduzir ao desastre.
A ausência de autocrítica os leva a buscar, compulsivamente, culpados, como se eu fosse responsável por Bolsonaro e não os seus erros cometidos aos longo dos anos. Aliás, já os enfrentei em eleições como aliados de Sérgio Cabral.
Jamais votaria num Bolsonaro, conheço-o bem. Ao longo dos anos, mantive-me fiel a Marina Silva, no passado, vítima de impiedosa campanha do PT.
Apenas afirmei, assim que eleito, esperar que as instituições brasileiras triunfassem sobre Bolsonaro. A pandemia não estava nos cálculos, e sim o golpe de estado.
Quando senti a ameaça próxima de golpe, a denunciei e dispus-me a lutar contra, como se fosse a última luta de minha vida.
As pancadas me ensinam o avesso da lição. Elas me aconselham abertura para quem confiava resiliência democrática, para quem combateu Bolsonaro de forma ineficaz, para quem se absteve, votou em branco e até os que o elegeram e recuam horrorizados, diante do resultado de sua escolha.
É um caminho mais produtivo do que distribuir culpas.
Num grupo que discutiu o livro “O discurso da estupidez”, de Mauro Mendes Dias, recebi esta mensagem:
— Reflexão muito bem-vinda. Quanto mais pessoas puderem reconhecer a necessidade de mudar de posição, já estamos avançando. Um dos efeitos do discurso da estupidez é, exatamente, o de não poder mudar, seja pela devoção a crenças deformantes da realidade, seja devido ao gosto que ele suscita pela destruição do patrimônio de valores que nos tornam humanos.”
Nos tempos de internet, sempre haverá esses ataques maciços. É uma cultura: basta tirar uma frase do contexto. O importante é olhar para frente, sem raiva.
Diante de nós surge a esperança da vacina. O Brasil tem um bom sistema de imunização, dois centros de excelência para fabricá-la: Instituto Butantan e Fundação Oswaldo Cruz.
Mas há um grande obstáculo: o próprio Bolsonaro. Sua tática de sabotar a vacina é espalhar mitos como o perigo de a pessoa virar jacaré.
Além de cobrar a eficácia do processo, será necessária uma batalha pelas mentes e corações.
O que dirá se avançamos ou não em 2021 é a coexistência de duas variáveis: o aumento no número de pessoas vacinadas e decréscimo nas contaminações.
Um outro front onde será preciso unidade: a eleição na Câmara, de um modo geral, distante, intangível.
Naturalmente é uma escolha interna dos deputados, mas desta vez significa muito. Se Bolsonaro conseguir capturar a Câmara e eleger seu candidato, não precisará responder pelas acusações acumuladas, muito menos pelas que pode suscitar no futuro.
Daí a importância de se apoiar a Frente Democrática formada para eleger um candidato independente do governo.
Ela é um instrumento de maturidade política na qual desaparecem, ainda que momentaneamente, todos os ressentimentos. Abre caminho para experiências mais amplas de unidade, que podem ser decisivas para acabar com o pesadelo.
Constituída por diversas correntes de um só partido, esta unidade foi criada nos Estados Unidos e teve êxito na tarefa de evitar a reeleição de Trump.
O interessante é que ao passar por uma experiência quase tão devastadora como estamos passando no Brasil, foi possível mobilizar a partir de um tema que parece abstrato e etéreo: a reconquista da alma do país. Para Biden, a alma representa os valores e instituições americanos.
Os países têm alma e ela pode ser reconquistada? É algo que daria uma longa discussão. Muitas pessoas que viram o show do Caetano Veloso, por exemplo, sentiram-se de volta ao seu país perdido. Outras manifestações artísticas podem ter o mesmo efeito num Brasil tão diverso. É apenas uma pista.
A outra, se me permitem a rápida menção ao período de festas, é que já fomos mais fraternos, apesar das divergências. No tempo da luta pelas diretas, por exemplo.
O que se perdeu com a política pode ser reconquistado através dela. Pelo menos, são os meus votos.