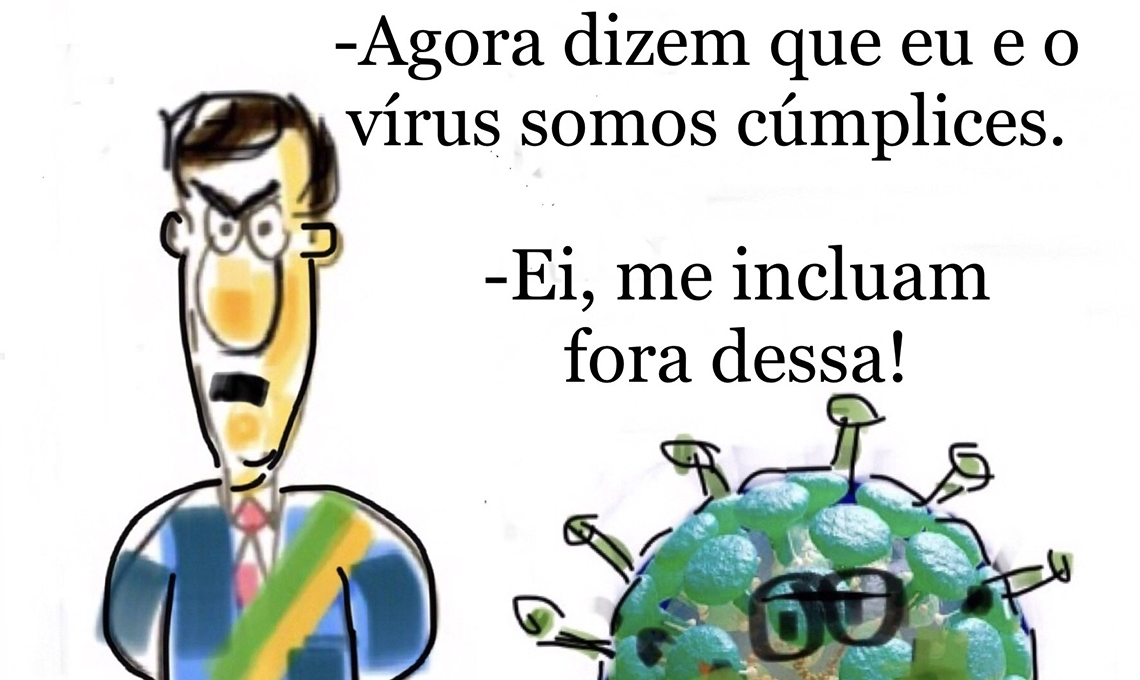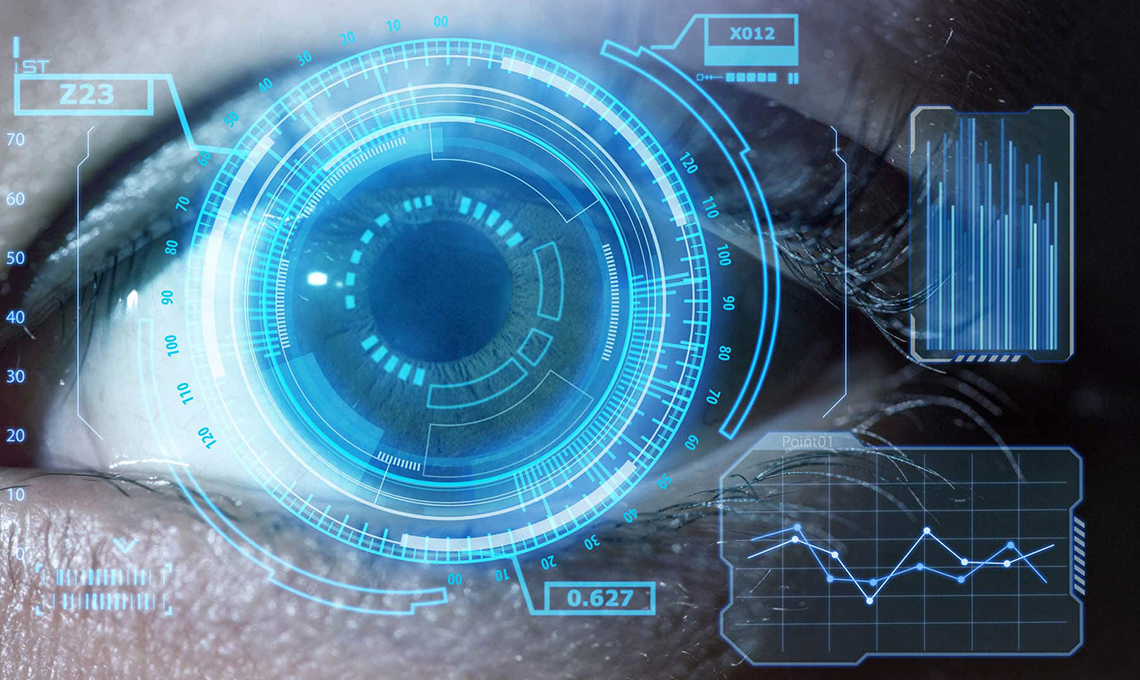Day: maio 25, 2020
RPD || Autores Revista Política Democrática Online | 19ª edição
Adriana Novaes
Pós-doutoranda do Departamento de Filosofia da FFLCH-USP.
André Amado
Diretor da Revista Política Democrática Online
Henrique Brandão
Jornalista e fundador do bloco “Simpatia é Quase Amor”.
José Luis Oreiro
Professor Associado do Departamento de Economia da Universidade de Brasília e Pesquisador Nível IB do CNPq. E-mail: joreiro@unb.br. Página pessoal: www.joseluisoreiro.com.br.
Lilia Lustosa
Doutora em História e Estética do Cinema pela Universidad de Lausanne (UNIL).
Lourdes Sola
Professora aposentada e pesquisadora sênior do Departamento de Ciência Política e do Núcleo de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo (USP). Membro da Academia Brasileira de Ciências e presidiu a Associação Internacional de Ciência Política.
Maria Amélia Enríquez
Economista, Professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), conselheira da Fundação Astrogildo Pereira (FAP).
Pedro Scuro Neto
Sociólogo, diretor da Sociedade Internacional de Criminologia (Paris), autor de Sociologia Geral e Jurídica, cuja oitava edição (A Era do Direito Cativo) é publicada pela Saraiva: S. Paulo.
RPD || Entrevista - 'Pandemia aguçou a consciência de que somos um país em desenvolvimento', diz Lourdes Sola
Entrevistada especial desta 19ª edição da Revista Política Democrática Online, a professora Lourdes Sola alerta para o peso do corona vírus na economia e no tipo de reação a ele, não apenas na questão sanitária, mas no imperativo ético de como reagir a isso
Por Caetano Araujo, Alberto Aggio e Arlindo Fernandes
"A ocorrência da pandemia aguçou a consciência de que somos um país em desenvolvimento, o que vai condicionar nossa maneira de reagir ao Covid 19. Os economistas consideram a quantidade de jovens na população como um bônus demográfico, mesmos nas regiões menos favorecidas, onde seremos mais afetados", avalia a professora aposentada e pesquisadora senior do Departamento de Ciência Política (USP) e do Núcleo de Políticas Públicas da USP, Lourdes Sola, entrevistada especial desta 19a edição da Revista Política Democrática Online.
Sola, que é membro da Academia Brasileira de Ciências e presidiu a Associação Internacional de Ciência Política, questiona a liderança política do presidente Bolsonaro na condução da crise sanitária que país atravessa por conta da pandemia do corona vírus Covid-19. Para ela, "a frequência com que o presidente Bolsonaro atua, não para congregar apoios, mas para destruir maiorias. Se uma maioria se insinua no Congresso, ele se dedica a sabotá-la. Por isso, o papel os governadores recobra importância, tanto quanto a atuação do Supremo no fortalecimento do Federalismo de fato democrático do país. Preocupa-me também o protagonismo dos militares na cena política".
Autora de Estado, mercado, democracia política e economia comparadas (Paz e Terra, 1993), Reforma econômica, democratização e ordem legal no Brasil (Cepal, 1995) e Idéias econômicas, decisões políticas: desenvolvimento, estabilidade e populismo (Edusp, 1998), Lourdes Sola avalia que o Brasil também presencia um aumento significativo de riscos à democracia. "Bolsonaro nunca esteve sozinho. Logo que ele começou a contestar a forma de os governadores reagirem ao Covid, evidenciou-se para mim que não era só a família que o apoiava. Havia outros atores – nem sempre forças ocultas, mas semiocultas". "A incursão do presidente no STF foi acompanhada não por empresários, mas por lideranças das organizações empresariais, que alegam estar protegendo a indústria nacional. Pergunto-me se incluem, de fato, aqueles setores modernizadores, vocacionados a inovar, que está na linha de frente dos setores produtivos. Ou estão entre aqueles que esperam, de novo, capturar o Estado para eles?"
Na entrevista concedida à Revista Política Democrática Online, Lourdes Sola também destaca a questão da forte presença dos militares no governo Bolsonaro. "Como socióloga, reconheço que os militares no Palácio são de uma geração que pagou o estigma de golpista sem ter sido. E durante todo o processo de democratização, eles foram estigmatizados, e agora estão felizes de poder prestar serviços", avalia. Mas, ela alerta para a questão da tutela das instituições. "O que me preocupa, na verdade – e o texto recém-publicado do Mourão foi fonte disso – é que, no momento em que puseram, ao lado do então novo ministro da saúde (que já se demitiu), um militar como o segundo da pasta, como que tutelando o “chefe”, cheguei a pensar: se, até na saúde, é necessária a gestão por um militar, tem algo de podre no Reino da Dinamarca."
Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista de Lourdes Sola:
Revista Política Democrática Online (RPD) Em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo (“A política da não política em tempos de Covid, 21/04”), você desenvolveu considerações sobre os desafios políticos e econômicos suscitados pela Covid-19, que, à luz da velocidade do avanço da presente conjuntura, talvez pudessem ser atualizadas. O que você tematizaria e aprofundaria?
Lourdes Sola (LS): Aprofundaria o peso do coronavírus na economia e no tipo de reação a ele. Quer dizer, não apenas na questão sanitária, mas o imperativo ético de como reagir a isso. Também insistiria na ideia de quais são as condições mínimas a serem preenchidas para se falar em liderança política.
A ocorrência da pandemia aguçou a consciência de que somos um país em desenvolvimento, o que vai condicionar nossa maneira de reagir ao Covid 19. Os economistas consideram a quantidade de jovens na população como um bônus demográfico, mesmo nas regiões menos favorecidas, onde seremos mais afetados. Só que, pelas características de nosso subdesenvolvimento, essas são regiões em que o PIB per capita é menor, as estruturas sanitárias são mais deficientes e há graves limitações do sistema hospitalar. Daí essa população, ainda que mais jovem, é atingida pela pandemia, cobrando número mais alto de internações na rede pública, sobretudo no Norte e Nordeste do Brasil. É uma situação que derruba, liminarmente, teses do tipo isolamento vertical. As caraterísticas demográficas – idade – associam-se às patogênicas, para reforçar o imperativo do isolamento coletivo, completo e absoluto.
Reafirmo minha visão de que nosso federalismo democrático é também desigual do ponto de vista de saúde, em termos da distribuição dos recursos nessa área. Alguém duvida que o Sul e o Sudeste sejam mais dotados de equipamentos e materiais hospitalares, bem como de profissionais mais qualificados na área da saúde?
Devemos, também, discutir a questão da liderança política em processos de democratização difícil, nos quais se tenha de combinar políticas de liberalização com as práticas do novo regime. É quando surgem lideranças mais eficazes, que logram gerar novos recursos de poder, a partir da revitalização das instituições e de sua transformação em outros instrumentos ainda mais eficazes de exercer o poder.
"A ocorrência da pandemia aguçou a consciência de que somos um país em desenvolvimento, o que vai condicionar nossa maneira de reagir ao Covid 19. Os economistas consideram a quantidade de jovens na população como um bônus demográfico, mesmos nas regiões menos favorecidas, onde seremos mais afetados"
Exemplo disso foi a iniciativa de Fernando Henrique Cardoso, de reunir jovens da PUC-Rio com mais alguns de São Paulo e explorar o horizonte inovador do Plano Real. Era um recurso de poder novo, em que se lançou a URV. Eram as mesmas instituições, agora sendo geridas com novos recursos de poder, potencializadas para cruzar o Rubicão, a tão aspirada estabilidade depois de dez anos de ensaios frustrados. Com um mínimo de legitimidade democrática, recorreu-se ao processo persuasivo da televisão, conduzido pela voz sempre convincente de professores, e se alcançou o objetivo.
A meu ver, é a frequência com que o presidente atua, não para congregar apoios, mas para destruir maiorias. Se uma maioria se insinua no Congresso, ele se dedica a sabotá-la. Por isso, o papel dos governadores recobra importância, tanto quanto a atuação do Supremo no fortalecimento do federalismo de fato democrático do país. Preocupa-me também o protagonismo dos militares na cena política.
RPD: Um filósofo espanhol, Daniel Innerarity, diz que o grande problema da democracia é a simplificação. É possível imaginar que se possa resolver nossas crises em democracia seguindo trâmites simples e diretos, quando a própria democracia, mesmo antes dessa pandemia, enfrenta problemas da mais alta complexidade nos planos do Estado e da sociedade?
LS: Não li o texto e não sei se concordaria inteiramente com essa visão. Estamos envolvidos em um projeto de pesquisa, em que pretendemos analisar as conjunturas críticas do século XXI no Brasil. E a combinação do Covid com economia e política é, sem dúvida, uma grande conjuntura crítica. Estamos muito animados em examinar várias teses sobre a crise da democracia. Por exemplo: a globalização acabou ou só mudou de cara e adquiriu novos contornos? Depois de 2008, as regras do jogo mudaram, especialmente por causa da perda da hegemonia americana, das tensões com a China, da reorganização geopolítica do poder internacional etc. Mas a verdade é que cada vez mais me convenço de que a análise da crise da democracia tem de passar para um escala nacional. A maneira como a Argentina se insere na globalização não é a mesma do caso brasileiro, o tipo de complexidade é outro. Nosso federalismo, perto do argentino, acabou sendo mais disciplinado. Basta lembrar a condução da crise dos bancos públicos estaduais, na era FHC, um reordenamento pacífico, enfim, do pacto federativo A questão foi conduzida no âmbito do Banco Central, e isso não ocupa muito espaço nas análises políticas. Mas foi um momento-chave.
Estamos vivendo outro momento chave do pacto federativo e o nosso tem uma cara muito especial. Ele é parecido com o da Índia, pela enorme desigualdade regional. Mas, diferentemente da Índia, da Rússia e de outros países federativos, como os próprios Estados Unidos, dispomos de imensa vantagem: falamos a mesma língua. Nossa identidade não passa por um choque regional, apesar dos sotaques e particularidades das regiões brasileiras. Isso foi uma questão central na pacificação do país na época da Regência, no século XIX.
RPD: A democracia corre risco no Brasil e, em caso afirmativo, o que poderiam e deveriam fazer as forças democráticas? Existiria alguma vacina antiautoritária?
LS: Acho que tem havido aumento significativo de riscos à democracia. Apesar de ser em geral otimista, observei, desde o início deste mandato presidencial, que Bolsonaro nunca esteve sozinho. Logo que ele começou a contestar a forma de os governadores reagirem ao Covid, evidenciou-se para mim que não era só a família que o apoiava. Havia outros atores – nem sempre forças ocultas, mas semiocultas. Eram palacianas e, também, da estrutura de nosso Estado, que ainda peca por falta de democratização, permitindo que alguns atores exerçam influência, mesmo sem ocupar cargo institucional algum.
Refiro-me aos representantes de forças econômicas, que, ao longo da história, foram incapazes de pensar em termos de bens públicos, obstinados em tirar do Estado o que for possível. Sabemos que existem, conseguimos identificá-los, são corporativismos vários. Por exemplo: essa incursão do presidente no STF foi acompanhada não por empresários, mas por lideranças das organizações empresariais, que alegam estar protegendo a indústria nacional. Pergunto-me se incluem, de fato, aqueles segmentos modernizadores, vocacionados a inovar, que estão na linha de frente dos setores produtivos. Ou estão entre aqueles que esperam, de novo, capturar o Estado para eles?
Inquieta-me, também, a presença dos militares. Reconheço que os militares no Palácio são de uma geração que pagou o estigma de golpista sem ter sido. E durante todo o processo de democratização, eles foram estigmatizados, e agora estão felizes de poder prestar serviços. Até porque têm formação muito diferente da geração anterior, têm cabeça estratégica. Eles são oriundos do segundo e terceiro escalões das Forças Armadas, especialistas, com formação sofisticada em relações internacionais, falam inglês, circulam, sem mencionar a exposição que tiveram nas forças de paz, como o general Santos Cruz.
O que me preocupa, na verdade – e o texto recém-publicado do vice-presidente Mourão foi fonte disso – é que, no momento em que puseram, ao lado do então novo ministro da Saúde (que já se demitiu), um militar como segundo da pasta, como que tutelando o “chefe”, cheguei a pensar: se, até na saúde é necessária a gestão por um militar, tem algo de podre no Reino da Dinamarca. Isso me assustou, tanto mais diante da tradição de gente muito bem formada naquela área. Se alguma coisa nos dá orgulho e apareceu na Constituinte, foi a organização da turma da saúde. Sem os sanitaristas de formação ultra sólida, não existiria o SUS, hoje respeitado mundialmente.
"Acho que tem havido aumento significativo de riscos à democracia. Apesar de ser em geral otimista, observei, desde o início desse mandato presidencial, que Bolsonaro nunca esteve sozinho"
RPD: Alguns analistas caracterizam o governo Bolsonaro como bonapartista, no sentido de que o Exército ou as Forças Armadas formariam um governo de militares, sem o AI-5. O artigo do Mourão faz uma espécie de insinuação de que, mais do que o governo, os militares estariam concebendo a ideia de um regime similar à la 64. Ou seja, uma ocupação do Estado pelos militares, não mais um governo, mas um novo regime que, mesmo mantendo a Constituição, mas com algumas intervenções institucionais, daria outra configuração a essa etapa, com ou sem Bolsonaro. A hipótese seria uma presença militar para além do governo. Ou seja, no sentido de que a crise sanitária, que se desdobra em econômica e política, pode ter uma solução que não passa pela opinião pública, nem pelo Congresso, nem pelo Judiciário. Mas passa por eles. Qual é sua opinião?
LS: Tomo muito cuidado com conceitos. E bonapartismo é um deles, com o qual trabalhei com carinho quando era mais jovem. Volto à complexidade antes mencionada. Nós, cientistas políticos, sociólogos, não temos conceitos que nos permitam entender o que está ocorrendo. Recorrer, agora, ao bonapartismo faz sentido em parte, porque há, na verdade, crises simultâneas se acoplando, como a ausência de manifestações de rua, por razões óbvias. Desse ponto de vista, caberia falar-se de uma espécie de experimento bonapartista, mas eu acho que não é o caso. Seria preciso certa personalização. O poder bonapartista é, por definição, pessoal.
O artigo do Mourão remete a escalas muito mais específicas. Com quem ele estava dialogando? Para quem falava? Minha primeira sensação – e daí a crítica – é que ele resolveu mandar um recado, e quem manda não é uma autoridade qualquer, é não só o vice-presidente, mas também um vice-presidente militar, quando já há militares bem instalados na infraestrutura, no Planalto. Enfim, existe de fato um governo com a presença muito mais sólida e estruturada desses atores. Para mim, o recado de Mourão é a leitura do “que nós achamos” da atuação situação do STF, do que é o federalismo americano – a meu ver, equivocada – e um pouco do Congresso, estendendo-se também à imprensa. Tem uma ausência, quando fala “cada um no seu lugar”. Ignora que todo Judiciário no mundo é proativo. Não é ativista, é proativo. E o nosso foi proativo em coisas do tipo comportamentais, por exemplo, em várias decisões anteriores. Então, a ideia da separação, tal como ele entende, de poderes, é cada um no seu quadrado. É verdade, mas o intérprete da Constituição ainda é o STF.
Vou a um segundo ponto, a questão federativa. É bom lembrar que os textos dos federalistas, repletos de debates entre os principais fundadores da democracia americana, revelavam que eles nem sempre se entendiam. Mas é acessório. O importante é que Mourão cita Jay, para justificar que os governadores se devam subordinar ao poder federal. O que se nota aí é a cabeça do militar versus a cabeça democrática. Do ponto de vista da cabeça democrática, os Estados Unidos, a essência do federalismo, têm uma divisão não apenas de competências, mas de soberanias. Um pedaço da soberania pertence ao Estado e ao município, onde o poder federal não entra. Todo e qualquer federalismo democrático é, por definição, uma divisão de soberania implícita. E Mourão caracteriza Jay como ideólogo americano, o que não é verdade, é só olhar o resultado.
A autonomia dos Estados americanos é muito maior. Tanto assim que, em um debate recente, Philippe Schmitter e Terry Lynn Karl trataram da “insubordinação” dos governadores vis-à-vis Trump. Terry, que é uma analista sutilíssima de mudanças de comportamento, fez-me um comentário, que merece ser transcrito nesta entrevista. Disse-me ela: “Havia governadores pelos quais não tínhamos o menor respeito, fosse por questões de corrupção, inoperância ou por serem muito ricos; a verdade é que estão se revelando verdadeiros heróis no combate ao Covid". Logo pensei em meus amigos que jamais votariam no Dória e que, hoje, mudariam de ideia. Não sei se ficou claro, mas o importante é que o Mourão entrou pela seara errada, usou a cabeça de militar para insistir em subordinação. Isso é centralização, ou seja, governar é centralizar o poder na esfera federal.
"O artigo do Mourão remete a escalas muito mais específicas. Com quem ele estava dialogando? Para quem falava? Minha primeira sensação – e daí a crítica – é que ele resolveu mandar um recado, e quem manda não é uma autoridade qualquer, é não só o vice-presidente, mas também um vice-presidente militar, quando já há militares bem instalados na infraestrutura, no Planalto"
RPD: Acrescente-se que os textos dos federalistas, citados por Mourão, foram escritos para defender a ratificação da Constituição em Nova York, resolvendo o embate entre Federação versus confederação. Ninguém discutia o Estado unitário. Havia alguns argumentos com um viés um pouco centralizador, porque a Federação faz leis que se aplicam a todos os cidadãos. E a confederação faz a lei que se aplica ao Estado e o Estado diz como ela se aplica ao município. Daí ter sido possível a Mourão encontrar um que outro argumento em defesa da centralização. Mas essa não era a questão central.
LS: Está certo isso. Ouvi de um cientista político americano um comentário importante sobre o federalismo nos Estados Unidos e no Brasil. Dizia: “A origem do federalismo americano era de grupos independentes, localizados geograficamente, coming together. É o tipo de federalismo de convergência. Já o do Brasil, evoluiu-se no sentido contrário. É o holding together, um Poder Executivo que já vem do Império.”
E nisso tem o trabalho da Regência. Por pouco, o Brasil não implodiu, então, deixando de ser o que nos tornamos. A Regência conseguiu nos unificar e fazer com que todos falássemos a mesma língua. Nossa democratização ocorreu de cima para baixo, em um modelo de holding together. Golbery falava em movimentos de sístole e diástole, isto é, a alternância que a democracia registra entre centralização e descentralização. Nós, agora, vivemos o ponto na história mais acentuado de descentralização, beirando a rebeldia. Se Bolsonaro continuar assim, ninguém mais o ouvirá. Nem o Camilo Santana, nem o Dória, nem o Witzel. E, se ouvirem, estarão perdidos, inclusive eleitoralmente.
RPD: Insistindo no tema do Federalismo, sublinho não existir ilustração mais clara do que o confronto entre a declaração de Trump, de que os EUA denunciariam o acordo do clima, e a decisão de governadores, como os da Califórnia e de Nova York, em sentido diametralmente contrário, o que, na prática, tornou sem efeito o gesto do presidente. É mais ou menos isso que se está presenciando aqui em relação à pandemia, entre Bolsonaro e os vários governadores, mesmo que o governo, incluindo Mourão e os militares, achem o desencontro um absurdo.
LS: De pleno acordo.
RPD: Outra coisa: em 1964, os militares não precisaram ocupar os 27 Estados, porque a maioria dos governadores apoiou o golpe. Hoje, o quadro seria bem diferente. Será que alguém ainda cogita de promover uma quartelada?
LS: O artigo do Mourão tem uma concepção estruturada, hierárquica. Continuo a pensar que os militares de hoje não são golpistas, que é uma geração que está sofrendo algumas pressões e vivendo uma contradição: a da formação, que é hierárquica, e a do fenômeno novo, que reclama pôr a ordem na casa. A esperança se vincula ao Covid. No meu grupo de pesquisa, o número de mortes pela pandemia vai subir, e o Brasil aparecerá como pária, não apenas aos olhos do mundo, mas da América Latina. Isso já se está insinuando e esse é o tipo de argumento que pega os militares, adeptos como são da ideia do Brasil grande, um conceito estruturante entre eles.
Minha intuição sociológica diz que eles se debatem no interior de um conflito que os angustia diante de duas lógicas: a do fenômeno novo, que os governadores representam e que é interpretada como insubordinação, e a da disciplina hierárquica, do Executivo e da Federação entendida como hierarquia. Ao mesmo tempo, eles são muito sensíveis à reputação internacional. Só para dar um exemplo, participei de um evento no México, em que me pediram, de última hora, que participasse de um debate entre dois ex-presidentes, um da América Central e o outro da Colômbia. Foram muito delicados, até porque a cortesia latino-americana se acentua diante de uma mulher, mas viam o Brasil como uma ameaça. Não foi nada explícito, só que ficou latente.
Isso está acontecendo em escala mundial. Estava assistindo à BBC e à CNN, em que se destacava a entrevista do ex-ministro Mandetta, cuja primeira resposta aos jornalistas foi de que, em sua opinião, o Brasil terá um dos maiores números de mortos no planeta. A amplitude dessa repercussão pode pegar os militares.
RPD || Reportagem especial: Busca por auxílio emergencial revela legião de brasileiros na invisibilidade
No total, mais de 46 milhões de brasileiros não estão em nenhuma lista do governo e correm para conseguir benefício durante pandemia do coronavírus
Cleomar Almeida
Na geladeira da faxineira Marizete Coelho (37 anos), duas garrafas de água. É só o que tem. Mãe solteira, ela e os dois filhos (8 e 9 anos) sobreviviam com 800 reais mensais que conseguiam com bicos de limpeza em espaços de festas e eventos, que foram suspensos por causa da pandemia do coronavírus. Metade do dinheiro era para o aluguel do barracão de três cômodos onde moram, em Santa Maria, a 26 quilômetros de Brasília. Até hoje, ela não conseguiu se cadastrar para receber o auxílio emergencial de 600 reais.
Assim como milhares de brasileiros, Marizete já passou vários dias em grandes filas da Caixa Econômica Federal para tentar regularizar sua situação, mas sem êxito. Ela não está em lista alguma do governo. Não recebe nem Bolsa Família porque os filhos não estudam. Não tem CPF ativo nem conta bancária, que são exigidos para conseguir a ajuda de emergência. “Minha renda sempre foi da faxina pra colocar a comida em casa. Também nunca tive patrão para pedir documento, porque sempre trabalhei para fazer bico com ajuda de pessoas que já me conheciam”, diz ela.
A situação de Marizete não é isolada. No total, segundo dados oficiais, mais de 46 milhões de brasileiros não se enquadram nas regras e não estão em qualquer lista do governo. São trabalhadores informais que ficaram sem renda por causa da pandemia e dependem dessa ajuda para sobreviver. São os invisíveis do Cadastro Único do Governo Federal. Muitos não têm nem acesso à internet para se regularizar.
O efeito da pandemia sobre a vida das pessoas é ainda mais trágico se considerados os 12,9 milhões de desempregados em março, conforme dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apenas nos três primeiros meses deste ano, 2,3 milhões perderam o emprego, sendo 1,9 milhão de informais, o que reforça o peso catastrófico da pandemia sobre esse grupo. As principais pesquisas sobre ocupação da população foram interrompidas ou enfrentam problemas.
O primeiro desafio do governo era inscrever 11 milhões que não estavam no Cadastro Único, mas têm direito ao benefício, segundo cálculo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). O segundo era fazer o pagamento. Para quem não tem conta em banco, a Caixa Econômica Federal prometeu criar 30 milhões de poupanças digitais, movimentadas via aplicativo.
De acordo com pesquisa do Instituto Locomotiva, mais de 5,5 milhões de brasileiros com renda de até meio salário mínimo, elegíveis para receber o benefício, não têm nem conta em banco ou acesso regular à internet. São eles que correm o maior risco de não receber o auxílio. “A crise do coronavírus tirou renda e jogou para a pobreza muita gente que tinha pouco, mas não era alvo de programas sociais. O vírus joga luz a problemas que já existiam, como a baixa renda dos informais, e acentua uma desigualdade histórica”, diz o presidente do instituto, Renato Meirelles.
Pesquisadores do IPEA defendem ações urgentes e integradas entre União, Estados e municípios para socorrer os invisíveis. “O fundamental é partir da estrutura que já construímos, para atender de imediato às famílias mais pobres. Do contrário, o risco é de só conseguirmos operacionalizar o benefício tarde demais”, alerta o representante do IPEA, Pedro Ferreira de Souza. “Nossas simulações mostram que é possível garantir renda mínima para famílias vulneráveis com custos relativamente baixos, considerando a gravidade da situação”, diz.
O furacão de invisíveis, que aumenta cada vez mais, tem engolido até as expectativas do próprio governo. “Temos um volume muito grande de pessoas que literalmente trabalham durante o dia para comer à noite. Para atender a esse problema, saímos em busca dos que eram considerados invisíveis, os informais, que não têm uma atividade formalizada, organizada. Tínhamos a expectativa, a FGV [Fundação Getúlio Vargas] e outros institutos, de encontrar sete ou oito milhões desses invisíveis. Já encontramos 20 milhões", disse o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, no início de abril.
No dia 20 de abril, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, reconheceu a dimensão ainda maior da população até então inexistente para o governo, em entrevista à imprensa. “Esses invisíveis hoje são 42,2 milhões de brasileiros e nós estávamos conversando, pensamos que chegaremos a 50 milhões de brasileiros. É um número maior do que imaginávamos”, afirmou.
O desespero dessas pessoas faz diminuir ainda mais o isolamento social, medida preventiva ao coronavírus, já que, na ânsia de conseguirem os 600 reais, têm de correr para as filas das agências da Caixa, para tentarem regularizar sua situação e serem vistas oficialmente pelo governo. A realidade socioeconômica torna essas pessoas ainda mais vulneráveis.
A professora Ana Carolina de Aguiar Rodrigues, do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA), da Universidade de São Paulo (USP), diz que, no Brasil, diferentemente de outros países, medidas de isolamento também devem passar por questões socioeconômicas. Ela ressalta que esse aspecto deveria moldar as diretrizes e ações a serem tomadas pelos governos no país.
“Definitivamente, esse valor não é suficiente”, diz ela, referindo-se aos 600 reais do auxílio emergencial. “Mas é importante dizer que, na hora que esse dinheiro cair na conta, as pessoas vão reduzir suas saídas de casa”, avalia a professora da USP. O técnico do IPEA Pedro Herculano de Souza, que estuda desigualdade de renda, concorda: "O auxílio é bem desenhado. O desafio é chegar a todos".
É exatamente isso que Marizete almeja. A faxineira conta que não vai sossegar em casa enquanto não conseguir regularizar sua situação junto ao governo. “Tenho dois meninos para criar, a geladeira está vazia. Não temos o que comer”, diz. Durante a pandemia, ela sobrevive com ajuda de vizinhos e de grupos de doação. “A gente sabe que o melhor é não sair de casa, mas hoje existir nos registros do governo é questão de sobrevivência. Só assim eu vou conseguir ter alguma ajuda nessa crise do coronavírus”, afirma.
Solidariedade socorre desassistidos pelo governo
Na ausência do Poder Público, a solidariedade tem-se tornado o melhor remédio de força para comunidades inteiras se ajudarem e passarem o período da pandemia do coronavírus. Em diversos Estados, grupos de vários segmentos da sociedade se unem para amenizar a fome ou auxiliar pessoas sem acesso à internet a fazerem o registro no Cadastro Único.
Em Goiânia, após a confirmação da progressão geométrica de casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus, um grupo de amigos passou a se mobilizar pelas redes sociais para juntar alimentos e doá-los a quem necessita. Os beneficiados são, principalmente, pessoas consideradas invisíveis, de acordo com um dos organizadores.
“Muita gente não tem nada em casa nem perspectiva de quando vai receber algum dinheiro do governo. Já encontramos situação de trabalhadores do lixão que sequer tinham RG ou CPF. Parece inacreditável, mas é preciso visitar os lugares mais esquecidos para enxergar a realidade”, afirma o dentista Rogério Leal, voluntário do projeto. “Toda semana, entregamos cestas básicas a mais de 100 famílias desamparadas. Essa ajuda só é possível graças à sensibilidade de donos de supermercados”, diz ele.
Em Belo Horizonte, outro grupo tem-se reunido durante a semana, para ir até a casa de moradores da periferia e leva-los de carro até agências da Caixa Econômica Federal, para que consigam cadastrar a solicitação do auxílio emergencial. “Muita gente não tem pão para o café da manhã, muito menos vale-transporte para pegar ônibus e ir até uma agência”, afirma o advogado Lucas Mendonça, que se mobiliza com um grupo de evangélicos para auxiliar famílias carentes. “Nosso intuito é amparar da melhor forma possível. Se temos carro, usamos o veículo para ter função nas comunidades”, pondera.
No Rio de Janeiro, uma associação de camelôs cadastra e faz o acompanhamento do pedido do auxílio emergencial de 600 reais para colegas sem internet ou conta em banco. "Fazemos o pedido e monitoramos o andamento", conta a ativista Maria de Lourdes do Carmo. "Se a gente não se unir, todo mundo vai sofrer", acentua. Segundo ela, mais de 100 pedidos do benefício realizados por meio da associação já foram aprovados.
Além de grupos de amigos, a ajuda vem de Organizações Não-governamentais (ONGs) e associações que nunca tiveram a simpatia deste governo, na avaliação do diretor da FGV Social, o economista Marcelo Neri. "É preciso agir: a crise chegou após cinco anos de aumento da pobreza. No fim de 2019, a desigualdade de renda do trabalho, enfim, parou de subir, mas deve voltar a crescer”, alerta.
Número de auxílios liberados é três vezes maior que o projetado
O número total de auxílios emergenciais liberados a trabalhadores informais até a primeira quinzena deste mês já é o triplo do previsto pelo governo em março e deve aumentar ainda mais ao longo deste ano. A Caixa Econômica Federal informou que, até este mês, 58,7 milhões de trabalhadores informais tiveram o benefício autorizado.
A projeção inicial do Ministério da Economia era de que até 20 milhões de pessoas seriam beneficiadas pelo auxílio emergencial, o que, segundo o órgão, geraria custo de R$ 15 bilhões aos cofres públicos. Com o passar dos dias, as autoridades foram surpreendidas pelo crescente número de brasileiros que se enquadravam nos critérios do benefício.
Depois, o próprio governo teve de fazer novos cálculos e liberar novo crédito, que passou para próximo de R$ 124 bilhões. O prazo para os interessados se cadastrarem no programa vai até o mês de julho, o que ainda deixa o governo em alerta sobre possíveis aumento nos dados.
Diante do cenário de incerteza, a equipe econômica quer incluir no debate a possibilidade de revisão do que chama de gastos ineficientes. Os técnicos querem reavaliar gastos como abono salarial, seguro-defeso (pago a pescadores artesanais no período de reprodução dos peixes, quando a pesca é proibida) e farmácia popular.
Na avaliação da equipe econômica, a revisão nesses benefícios poderia abrir espaço no Orçamento para acomodar renda básica à população ou outra proposta de fortalecimento das políticas sociais no Brasil. No formato atual, o auxílio emergencial custa cerca de R$ 45 bilhões ao mês, uma despesa que, na avaliação dos técnicos, não cabe no Orçamento nem no teto de gastos, mecanismo que limita o avanço das despesas à inflação.
A manutenção do auxílio emergencial de R$ 600, além dos três meses definidos inicialmente pelo governo, já é defendida por parlamentares e entrou na conta das projeções de mercado para o resultado fiscal do Brasil em 2020. No entanto, economistas alertam para o risco de o país repetir os erros da crise de 2008, quando políticas temporárias para resgatar empresas e famílias se tornaram permanentes e contribuíram para o processo de deterioração das contas públicas.
No Congresso, o argumento de parlamentares é evitar que as famílias fiquem sem renda alguma em um momento em que a circulação do coronavírus no país ainda poderá inviabilizar a retomada plena das atividades e do emprego.
RPD || Pedro Scuro Neto: Admirável vírus novo
Em tempos de crise, até mesmo inimigos podem ajudar-se uns aos outros para superar os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus Covid-19 em todo o mundo. Papéis da Ciência, da mídia e da administração pública passam por reavaliação, avalia Pedro Scuro Neto
Que maravilha!
Quantas boas criaturas temos aqui!
Como a humanidade é bela!Oh admirável mundo novo
Que tem gente assim.
William Shakespeare, A Tempestade.
A sociedade trata os intelectuais com desconfiança, mas, em tempos de crise, fecha os olhos e daqueles menos escrupulosos encomenda profecias. Narrativas que a grande imprensa, na função de sentinela do sistema, agenda para fazer a opinião pública confiar que “quando tudo isto tiver passado, o mundo não será mais o mesmo”. [1] E o que esse mundo será, um dos literatos, dentre os profetas o favorito, se encarrega de dizer. Um mundo diferente, em que aprenderemos a lidar com “políticos irresponsáveis”, os mesmos que nos fizeram perder a confiança na ciência, nas autoridades e na mídia, que doravante serão os grandes mediadores das mudanças. Para fazer a diferença a palavra-chave será “solidariedade”, pois se “escolhermos desunião apenas prolongaremos a crise, trazendo catástrofes ainda piores”. Mas, se, ao contrário, “optarmos pela solidariedade global, venceremos não somente o coronavírus, mas toda e qualquer epidemia ou crise que sobrevier neste século”. [2] E como fazer isso? Em tempos normais, não se pode resgatar a confiança perdida, mas, como estes são “tempos de crise”, os espíritos podem mudar e até mesmo inimigos encontrarão “reservas secretas de confiança e amizade, dispondo-se a ajudar um ao outro”.
Na base de soluções proféticas estão sempre estratagemas. Neste caso, o truque é “naturalizar” o surto como se fosse algo íntimo, uma crise pessoal, que pede mudança de lentes para se enxergar melhor. Exige, sobretudo, confiar em intermediários, a mídia, a ciência e as autoridades, que, sob a influência da “maior crise da nossa geração”, vão ficar mais sintonizadas e sensíveis aos dramas de cada um. Em vez de monitorar, como sempre fizeram, vão propiciar “escolhas pessoais mais informadas”. A decisão final, porém, seguirá sendo dos indivíduos. Razão pela qual “a crise do coronavírus pode ser a batalha decisiva, pois entre privacidade e saúde as pessoas escolherão a segunda”. Mas, o que fazer com os incorrigíveis “egomaníacos”, os políticos, os “irresponsáveis” a quem deve ser imputada toda a culpa da crise de confiança nos “mediadores”? Neste preciso momento, desmorona toda a argumentação do profeta favorito, que desconhece os fatos e os atores.
Para começar, a ciência, o “mediador” mais neutro, fonte de probidade e veracidade, porém há décadas imerso em uma crise que nada tem a ver com políticos, mas com práticas ruins. A saber, em primeiro lugar, reprodutibilidade insatisfatória – recentemente, um projeto replicou 100 experimentos descritos em revistas indexadas de uma determinada ciência, cujos “efeitos alcançaram apenas a metade da magnitude original”.[3] Em segundo lugar, abusiva dependência de métricas, metas e indicadores, que, em lugar de sustentar avaliação qualificada, oprimem consciências, distorcem comportamentos e corrompem carreiras. Por último, problemas de revisão por pares, a menos ruim de todas as formas de governança acadêmica, mas assim mesmo assombrada por escândalos e denúncias. Tudo isso foi tema do livro de um sociólogo norte-americano, o primeiro a entender que os problemas da ciência não estão em seus fundamentos epistemológicos, mas nas imperfeições de suas práticas. Meio século depois, ele ainda denuncia as “pressões corruptoras” de uma “ciência industrializada”, cujos “incentivos perversos” obrigam os cientistas a se submeter a uma gig economy de contratos de curto prazo, sem direitos, sob o domínio de supervisores caprichosos.[4]
Por conta disso, a qualidade tornou-se instrumentalizada e a excelência perdeu espaço para o “impacto”, a nova regra do jogo. Situação agravada por tecnologias de guerra cientificamente informadas, pela manipulação financeira e pela predação ambiental, que, mesmo “aumentando as possibilidades de uma catástrofe civilizacional”, mostram que “o rei está nu”. Não se depender de literatos agenciados pela mídia para desviar nossa atenção de práticas ruins e de seus verdadeiros agentes.
Na administração, o segundo “mediador”, a prática mais nociva é a corrupção, “inerente às indústrias de mineração, petróleo e gás, construção e engenharia, todas de alto risco e objeto de investigação no mundo inteiro”.[5] A questão não é tanto o governo ou os políticos, mas o setor, num contexto em que a influência de organizações multilaterais se tornou preponderante. Caso do Banco Mundial, que, em 2011, orgulhosamente anunciou que seu braço no setor privado, a International Finance Corporation, tinha aberto linha de crédito de 50 milhões de dólares para a construtora Norberto Odebrecht. Fundos imediatamente transformados em ações de 250 milhões, como garantia de contratos de projetos de obras públicas.
Tudo documentado, mas, quando sobrevieram os escândalos, rapidamente deletado da base de dados do banco: “parcerias público-privadas” de 30 bilhões de dólares que a Odebrecht e outras quatro empreiteiras receberam de um banco estatal de desenvolvimento para operações na África e América Latina. Parcerias e suas indefectíveis “renegociações contratuais”, “terreno fértil para corrupção” – segundo Christopher Sabatini, professor da Universidade de Columbia, para quem “todo mundo sabia”, ou seja, que “a Odebrecht agenciava corrupção” com a chancela do Banco Mundial. Uma “tramoia evidente desde o começo”, na qual a IFC e o banco não corriam nenhum risco – “investigações de corrupção não chegam a outros países implicados e, nos países-clientes, os representantes do banco estão blindados contra processos judiciais”.[6]
O último ‘mediador’ do admirável mundo novo anunciado pelo profeta é a mídia, cujo “papel satânico” (Bauman) é “revolucionar os mecanismos de percepção do mundo” e instrumentalizá-los. Indústria conformadora de consciências que permeia todos os setores da sociedade, assumindo funções de controle e orientação. Não devido à informação que transmite, mas ao “conteúdo” – o que Marshall McLuhan chamava de “pedaço de carne”, que o ladrão traz para distrair o cachorro enquanto saqueia a casa. Indústria em crise, não por conta de políticos, mas de fatores estruturais relacionados com uma drástica queda na venda de mídia impressa e na saturação do mercado que obriga à competição com modalidades de mídia menos formais e profissionais. O que obriga a mover céus e terras para manter a clientela e fatias de mercado através da exploração do sensacionalismo, de uma incessante produção de notícias e de uma frenética busca por “inimigos”, para os quais se antecipa punição.
Crise não de agora, mas desde quando o primeiro grande centro produtor e difusor de notícias, a Igreja Católica, começou a perder o monopólio dos púlpitos e o status de “fonte” suprema, à qual todos, do mais rico e poderoso ao mais miserável, davam ouvidos com reverência.
Na antiguidade, os futurólogos eram “profetas da desgraça” que anunciavam cruéis castigos de Jeová para o povo – principalmente para dirigentes indignos (“os políticos”). Os atuais parecem mais atraídos por “renunciantes” budistas portadores de notícias acerca da “vida boa”. Laicizadas, mas sempre avessas à linguagem da democracia, suas derrapadas metafísicas desbordam o contexto estritamente religioso e invadem o âmbito da intimidade pessoal – cujas sutilezas só podem ser entendidas através dos inesgotáveis recursos da literatura. O que fez Aldous Huxley (Admirável Mundo Novo) há noventa anos, imerso na tempestade perfeita desencadeada depois da Primeira Guerra. Identificou estabilidade como a “necessidade original e derradeira” da civilização que luta para sobreviver a crises múltiplas. Como as de hoje, causadas por um modelo social, econômico e político falido, miseravelmente pego de surpresa por um minúsculo agente infeccioso. Crises agravadas por superpopulação e pelos meios de controle usados para submetê-la – dentre os quais Huxley destacaria as drogas e a sugestão subliminar, pedindo resistência para defender a democracia contra o autoritarismo, mais uma vez aos nossos portões.
No mundo real, enquanto os países se mobilizam para conter o coronavírus e suas nefastas consequências – a pior das quais é o colapso dos sistemas de saúde – não se pode perder de vista quadro bem mais assustador: uma nova pandemia é só uma questão de tempo. O surto global de Covid-19 não foi uma anomalia; doenças infecciosas emergem e reemergem em velocidade nunca vista ao longo da história. De 1980 a 2013, o número de epidemias anuais oscilou de 1.000 a mais de 3.000. Doenças infeciosas como Zika, MERS-CoV, SARS, cólera, tuberculose, HIV, influenza e ebola matam milhões todos os anos e, no seu rastro, destroem economias, causam pânico e, como no Brasil, crises institucionais. Situação que expõe a fragilidade das economias, a insuficiência das redes de segurança social e permanente subinvestimento em sistemas de saúde pública.
É preciso, primeiro – e antes de qualquer coisa – reforçar a capacidade do sistema de saúde na detecção e contenção de doenças com organismos centralizados de vigilância de dados que articulem informações de laboratório com dados populacionais e medidas clínicas. Em segundo lugar, desenvolver comunicação e coordenação, articulando centros de controle e prevenção com organismos da sociedade civil capazes de guiar respostas durante as crises e preparar protocolos baseados em evidências e boas práticas de saúde mesmo em tempos em paz. Finalmente, focar nas desigualdades que fazem as crises tão devastadoras, atentando para pequenas empresas, trabalhadores e pessoas mais vulneráveis.[7]
* Pedro Scuro Neto é sociólogo, diretor da Sociedade Internacional de Criminologia (Paris), autor de Sociologia Geral e Jurídica, cuja 8ª edição (A Era do Direito Cativo) é publicada pela Saraiva: S. Paulo.
Mais informações:
[1] Francesca Melandri (2020). https://www.theguardian.com/world/2020/mar/27/a-letter-to-the-uk-from-italy-this-is-what-we-know-about-your-future
[2] Yuval Harari (2020). https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75
[3] https://osf.io/ezcuj/wiki/home
[4] Jerome Ravetz (2016). https://www.theguardian.com/science/political-science/2016/jun/08/how-should-we-treat-sciences-growing-pains
[5] Andreas Pohlmann, Folha de S. Paulo, 22/9/2015.
[6] Roberto Bissio (2017). Leveraging corruption – How World Bank funds ended up destabilizing young democracies in Latin America, http://www.socialwatch.org.
[7] Jane J. Kim e Michelle A. Williams (2020), https://fortune.com/2020/03/29/coronavirus-pandemic-public-health-preparedness.
RPD || Maria Amélia Enríquez: Vida e economia nos tempos da Covid-19
Contradições da sociedade brasileira são expostas fortemente por conta dos efeitos da pandemia do coronavírus Covid-19. Debate sobre quem é mais importante, a defesa da vida ou da economia, ganha força
A pandemia do Covid-19 tem permitido escancarar as profundas contradições da sociedade brasileira, reveladas pelas péssimas condições sanitárias de 48% da população, sem esgoto e sem saneamento básico; precariedade do trabalho informal de 38,6 milhões de brasileiros, 41% da força de trabalho; míseros R$ 420,00 com que 52 milhões de brasileiros subsistem e, seu oposto, a extrema concentração da renda, a segunda maior do mundo, em que os 1% mais ricos detém 28,3% da renda total do País. Paralelamente, a pandemia e seus efeitos têm provocado um debate, até então pouco aprofundado, sobre o suposto antagonismo entre a defesa da vida e a defesa da economia.
Esse falso dilema pressupõe que a esfera econômica está apartada da vida das pessoas e tem existência própria, manifestando-se no mercado financeiro, na bolsa de valores, câmbio, transações bancárias, números do PIB etc. A vida real dos cidadãos e suas famílias, por seu turno, se passa em outra esfera, em seus domicílios e na rotina de seu cotidiano. O desastre econômico desencadeado pela pandemia mostra quão irreal é essa percepção.
Além de acesso aos recursos ambientais e materiais, a economia, enquanto reprodução material da vida, depende fundamentalmente da motivação humana, da energia, do engenho, da coragem, da criatividade, enfim, do trabalho e do talento das pessoas que precisam, antes de tudo, estarem vivas, confiantes e dispostas, para além de produzir e poder consumir.
Adam Smith (1776) demonstrou que o trabalho humano é a principal causa do desenvolvimento econômico. A tradição clássica subsequente reafirmou a produtividade do trabalho como chave para geração da riqueza e, não obstante todo o avanço da era digital e da indústria 4.0, com a retirada de cena de parte do trabalho por causa da pandemia assiste-se a um tombo na economia sem precedentes.
Mas, para além do trabalho, a dinâmica econômica requer confiança para consumir, gerar emprego e investir, enfim, assegurar a indispensável “demanda efetiva”. Para Keynes (1938), é o “estado de confiança” que molda as expectativas sobre essas decisões econômicas cruciais, mas, quando não há confiança do setor privado, surge uma onda de negatividade, com aumento do desemprego e queda da renda, o que gera e aprofunda a “armadilha recessiva”. Para combatê-la, a solução é aumentar as inversões públicas, que devem ser financiadas com déficit. A renda injetada provoca efeito de encadeamento que restabelece a confiança, essencial para impulsionar o crescimento.
Fukuyama (em Trust, 1995) demonstrou que o vínculo entre confiança e economia é a cooperação, fator explicativo dos diferentes padrões de crescimento entre países; além de substância do “capital social”, básico nos processos de desenvolvimento.
Assim, partindo-se do pressuposto de que a confiança é indispensável para a saúde econômica, nada mais lhe é tão nocivo quanto o medo, medo da morte por uma doença cruel, que exclui e isola do convívio familiar o paciente, cujo corpo nem poderá ser visto para consumar o rito. A argumentação de que doenças como H1N1 e dengue matam quantitativamente mais pessoas não tem sustentação, pois, além de as fatalidades ocorrerem em menor intensidade e escala, são conhecidas, evitáveis ou tratáveis. O que mais aterroriza na Covid-19 é a roleta russa que impõe, principalmente porque, no Brasil, um quarto das mortes é de jovens e sem comorbidade.
Como então readquirir motivação ao trabalho e confiança para consumir, investir e gerar emprego? Simples, se houvesse cura ou vacina, mas como ainda não existem, os cenários ajudam a ponderar. Em um cenário de ampla abertura das atividades, como lidar com a (falta de) confiança e cooperação no ambiente de trabalho e entre empresas? Como equacionar o mercado internacional se não houver demanda, já que outros países igualmente enfrentam depressões profundas?
O Brasil saiu na vantagem de entrar na pandemia “tardiamente”, mas não levou a sério a lição de que a única maneira de adiar a propagação do vírus para evitar uma crise humanitária seria o isolamento social e está presenciando a acumulação de cadáveres nos IMLs, em especial na Região Norte. Portanto, o cenário de ampla abertura da economia em meio à pandemia, além de cruel, apenas posterga os custos econômicos que inevitavelmente ocorrerão.
Monica de Bolle tem reiterado que a pandemia alterou por completo os rumos da economia e que o mundo não voltará automaticamente ao que era antes[1]. Ressalta, assim, a necessidade de uma renda básica permanente para pessoas em extrema vulnerabilidade e a reconversão industrial para a produção de insumos e equipamentos médicos. Este cenário impõe enorme desafio para países emergentes e com crônicos problemas de financiamento, como o Brasil.
Apresentar desde já um horizonte crível para a crise é um dos melhores meios para se resgatar a confiança. Todavia, parafraseando Galbraith (1995), o futuro será a resultante de ações realizadas no presente que, por seu turno, são fruto das decisões do passado. E, olhando para trás, constata-se que, em nome da economia, foram cometidas muitas atrocidades com as pessoas e a natureza. A pandemia está dissolvendo concepções e demonstrando que pode haver caminhos diferentes.
A ruptura das cadeias de valor, a dissolução dos preços do petróleo e das commodities em geral, o respiro ambiental nos grandes centros, as inúmeras demonstrações de compassividade e cooperação em prol do bem comum de empresas e da sociedade, em especial dos mais humildes, como é o caso de Paraisópolis (SP), abrem espaço para repensar a crônica insustentabilidade do modelo dominante de reprodução material da vida humana.
Talvez um dos efeitos secundários dessa crise seja ousar pensar na possibilidade da emergência de uma nova economia, que tenha como pilar estruturante a regeneração da natureza e da sociedade, uma “economia da reconversão”, que permita resgatar dívidas social e ambiental, tendo como valores o compromisso e a solidariedade com as gerações presentes e futuras. Isso é possível a partir de investimentos em atividades de alta efetividade que sejam economicamente sustentáveis. Para isso, a crise sanitária oferece excelente oportunidade de, finalmente, realizar investimentos maciços em saneamento básico, abastecimento de água, coleta e tratamento de resíduos; pois o déficit é brutal e o retorno é crescente, com vantagem de empregar muitas pessoas e resolver um dos problemas estruturais mais críticos do país[2].
A crise também permite revalorizar cadeias produtivas locais, mas, para isso, é imprescindível um amplo programa de qualificação e requalificação a esse novo mundo do trabalho, como a experiência, de baixo custo e de alto impacto, do “Pará Profissional” [3], vencedor do prêmio “Excelência em Competitividade”; além de estímulos ao aumento da competitividade com a intensificação da transferência de tecnologia para os processos produtivos locais, a partir de incentivos à pesquisa aplicada. Enfim, há muitas iniciativas e bons exemplos que precisam ser replicados e ganhar escala, mas para que ocorram é imperativo o engajamento com a causa!
* Maria Amélia Enríquez é economista, Professora da Universidade Federal do Pará (UFPA), conselheira da Fundação Astrogildo Pereira (FAP).
Mais informações:
[1] https://www.fundacaoastrojildo.com.br/2015/2020/04/17/monica-de-bolle-a-economia-requer-mais-imaginacao/[2] Segundo o Instituto Trata Brasil, a falta de saneamento básico provoca mais de 300 mil internações por ano no país. Excluídas as doenças, há ineficiência da entrega de água. Em 2017, o Brasil teve prejuízo de R$ 11 bilhões, o que daria para ter abastecido 30% da população, além do que o país ganharia R$ 1,1 trilhão nos próximos 20 anos se universalizasse o saneamento básico, a um custo de R$ 470 bilhões.
RPD || Lilia Lustosa: A morte do cinema. De novo?
Novas tecnologias, como o som, cores, a televisão, o VHS e a tecnologia digital transformaram o cinema desde o seu nascimento, em 1895. Hoje, em tempos de pandemia e na era do streaming, a disputa entre a telona e a telinha ganhou novos contornos, tons e sonoplastias, analisa Lilia Lustosa em seu artigo
Desde o nascimento do cinema, em 1895, vários foram os momentos em que sua existência foi colocada em questionamento. A chegada do som, em 1927, foi um dos mais marcantes. Salas de cinema tiveram que ser adaptadas, e sets de filmagem, reconfigurados, já que a exigência da proximidade dos ainda não tão potentes microfones acabava por limitar o movimento dos atores. O resultado foi uma espécie de retrocesso na mise-en-scène dos filmes até que toda a indústria pudesse estar adaptada à novidade. E muitos foram os cineastas que se opuseram à mudança, defendendo que a fala acabaria com a aura da nova arte. Charles Chaplin fazia parte desse time, resistindo a não mais poder à incorporação do som, rendendo-se, finalmente, em 1940, ao lançar seu corajoso O Grande Ditador.
A chegada da televisão, do VHS e, mais recentemente, da tecnologia digital foram outros momentos de grandes medos e transformações, em que mais uma vez se questionou a sobrevivência do cinema. Técnicos tiveram que aprender a manejar novas câmeras e novos softwares de edição; cineastas tiveram que apurar o olhar à nova imagem, agora com menos textura e mais artificialidade; atores tiveram que aprender a contracenar com fundos verdes ou azuis, a usarem fios grudados em seus corpos; e as salas de projeção tiveram mais uma vez que ser adaptadas para receber as novas máquinas. Até hoje, ainda há diretores que se recusam a filmar em digital, apegando-se à pureza da imagem analógica, ao granulado e à nostalgia de sua composição. Tarantino é um deles! Além de filmar exclusivamente em película, comprou até o pequeno New Beverly Cinema, em Los Angeles, só para garantir a preservação do cinema à moda antiga.
Estamos agora na era do streaming, e a existência da sétima arte como concebida naquele longínquo 1895 parece mais ameaçada do que nunca. A disputa entre telona e telinha, que já andava acirrada nos últimos tempos, ganhou novos contornos, tons e sonoplastias... E não foi pela chegada de uma nova tecnologia, não! A ameaça agora vem de um vírus que pegou a todos de surpresa, atingindo de uma só vez o corpo e a alma do cinema, contaminando toda a cadeia cinematográfica. De repente, não mais que de repente, criadores e espectadores tiveram seus movimentos engessados. A pandemia da Covid-19 fechou salas, interrompeu filmagens, adiou lançamentos e fez com que milhões de profissionais perdessem seus empregos. As ações das grandes produtoras despencaram, e a maioria dos exibidores e das pequenas produtoras está decretando falência. E o pior, tudo isso ainda sem solução no curto prazo, já que teatros, cinemas e shows estão entre as últimas atividades a serem retomadas, em função de suas naturezas aglomerativas.
Em meio a esta crise sem precedentes na história do cinema, as empresas de plataformas de streaming saem como as grandes (e talvez únicas) beneficiadas, com suas ações atingindo índices altíssimos e com o número de clientes aumentando a uma velocidade “de contágio” maior que a do próprio coronavírus. Um a zero para a telinha nesta fase da era do streaming! E, sem querer tomar partido nessa disputa, a meu ver, incongruente, a sobrevivência da sétima arte parece estar assim ao menos assegurada, já que assistir a filmes se tornou um dos grandes antídotos para sobreviver à dura realidade do confinamento. Nunca se assistiu a tantos filmes e séries como agora!
Seria, então, o “algoz” da sétima arte – segundo alguns puristas – hoje seu salvador? Será esse o futuro do cinema? O da telinha? A chance é grande, até porque nada pode nos garantir que esta pandemia seja a última do século. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood já até alterou seu regulamento a fim de permitir que filmes lançados e exibidos apenas na Internet possam concorrer ao Oscar em 2021, encerrando briga recorrente nos últimos anos. E, apesar de a maior parte dos grandes estúdios ainda se recusar a lançar seus blockbusters diretamente pelas plataformas digitais, lançamentos como o de Trolls 2, da Dreamworks/Universal Pictures, feito diretamente em VOD (video on demand), demonstraram ter seu valor. Cada visualização, a 19,99 dólares, rendeu cerca de 100 milhões em alguns dias “em cartaz”. Nada mal para um lançamento sem salas de cinema!
O fato é que, depois que as quarentenas forem levantadas, a experiência de ir ao cinema não será mais a mesma. Mudanças terão que ocorrer para que os espectadores possam se sentir seguros para voltar às telonas. Nos Estados Unidos, alguns Estados começam a dar os primeiros passos nessa direção. O Texas já autorizou a reabertura de salas, desde que com apenas 25% de ocupação. Massachusetts, que anda também ensaiando a reabertura, anunciou as mudanças que devem ocorrer: fileiras e cadeiras serão retiradas para que haja pelo menos 1,5m de distância entre os espectadores; as compras de ingressos serão feitas exclusivamente online, com impressão do bilhete feita em casa pelo espectador ou apresentação no formato digital (celular); álcool em gel estará disponível em vários pontos das salas, que, por sua vez, contarão com mais portas de saída.
Diante do novo cenário, é impossível não prever aumento no preço dos ingressos, o que fará com que a ida ao cinema seja cada vez mais um programa de elite. Mais pontos para a telinha?
Outro problema que se impõe quando da reabertura das salas é o dos conteúdos a serem exibidos. Quer dizer, com as produções todas em pausa por tantos meses, a que filmes iremos assistir? Em um primeiro momento, o mais provável é que entre em cartaz a leva represada de blockbusters – Viúva Negra, Mulan, Tenet, 007 etc. – que tiveram seus lançamentos adiados por medo de não conseguirem recuperar o montante estratosférico de dinheiro investido, caso tivessem optado pelo lançamento digital.
Em seguida, tendem a ganhar força as produções mais baratas, que exijam equipes pequenas, menos equipamentos e mais agilidade na conclusão dos projetos. Documentários também devem ter seu destaque, porque, em geral, cabem dentro de um orçamento mais modesto e podem ser montados com imagens de arquivos, entrevistas e, consequentemente, menos contatos humanos envolvidos. Quem sabe, agora, pequenas produtoras e coletivos de cinema ganhem mais espaço. Quem sabe consigam finalmente ter seus filmes devidamente distribuídos nas novas salas carentes de conteúdos. Estaríamos diante de um “neo Neo-realismo” ou de um “novo Cinema Novo” ?
Independentemente do que esteja por vir, neste cenário pós-pandemia, o Estado terá papel decisivo na retomada da atividade cinematográfica. No caso do Brasil, então, então, com uma indústria bem menos consolidada do que a americana, tendo tido também vários lançamentos adiados (A Menina que matou os pais, Três Verões, A Febre etc.) e produções interrompidas, a Ancine pode (e deve) ser a grande ferramenta de reconstrução do cinema nacional, ampliando as linhas de financiamento às pequenas e médias produções, criando linha de crédito para que os exibidores possam reabrir suas salas e incentivando as grandes empresas a investirem em cinema em troca de incentivos fiscais. Coisa que já acontecia, claro, mas que esteve ameaçada nos últimos tempos e que agora não pode falhar nem faltar. Obviamente, essas ações não vão impedir que a indústria cinematográfica entre em uma crise profunda, mas, além de aliviar o tamanho da queda, servem para dar-nos esperança e tempo para repensar o formato do cinema nestes novos tempos pandêmicos.
A pergunta que fica martelando é: quando tudo isso passar e o corona vírus já tiver virado História, voltaremos às salas de cinema como antes? Ou estaremos já tão acostumados à tela pequena que não nos daremos mais ao trabalho de sair de casa em prol da experiência coletiva da sala escura e da tela grande? Teremos aprendido a dar mais valor a produções mais artísticas, menos cheias de efeitos especiais? E os blockbusters, com seus budgets exorbitantes e suas equipes gigantescas, tornar-se-ão coisa do passado, símbolos de uma época sem riscos de contaminação?
Sobram perguntas e escasseiam respostas. Mas, nestes tempos de incertezas, angústias e questionamentos, uma única coisa parece certa: o cinema não vai morrer. Não vai ser desta vez…
*Lilia Lustosa é doutora em História e Estética do Cinema pela Universidad de Lausanne (UNIL).
RPD || José Luis Oreiro: Plano Pró-Brasil: Um New Deal para a economia brasileira?
Governo Bolsonaro criou mais uma disputa interna entre a equipe econômica do governo e a ala militar, encabeçada por Braga Neto, originada no fato de que a agenda de privatização, reformas estruturais e abertura comercial não tem apresentado os resultados prometidos
No final de abril, o ministro Chefe da Casa Civil, General Braga Neto, anunciou a intenção de realizar um grande pacote de investimentos em obras de infraestrutura até 2031, no valor de R$ 280 bilhões, dos quais R$ 30 bilhões sairiam dos cofres públicos e os restantes R$ 250 bilhões seriam obtidos por intermédio de concessões à iniciativa privada. Na coletiva de imprensa na qual o anúncio foi feito, notaram-se duas ausências. A primeira foi o detalhamento dos projetos que fariam parte do assim denominado “Plano Pró-Brasil”. Na verdade, a apresentação de Braga Neto se resumiu a sete lâminas de power point, em que absolutamente nada de substantivo foi apresentado. A segunda ausência foi a do ministro da Economia Paulo Guedes, quem, em tese, deveria encabeçar esse tipo de iniciativa.
Comentários de bastidores que circulam livremente em Brasília mostram a existência de disputa entre a equipe econômica do governo, liderada por Paulo Guedes, e a ala militar, encabeçada por Braga Neto. Essa disputa tem sua origem no fato de que a agenda de Paulo Guedes – Privatização, Reformas Estruturais e Abertura Comercial – não tem apresentado os resultados prometidos em termos de aceleração do crescimento econômico. Com efeito, apesar da aprovação de uma reforma da previdência muito mais profunda do que a pensada durante o governo Temer, o primeiro ano do governo Bolsonaro conseguiu a proeza de apresentar taxa de crescimento de apenas 1,1%, inferior à média obtida no governo Temer (1,2% entre 2017 e 2018) e muito abaixo da tendência de longo prazo de 2,81% a.a para o período 1980-2014.
Em segundo lugar, a equipe econômica do governo mostrou, nas primeiras semanas da crise do corona vírus, enorme dissonância cognitiva, recusando-se a tomar as medidas necessárias para atenuar os efeitos econômicos das medidas de distanciamento social; sendo assim atropelada por iniciativas que partiram do Congresso Nacional, como, por exemplo, o programa de renda emergencial. Esse comportamento contrastava com as medidas adotadas de forma célere pelos governos dos países desenvolvidos, os quais destinaram valores que somavam 20% do PIB (por exemplo, no caso da Espanha), para atenuar a queda abrupta do nível de atividade econômica.
Entre os economistas das mais diversas tendências de pensamento, formou-se um consenso de que a pandemia atualmente em curso deverá produzir a maior queda do nível de atividade econômica na história do capitalismo, superando em intensidade a Grande Depressão de 1929. Uma vez contida a pandemia e suspensas as medidas de distanciamento social, a recuperação econômica será extremamente lenta e dependerá, tal como na década de 1930, de forte atuação do Estado na forma de vultosos investimentos em infraestrutura. No caso dos países europeus, abre-se uma janela de oportunidade para realizar mudança estrutural importante, qual seja: a descarbonização da economia, com vistas à redução da emissão de CO² na atmosfera, de maneira a conter o fenômeno do aquecimento global, ameaça de longo prazo à sobrevivência da própria humanidade. O volume de investimentos necessários para essa mudança estrutural é gigantesco, constituindo-se, portanto, no vetor de demanda necessário para a recuperação das economias europeias no pós-pandemia.
O Brasil também terá de recorrer ao investimento público para se recuperar dos efeitos da crise atual. O ritmo anêmico de crescimento da economia brasileira anterior à pandemia já era prova cabal de que, sem aumento significativo do investimento público em infraestrutura, não é possível obter aceleração consistente do crescimento. A história brasileira mostra de forma muito clara que, no período de crescimento acelerado, entre as décadas de 1930 a 1980, o investimento público, direto ou por intermédio de empresas estatais, teve papel fundamental. No período pós-pandemia, os níveis elevados de desemprego e de ociosidade da capacidade produtiva vão inviabilizar qualquer retomada da atividade liderada pela demanda do setor privado.
Também é pouco provável que, dada a demanda por financiamento nos países europeus, os investidores internacionais se mostrem dispostos a financiar volume grande de projetos em infraestrutura no Brasil. A retomada do crescimento irá exigir um New Deal para a economia brasileira. O problema é que os militares não têm, ainda, a mais remota ideia de como fazer isso.
*José Luis Oreiro é professor Associado do Departamento de Economia da Universidade de Brasília e Pesquisador Nível IB do CNPq. E-mail: joreiro@unb.br. Página pessoal: www.joseluisoreiro.com.br.
RPD || Henrique Brandão: Aldir, nunca haverá outro igual
Nos versos de Aldir Blanc havia um sentimento vitalista de malícia, ironia, crítica social e de imagens brilhantes. Vítima da Covid-19, ele deixa mais de cem canções gravadas e uma música inédita
O que dizer de Aldir Blanc em um momento de profunda tristeza como esse? O bardo da Muda, na expressão de seu amigo Eduardo Goldemberg, merece todas as homenagens e elogios do mundo, pelo grande poeta, letrista e cronista que foi. Como compositor, é dos maiores que a MPB já teve. Um monstro, gênio da palavra.
Todos nós somos “reféns” de Aldir. Quem nunca sambou um samba seu? Quem nunca dançou, com a ponta torturante de um band-aid no calcanhar e embalado por uísque com guaraná, um bolero dele? O cara não era profeta, longe disso. No entanto, quem há de discordar que seus versos em “Querelas do Brasil”, música do distante ano de 1978, em parceria com Maurício Tapajós, haveriam de soar tão atuais quando dizem que “O Brazil não merece o Brasil / O Brazil,tá matando o Brasil”?
Aldir morreu de Covid-19, mas sua saúde, assim como a do país que ele tanto amava, foi sendo solapada pela tristeza galopante, com a velocidade de uma brigada de cavalaria, na descrença de que um horizonte mais generoso ainda fosse possível. O país preconizado por atual presidente psicopata, com sua perspectiva cada vez mais autoritária, está muito aquém do Brasil tão amado e cantado pelo poeta.
O Aldir mais conhecido de todos é o letrista de sucessos maravilhosos, tanto na parceria com João Bosco como com músicos do talento de Guinga, Moacyr Luz e Cristóvão Bastos, entre outros, responsável por sucessos que qualquer um assobia fácil pelas ruas, entoa nas mesas dos bares ou ouve com frequência nas rodas de samba. É aquela música que o cidadão comum conhece, canta inteira, mas, muitas vezes, nem sabe quem é o autor. Isso é privilégio de poucos, reservado somente aos maiores, escolhidos a dedo pelo que o destino lhe reservou. Coisa de Caymmi, Luiz Gonzaga, Noel, Vinícius...
Mas tem um outro Aldir, menos conhecido do público, que é tão talentoso quanto o letrista. É o cronista. Sua verve foi exercida, inicialmente, no Pasquim, semanário de humor de saudosa memória, onde jornalistas e colaboradores do quilate de Jaguar, Millôr, Ziraldo, Sergio Cabral, Ivan Lessa e Sergio Augusto esculachavam a ditadura. A colaboração profícua rendeu seu primeiro livro, Rua dos Artistas e Arredores, reunião das crônicas publicadas no tabloide. A primeira edição é de 1978.
A Rua dos Artistas, com este belo nome, fica em Vila Isabel. Aldir morou nela quando garoto, na casa dos avós. Fez daquele microcosmo do subúrbio carioca, a partir de suas lembranças e de sua perspicaz imaginação, crônicas que dialogam com o mundo, esteja você no Rio, Pequim ou Budapeste. Relendo-as, é impossível conter o riso. Os dramas, casos, personagens e apelidos de cada um, que vivem na fictícia, porém muito real, comunidade “vilaisabetana”, misturam grosseria, poesia e generosidade, na proporção exata que só Aldir sabia dosar. Como cronista, assim como letrista, também foi dos grandes, no nível de João do Rio, Lima Barreto, Sergio Porto.
Além do livro, as crônicas geraram um filhote. Foi do nome de um dos personagens de Aldir, o Esmeraldo “Simpatia é Quase Amor”, que, em 1994, leitor de seu livro, sugeri a um grupo de amigos o nome para um bloco de carnaval que pretendíamos fundar. Aldir acabou virando o patrono do bloco. Como era de seu feitio, sempre se esquivou das nossas inúmeras tentativas de homenageá-lo. Participou de alguns desfiles, sempre discretamente. Chegava sem avisar e ia para o meio da bateria tocar seu tamborim. Quando o descobríamos já era tarde, o bloco estava na rua.
Desde então, há 36 carnavais que, sob a benção de Aldir, o “Simpatia” desfila pela orla de Ipanema. Por ocasião do aniversário de 15 anos, gravamos um CD com todos os sambas cantados em nossos cortejos. Dessa vez, fruto de sua benevolência, quem prestou homenagem ao bloco foi o Aldir, ao gravar um depoimento que abre o CD. Diz ele: “O bloco da minha mocidade foi o ‘Bafo da Onça’, de saudosa memória, do Catumbi, Estácio e adjacências. Mas nem mesmo o ‘Bafo’, com suas rainhas e princesas de polução noturna, me deu emoção tão forte como o ‘Simpatia é Quase Amor’. Criei em livro o ‘Simpatia’ para proteger a identidade de um primo do subúrbio (...). É bonito ver um primo da Zona Norte virar bloco na Zona Sul. Com este gesto simpático, saiu ganhando São Sebastião do Rio de Janeiro. No ‘Simpatia’, onde minhas filhas saíram pequenas, hoje, 15 anos depois, desfilam meus netos”. Esse depoimento enche a todos nós, fundadores e foliões do bloco, de imenso orgulho.
Segue em paz, Aldir.
* Henrique Brandão é jornalista e fundador do bloco “Simpatia é Quase Amor”.
Aforismas do gênio Aldir (alguns do Rua dos Artista e Arredores, Mórula, 2016).
“Se você está pensando que o tijucano é um estado de espírito, aqui ó! O tijucano é um estado de sítio”“Alto funcionário da Polícia Federal lembra a seus subordinados em Brasília: o piso é a prova de fogo, o preso, não”
‘Na inauguração do novo Distrito Policial, coube ao delegado dar o pontapé inicial”
“No Hipódromo da Gávea, um garanhão traçou uma égua, depois de uma... informação de cocheira”
“No Jardim Zoológico, o avestruz concretista, depois de uma bimbada, suspira: Pô, Ema...”
“Eu nunca marco derrota do meu time na Loteria. Me sinto um traidor”
“O amor tanto se mete a edredon, que acaba velha colcha de retalhos”
“Querido diário, hoje foi um dia incrível. Nem te conto”
RPD || André Amado: O imortal
Leitura de alto nível, que fará esquecer as agruras da quarentena, recomenda André Amado, que nos brinda com uma análise da mais nova obra do embaixador brasileiro no México, Mauricio Lyrio
É longa e estreita a relação entre funcionários do serviço diplomático brasileiro e a Academia Brasileira de Letras (ABL). No curso da história, nada menos do que doze diplomatas ocuparam cadeiras na prestigiosa academia.[1] No momento, sempre em um universo de 40 acadêmicos, são cinco: Sergio Paulo Rouanet, Alberto da Costa e Silva, Geraldo Holanda Cavalcanti, Evaldo Cabral de Melo e João Almino.
Quando recebi O imortal de nosso embaixador no México, Mauricio Lyrio, confesso que temi tratar-se de uma obra dedicada a explorar a tradição acima mencionada, o que, convenhamos, não é tema exatamente palpitante, para dizer um mínimo.
Conhecendo, no entanto, o autor como conhecia – desde os tempos em que buscava ideias frescas sobre como dirigir o Instituto Rio Branco, honrosa função para a qual acabara de ser convidado –, não pude deixar de intuir que Mauricio teria coisas mais inteligentes a dizer, e de maneira tão brilhante quanto as que me passou lá trás, em 1995.
Não me enganei.
O imortal tem como personagem central Cassio Haddames, um embaixador lotado em Brasília sem maior brilho profissional, mas que é eleito pela Academia Sueca para receber o Prêmio Nobel de Literatura, tornando-se o primeiro brasileiro a ser contemplado com o cobiçado galardão. Sua candidatura fora proposta pelo ministro das Relações Exteriores, em exposição de motivos, dirigida ao presidente da República, iniciativa que incluía – na verdade, tinha como objetivo maior – vender uma segunda candidatura, a de Sua Excelência o mais alto mandatário do pais ao Prêmio Nobel da Paz. O texto desse expediente, cuja leitura já vale a do livro, reproduz na ficção um exemplo frequente na Esplanada dos Ministérios, de como altos membros da burocracia tentam chaleirar o ego de seus superiores, apostando em que ninguém vira o rosto para mimos faiscantes.
Esqueceram-se de combinar com os suecos, que aceitaram conceder o Nobel de Literatura ao embaixador, mas passaram solenemente ao largo do pleito presidencial.
De sua parte, Haddames estava até certo ponto constrangido pela concessão do Prêmio. Tal como não se cansava de repetir um despeitado jornalista da terrinha, o próprio Cassio Haddames também tinha dúvidas quanto à justiça da honraria recebida. Ele apenas escrevera três romances, que somavam, juntos, 954 páginas. Daria para justificar a homenagem maiúscula da Academia Sueca? Tanto mais na comparação com a produção literária de um Bandeira, Drummond, Guimarães Rosa, João Cabral, entre tantos outros, jamais considerados por Estocolmo.
Em meio a essa crise de consciência, duas surpresas aguardariam o agora ilustrérrimo embaixador em seu retorno ao Brasil. Primeira, ainda no aeroporto, um comitê de recepção desfraldava faixa monumental com dizeres em letras garrafais: O NOBEL É NOSSO! E a segunda foi de início uma sondagem, que rápido ganhou foros de irrecusável gestão, orquestrada por raposas da cena política brasileira, para que Cassio Haddames aceitasse disputar as próximas eleições a presidente da República.
Fácil de imaginar, a vida de Haddames passou por momentos de turbulência, estupefação e angústia. O autor não nomeia esses sentimentos. Cabe ao leitor identificar, em meio aos múltiplos incidentes descritos no livro, que se alternam com capítulos, de um lado, cobrindo a trajetória profissional do embaixador/presidente por Nova Iorque, Paris e Beijing e, de outro, os inevitáveis desafios das novas funções, explorando com humor os corredores do poder em Brasília (Não hesito em ressaltar a construção e o palavreado do telegrama que o embaixador do Brasil em Estocolmo envia ao Itamaraty sobre o discurso de posse de Haddames na cerimônia de concessão do prêmio, uma peça antológica do que nós, diplomatas, chamamos de “itamaratês”, código que nem por isso deixará de ser decifrado por todos que conhecem o mundo da política).
Destaque especial merece a correspondência de Haddames com seu filho André, por intermédio da qual o embaixador compartilha sua visão de mundo – não raro, suas culpas como pai ausente -, atualizando o leitor quanto ao perfil emocional e psicológico do personagem.
Há um momento no livro em que o leitor se pergunta: e daí? Há um romance entre Haddames e uma diplomata argentina, que parece transformar a mesmice da vida do personagem, que, somos informados, era divorciado. Mas, ainda assim, a relação não promete galvanizar a trama. À frente do Executivo, o inexperiente Chefe de Estado não se sai nada mal. Voltamos à pergunta: e daí?
E daí é quando o grande escritor tira o tapete do leitor e escolhe desfecho surpreendente, tecido de maneira magistral. O resumo da história é que vocês não podem deixar de ler O imortal. Garanto: é leitura de alto nível, que fará esquecer as agruras da quarentena.
[1] Lista por ordem cronológica de eleição: Joaquim Nabuco, Aluísio Azevedo, Domício da Gama, Oliveira Lima, Ribeiro Couto, Gilberto Amado, João Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Antônio Houaiss, José Guilherme Merchior, Sergio Corrêa da Costa e Affonso Arinos de Mello Franco.
*André Amado é diretor da Revista Política Democrática Online
RPD || Adriana Novaes: Filosofar com Hannah Arendt em tempos de Covid-19
Em tempos em que o novo coronavírus torna pior o que era ruim e faz com que os problemas fiquem ainda mais dramáticos, a filosofia atenua a aflição e nos socorre, avalia Adriana Novaes em seu artigo
O escritor argentino Ernesto Sabato escreveu que quase nunca acontecem coisas. No início deste ano de 2020, uma coisa aconteceu. Uma nova doença transformou nosso cotidiano e instalou a incerteza. São tempos graves. Uma situação-limite que desafia os cientistas, os profissionais de saúde, os economistas, os políticos, os educadores. Ninguém está livre de sua ameaça e do impacto das mudanças que provocou. Já vivíamos em um período tenso, crítico, instável e incerto. A Covid-19, o Sars-Covid-2, o novo corona vírus veio para tornar o que era ruim ainda mais exposto, fazer os problemas ficarem ainda mais dramáticos, como a imensa desigualdade de nosso país.
É nesses momentos de incerteza que a filosofia nos socorre. Não porque ela dê respostas definitivas, nem mesmo porque atenue a aflição. De modo algum. Ela é o despertar e a investigação acerca do que tem significado, a paralisação do espanto e a exigência da busca por possibilidades novas. É nas situações-limite que a filosofia vem em nosso auxílio, é nos momentos graves que somos chacoalhados e instados a nos perguntar sobre as coisas, a suspender certezas, a rever posições, a reconsiderar valores e referências. O filosofar é provocado pelas experiências que ativam de modo intenso nossa vida do espírito.
A vida do espírito foi examinada pela filósofa Hannah Arendt no final de sua vida, a última etapa de uma trajetória intelectual marcada pelo esforço de compreensão do fenômeno mais importante e traumático do século XX, o totalitarismo, e o novo tipo de mal que surgiu nele, a banalidade do mal. Dedicada ao estudo da política, dos elementos constitutivos históricos dos regimes totalitários, das revoluções, dos desdobramentos do colapso moral ocorrido na Segunda Guerra Mundial, Arendt se viu desafiada a examinar as atividades do espírito, suas concepções ao longo da história da filosofia, e resgatar seus significados. São os novos contextos emergenciais os que mais exigem de nossa vida espiritual.
Essas atividades são espirituais porque não correspondem apenas a estruturas de nossa mente, mas são capacidades em inter-relação dinâmica, habilidades que nos dão perspectivas de viver e dotar de sentido, criar e escolher, aquilo que há de mais complexo e extraordinário em nossa condição humana. Essas atividades – o pensar, o querer e o julgar – são faculdades que precisamos exercitar para agirmos de acordo com a potência de nossa humanidade.
Pensar é o exercício que fazemos ao nos retirarmos do mundo, no distanciamento, agora forçado e, às vezes, não tão só. Mas poder parar e pensar é fundamental para nos darmos conta do que estamos fazendo, nossas ações e caminhos na vida e, especialmente para Arendt, do modo pelo qual exercemos nossa vida política. Isso significa examinar como agimos em nossa vida conjunta, enquanto uma comunidade, uma nação. Pensar é examinar-se, é conversar consigo mesmo e perguntar-se sobre o sentido real das decisões que tomamos, das escolhas que fazemos. Essas escolhas são ações de nossa capacidade de julgar.
Julgar, para Arendt, é um grande desafio porque é encarar os problemas a partir dos pontos de vista das outras pessoas. É jamais colocar os próprios interesses em primeiro lugar, mas, ao contrário, dispor-se aos outros. Porque cada um de nós é único, vê a realidade de modo único. E a realidade é tão ampla que nunca conseguimos dar conta dela. Ela é irredutível ao pensamento. É complexa demais. Por isso, precisamos do esforço da abstração de que somos capazes pelo pensamento – o que significa lidar em nossa mente com os invisíveis, os significados das coisas – e sempre nos colocarmos no lugar dos outros. É pela consideração da realidade pelo maior número possível de pontos de vista – pela consideração de vários olhares únicos como o nosso – que podemos compreender melhor o que está acontecendo. Assim, fazemos melhores escolhas.
A tentativa de compreender é muito difícil, como escreveu Eric Hobsbawm sobre o papel do historiador no exame do violentíssimo século XX. Mas, para Arendt, compreender é a tarefa do pensamento, de nossa vida do espírito, o que temos de mais extraordinário.
Outra atividade do espírito é o querer, a vontade como ímpeto para criarmos coisas novas. E criar o novo é acolher a imprevisibilidade que sempre assusta. Nesses nossos tempos, algo que até foi previsto, mas para o que poucos deram atenção, fez o mundo parar. Um novo vírus, um desafio para médicos e cientistas, também escancarou o desastre de uma civilização estruturada pela alta tecnologia que ainda precisa conviver com toda sorte de absurdos como terraplanismo, crença em remédios milagrosos, variadas bobagens pseudocientíficas, mas também a perigosa negação da eficácia das vacinas. As falsas soluções e as mentirosas explicações são usadas por governos que encolheram e se embotaram como meras burocracias, como se nações pudessem ser equiparadas a empresas, uma deformação antipolítica que ameaça de modo ainda mais pernicioso a liberdade e a civilidade. Essa negação da política compromete a consciência e a plena atuação conjunta dos cidadãos, o envolvimento responsável com a própria comunidade, a nação da qual se faz parte.
Resgatar a dignidade da política como a esfera de exercício de nossas atividades do espírito, como âmbito do discurso que exige nossa responsabilidade, é um desafio que a obra de Hannah Arendt nos apresenta e ao qual a situação-limite em que vivemos nos lança. É preciso encarar a realidade, por mais difícil e terrível que seja. Para enfrentá-la, temos o cultivo e o exercício de nossa vida do espírito.
* Adriana Novaes é pós-doutoranda do Departamento de Filosofia da FFLCH-USP.
Bruno Carazza: Todos os homens do presidente
O vídeo da reunião ministerial expôs o governo como ele é
Richard Nixon certamente não imaginou que sua decisão de instalar microfones para gravar secretamente as conversas no Salão Oval da Casa Branca o deixaria marcado como o primeiro presidente americano a renunciar ao mandato. Entre fevereiro de 1971 e julho de 1973 foram mais de 3.500 horas de registros que envolveram assuntos de Estado, como a guerra do Vietnã, suas visitas à China e à União Soviética e, claro, o escândalo que causou sua ruína: o caso Watergate.
A existência do sistema de escuta no gabinete presidencial foi revelada por um assessor perante a comissão do Senado que investigava o envolvimento de Nixon na instalação de grampos telefônicos ilegais no escritório do partido Democrata nas eleições de 1972. A partir daí seguiu-se uma intensa batalha judicial, com o presidente se recusando a entregar as fitas. Na sua defesa, Nixon alegava razões de segurança nacional e recorria ao princípio da separação de Poderes para manter o sigilo sobre as gravações.
O ministro Celso de Mello recorreu ao caso United States v. Nixon para embasar sua decisão de tornar públicos os vídeos da reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto em 22/04/2020. Por meio do seu famoso sistema de negritos, sublinhados e itálicos, o decano do STF deu ênfase ao posicionamento da Suprema Corte americana, que determinou que as fitas de Nixon fossem entregues, pois o chefe do Poder Executivo não tem o privilégio absoluto de estar acima da lei e ficar imune à produção de provas num processo criminal.
Nas últimas décadas capítulos importantes da história brasileira vêm sendo contados por conversas telefônicas, escutas ambientes e vídeos obtidos ilegalmente ou com a autorização da Justiça. De nebulosas transações durante o processo de privatização no governo FHC às articulações entre Dilma e Lula para nomeá-lo ministro e evitar sua prisão, passando pelas propostas indecentes feitas pelo empresário Joesley Batista a Michel Temer, as vísceras da República brasileira vêm sendo expostas rotineiramente em alto e bom som.
Na sexta-feira passada o Brasil parou para assistir ao vídeo da reunião de Bolsonaro. A contar pela repercussão nas redes sociais, o resultado foi plenamente favorável ao presidente. A íntegra da gravação não revelou muito mais do que já circulava na imprensa a respeito da suposta interferência do chefe do Poder Executivo em investigações conduzidas pela Polícia Federal. Sem “bala de prata”, os apoiadores de Bolsonaro cantaram vitória contra o antigo aliado Sergio Moro e todos que torciam pelo aparecimento de evidências robustas contra seu clã.
Todavia, em meio às dezenas de palavrões proferidas na reunião, o vídeo apresentou ao público um rico panorama do funcionamento interno da cúpula governamental. Pudemos observar de camarote que há um racha na equipe ministerial em relação às medidas necessárias para reativar a economia após a crise da covid-19: Paulo Guedes criticou de sonhador e político o plano Pró-Brasil, elaborado por Braga Netto (Casa Civil) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), comparando-o à agenda de Dilma e Lula. Em outro momento, a ministra Damares Alves chamou a atenção para os riscos de lavagem de dinheiro e classificou como “pacto com o diabo” a proposta de Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) de atrair para o país empreendimentos que integrem hotéis e cassinos.
A gravação ainda revela Abraham Weintraub admitindo sua militância política no exercício do cargo e defendendo “botar esses vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF”. Mais adiante, Paulo Guedes fez coro ao ministro da Educação, deixando clara sua visão sobre a articulação institucional do governo: “enquanto eles estiverem no trilho conosco, no caminho fazendo as reformas que nós prometemos, nós tamo junto. Na hora que o cara soltou a mão e passou pro lado de lá, a gente deixa o cara ir sozinho e vai procurar outra conversa, em outro lugar”.
A decisão do ministro Celso de Mello de liberar o acesso à reunião ministerial consistiu, para muitos, numa desnecessária intervenção do Poder Judiciário, expondo ao público discussões internas travadas entre o presidente e seus principais auxiliares em torno de medidas governamentais em estudo ou suas percepções sobre a situação política do país.
Em 1974, logo após a renúncia de Richard Nixon, o Congresso americano determinou que suas fitas secretas fossem colocadas em custódia, de forma a evitar a sua destruição. Posteriormente, em 1978, foi aprovado o Presidential Records Act, uma lei que estabeleceu que todas as gravações em áudio e vídeo realizadas pela autoridade máxima dos EUA fossem consideradas de propriedade pública, sendo colocadas à disposição de qualquer interessado ao final do mandato.
Não há dúvidas de que é de interesse geral da sociedade conhecer a posição do ministro da Economia sobre a privatização do Banco do Brasil ou a defesa do ministro do Meio Ambiente de aproveitar o momento de comoção causado pela epidemia de coronavírus para aprovar “de baciada” a desregulamentação das normas ambientais.
Numa reunião em que ministros e presidentes de bancos estatais criticaram duramente o controle externo realizado pelo Tribunal de Contas da União - sob o silêncio constrangedor do chefe da CGU - fica cada vez mais clara a importância de se submeter ao escrutínio da sociedade não apenas os documentos internos ou a agenda pública das autoridades, mas também o que elas discutem sob portas fechadas e longe dos holofotes da imprensa. Esse tipo de informação é fundamental, inclusive, para apurar se houve dolo ou erro grosseiro dos agentes públicos em suas decisões (vide MP nº 966/2020).
Assim como o Watergate aumentou a transparência no governo americano, o vídeo da reunião ministerial de Bolsonaro deveria estimular a adoção de uma legislação mais abrangente de gravação e divulgação futura das reuniões governamentais. Afinal, é muito melhor conhecer a história do país de forma institucionalizada do que por meio de grampos, vazamentos à imprensa ou decisões judiciais esporádicas.
*Bruno Carazza é mestre em economia, doutor em direito e autor de “Dinheiro, Eleições e Poder: as engrenagens do sistema político brasileiro”.